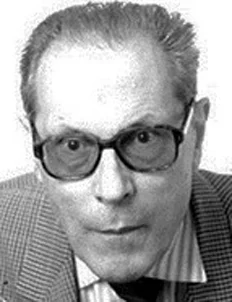1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 8 de Maio de 2024:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 8 de Maio de 2024:Queridos amigos,
Estão aqui muitos anos de aturado trabalho, investigação de longo fôlego que marcou a diferença na historiografia ao pôr o acento tónico na luta na Guiné Portuguesa que se iria constituir um fator principal do direito da descolonização e do próprio 25 de Abril. Todo o processo da independência da Guiné-Bissau tem subjacente a intervenção genial de Amílcar Cabral pela sua habilidade diplomática e por ter encontrado uma estratégia adequada conducente à declaração unilateral da independência. Acresce que o autor observa com extremo cuidado como este processo da independência acabou por definir os termos e os limites da descolonização portuguesa. Foi este o grande avanço e o virar de página que António Duarte Silva imprimiu neste ramo da historiografia.
Um abraço do
Mário
A independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa (3)
Mário Beja Santos
A diferentes títulos, este primeiro livro de António Duarte Silva constituiu uma singularidade nos termos da visão de como se processara a independência da Guiné-Bissau da colonização portuguesa. A historiografia da época (acima de tudo, a de caráter internacional) centrava-se no pensamento de Cabral e na forma como procedera estrategicamente na luta armada, em caso algum, toda essa vasta bibliografia jamais pusera acento tónico no que havia de revolucionário no processo jurídico que fora montado para a declaração unilateral da independência, por exemplo, matéria que o autor disseca em profundidade. Obviamente que não foge a dar-nos a moldura da ascensão do nacionalismo guineense, o papel que tiveram as decisões tomadas na reunião em Bissau em 1959, como se preparou a luta armada, a questão da unidade Guiné-Cabo Verde, a ligação do processo independentista guineense com o de outras colónias quando outros movimentos emancipalistas de colónias portuguesas africanas.
Em consequência, o ponto alto desta laboriosa investigação é desenhado pela originalidade das estratégias conducentes à declaração unilateral, não descurando que pelo caminho houve tentativas de negociação que pudessem conduzir à autodeterminação da colónia. Vimos no texto anterior o essencial da constituição do Boé, as reproduções da declaração de independência foram enormes, em pouco mais de 80 países reconheceram a República da Guiné-Bissau.
Mas há que atender a uma outra dimensão contemporânea à aceitação e reconhecimento do novo Estado independente, o caminho que nos conduz ao 25 de Abril, a existência do MFA da Guiné. Com o 25 de Abril, como o autor observa aprofundadamente houve um percurso por vezes muito acidentado nas negociações, isto a despeito de os Capitães de Abril reconhecerem que se impunha ratificar a existência de um novo Estado, partiu-se do cessar-fogo, de conversações em Londres e em Argel, perante o insustentável de não haver vontade para combater o próprio Spínola, como estribado do Conselho de Estado, promulga legislação que abre as portas à autodeterminação das colónias, a partir daí abria-se uma larga clareira para se chegar ao Acordo de Argel, a lei 7/77, de 27 de julho, fora determinante. Depois a Guiné-Bissau é admitida na ONU, concluído o Acordo de Argel que, como o autor releva, teve um papel impulsionador para outras independências.
Para os estudiosos, a quarta parte desta investigação de referência, dedicada à formação do Estado, é de consulta obrigatória, analisa os textos da formação do Estado Guiné-Bissau, é um exaustivo levantamento de caráter jurídico em que o autor conclui dizendo que “A Guiné-Bissau é, quanto aos modos da formação do Estado, um Estado criado por descolonização mediante uma declaração unilateral de independência. Em primeiro lugar, porque a proclamação de independência se fundou juridicamente no direito à autodeterminação e independência dos povos coloniais e, à data da sua formação, a Guiné-Bissau já não era, face ao direito internacional vigente, parte do território português. Depois, porque a luta armada de libertação nacional se tornara legítima quanto a repressão do exercício do direito à autodeterminação correspondia a um uso da força contrário à Carta da ONU e, mais ainda, porque o PAIGC fora reconhecido como único, autêntico e legítimo representante do povo.”
Esta apreciação inovadora carreada pelo autor prossegue com a sua leitura do direito à autodeterminação, leitura que desagua no direito de descolonização em que se formou a Guiné-Bissau pois o autor diz que a formação da Guiné-Bissau foi um acontecimento excecional, constituindo uma etapa importante internacional da descolonização, e passa-se revista a todo o processo histórico vivenciado pelos movimentos de libertação das colónias portuguesas, o estabelecimento de contactos do PAIGC com a ONU, a justificação do recurso à guerra, e, por fim, as bases jurídicas do reconhecimento da Guiné-Bissau, um processo que não foi linear para todas as independências das colónias portuguesas. Os anexos do trabalho incluem peças fundamentais: relatório da reunião do PAI, de 19 de setembro de 1959; proclamação do Estado da Guiné-Bissau; Constituição da República da Guiné-Bissau, aprovada em 24 de setembro de 1973; as leis portuguesas conducentes ao reconhecimento do Estado soberano da Guiné-Bissau; a legislação guineense sobre a orgânica do Estado, a atribuição a Amílcar Cabral do título de Fundador da Nacionalidade; a resolução da ONU de 2 de novembro de 1973 que alude à presença ilegal de Portugal na Guiné-Bissau; a moção do MFA da Guiné de 1 de julho de 1974; o texto do Acordo de Argel e respetivo anexo.
Para a época, o autor revelava a mais extensa bibliografia relativa à colonização, guerra colonial e luta de libertação nacional, bem como a bibliografia sobre o processo de independência da Guiné-Bissau e a sua relação com a descolonização portuguesa.
Dá-se como provado o que o autor induz na sua escrita da contracapa da obra: uma perspetiva multidisciplinar, abordando as vertentes histórica, jurídica e política quer nos planos interno, colonial e internacional; trata das características locais do colonialismo português e do desenvolvimento do nacionalismo guineense; recorre a fontes primárias, documentos inéditos e alguns testemunhos orais, apoia-se numa bibliografia extensa e pesquisas em múltiplos centros de documentação.
Sujeito às rugas do tempo e às correções suscitadas por novas fontes e novos olhares sobre este complexo caminho que levou à independência da Guiné-Bissau, mantém-se com um estudo admirável que beneficiará toda e qualquer investigação em torno da presença portuguesa e da criação do Estado soberano da Guiné-Bissau.
_____________
Notas do editor:
Post anterior de 2 de junho de 2025 > Guiné 61/74 - P26875: Notas de leitura (1805): "A Independência da Guiné-Bissau e a Descolonização Portuguesa", por António Duarte Silva; Afrontamento, 1997 (2) (Mário Beja Santos)
Último post da série de 8 de junho de 2025 > Guiné 61/74 - P26898: Notas de leitura (1806): "Gil Eanes: o anjo do mar", de João David Batel Marques (Viana do Castelo: Fundação Gil Eanes, 2019, il, 132 pp.) - Parte III: O orgulho da ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo)