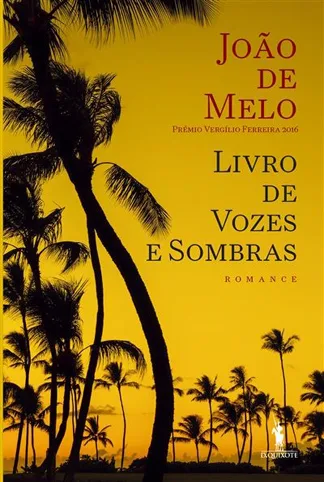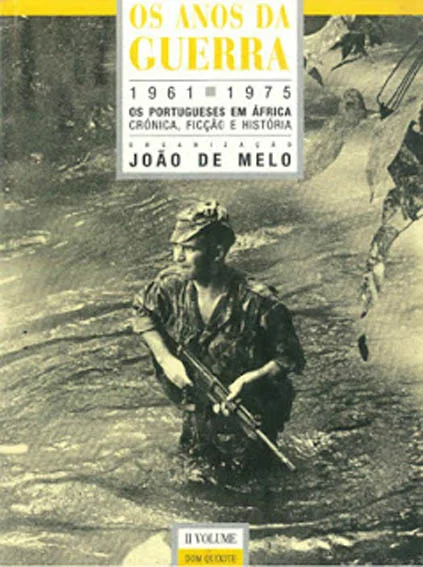Guiné > Zona Sul > Região de Cumbijã > Cumbijã > BCAV 8531, 1972/74) > O destacamento (ou melhor..."acampamento") do Cumbijã.Guiné > Zona Sul > Região de Tombali > CCAV 8531 (Cumbijã, 1972/74) > Tabanca de Nhacobá, até então considerada "área libertada do PAIGC", ocupada num “golpe de mão” pela CCAV 8351 no dia 17 de maio 1973 no decurso da operação Balanço Final (17 a 23 maio 1973). Na foto, o Joaquim Costa. A cabra Joana era natural daqui, foi um dos "despojos de guerra", levados para o Cumbijã. A aldeia foi arrasada pelos "bulldozers" da engenharia militar e a população realojada num reordenamento.
Guiné > Zona Sul > Região de Cumbijã > Cumbijã > BCAV 8531, 1972/74) > O destacamento (ou melhor..."acampamento") do Cumbijã.Guiné > Zona Sul > Região de Tombali > CCAV 8531 (Cumbijã, 1972/74) > Tabanca de Nhacobá, até então considerada "área libertada do PAIGC", ocupada num “golpe de mão” pela CCAV 8351 no dia 17 de maio 1973 no decurso da operação Balanço Final (17 a 23 maio 1973). Na foto, o Joaquim Costa. A cabra Joana era natural daqui, foi um dos "despojos de guerra", levados para o Cumbijã. A aldeia foi arrasada pelos "bulldozers" da engenharia militar e a população realojada num reordenamento.
Três Tigres do Cumbijã: oo centro, o Joaquim Costa; à esquerda, o João Melo, ex-1º cabo cripto, das CCAV 8351 (Cumbijá, 1973/74); à direita, o Mendes (que veio de propósito da zona onde vive, na Serra da Estrela); um quarto Tigre, o Gouveia, não ficou nesta foto...
 |
| * O "Tigre" Joaquim Costa |
- Portugal não estava oficialmente em guerra contra nenhum outro Estado soberano ou potência estrangeira;
- não cortou relações diplomáticas com ninguém (nem com Cuba que mandou cubanos poara a Guiné para dar uma "ajudinha internacionalista" ao senhor engenheiro!);
- uns diziam que lutávamos contra o "terrorismo", outros proclamavam que estávamos ali a "defender a civilização cristã e ocidental";
- outros ainda, mais cínicos e calculistas, desvalorizavam aquela "drôle de guerre", chamando-a "guerra de baixa intensidade...
Guiné > Região de Tombali > Cumbijã > CCAV 8351 > O encontro, não muito amistoso, da cabra Joana que trouxemos de Nhacobá no dia da operação Balanço Final, com o “rei” do destacamento do Cumbijã, o cão rafeiro Tigre... Com o tempo lá foram partilhando o protagonismo. Foto: cortesia do Carlos Machado.
Foto (e legenda): © Joaquim Costa (2021). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]
Aqui viviam, desavindas, ao que parece, por causa de uma bandeira.
Uma era a família IN, que vivia numa bonita bolanha, nas margens de um bucólico rio, com grandes plantações de arroz e lindas palmeiras, de seu nome Nhacobá.
A outra era a família Tigre, que vivia todos os dias com os olhos e a alma bem longe dali, que habitava uma aldeia próxima, que ela própria construiu, de seu nome Cumbijã, que odiou e... quase amou.
Os arrufos entre estas duas famílias eram constantes, com investidas ousadas a casa uns do outros, tentando a sua expulsão da região.
Entretidos nestes arrufos, os senhores da guerra (especialistas do pionés no mapa), decidiram (sem consultar ninguém, ) que os Tigres investiriam em força sobre a família IN, impondo a sua lei.
Assim foi, mas com perdas irreparáveis e inocentes de um lado e do outro.
Como era habitual, nas operações de alto risco, quase todos os soldados beijavam, à saída, o seu amuleto da sorte (o seu Anjo da Guarda): a foto da namorada ou dos pais, da(s) madrinha(s) de guerra, um santo devoto, uma folha arrancada à revista inglesa Penthouse e outros o seu inseparável mapa (mapa operações pontos de artilharia), que guardavam num dos bolsos do camuflado mais perto do coração.
Como é comum, desde os primórdios, quem vence tem direito aos despojos, neste caso: arroz, cigarros, fósforos cubanos e livros escolares (impressos na Suécia) com mensagens estilo Estado Novo (mas cujos heróis eram outros) e... uma cabra que chamou a atenção pela coragem demonstrada na defesa da sua aldeia, levantando as suas patas aos invasores e mostrando assim a sua indignação.
Esta irredutível cabra, como passou a fazer parte do despojos, acompanhou os Tigres de volta a casa.
Aqui quem reinava era o cão rafeiro Tigre, pelo que, no dia da chegada a cabra foi apresentada ao rei. Não foi um encontro fácil e só não se chegou a vias de facto dada a pronta atuação da guarda pretoriana.
Esta irredutível cabra, pela sua coragem e ousadia, ganhou a simpatia de toda a população, ou quase, já que em todo o rebanho há sempre a sua ovelha ronhosa!
Tinha esta irreverente cabra, a quem foi dado o nome de Joana, cinco predadores na aldeia:
- o rei Tigre que nunca aceitou partilhar o protagonismo com este estranho animal, contudo, neste caso, não se sabia quem era o predador de quem;
- o vagomestre, que tratava dos comes & bebes, que fitava a Joana com os olhos vermelhos de quem já a está a ver a ser esfolada e transformada em estilhaços de carne (coisa rara na aldeia) para o arroz;
- os três agricultores improváveis do Cumbijã que, fartos de ração de combate, construíram hortinhas em pleno teatro de guerra.
A cabra Joana, tal como a burra no Alentejo, não resistia às viçosas alfaces, saltando a cerca das três hortinhas, lambuzando-se com a frescura das mesmas, com a compreensível indignação dos proprietários das plantações.
Na defesa da Joana passou a haver, 24 sobre 24 horas, um guarda-costas, armado de G3 com bala na câmara.
Só assim é que a mesma resistiu até ao dia em que os Tigres abandonaram a sua casa, no Cumbijã, a caminho do Bissau, para apanhar o avião que os levaria finalmente à sua terra de origem.
De um momento para o outro, sem que ninguém o decretasse, cessaram as hostilidades e as duas famílias promoverem festas conjuntas trocando prendas e abraços. Parecia que da noite para o dia o mundo tinha virado do avesso. Prova que a guerra não é solução para nada. Se quem a decreta fosse obrigado a combater nas linhas da frente, o mundo viveria eternamente em paz.
Estas maravilhosas criaturas, sempre que um grupo saía para o mato saltavam alegres e divertidas como desejando boa sorte. No regresso logo corriam para o cavalo de frisa (a porta de entrada) entusiasmadas com a sua chegada.
No dia em que definitivamente os Tigres abandonaram o Cumbijã, assistiram em silêncio a todo o seu frenesim e entusiasmo, como pressentindo o que estava para acontecer. Ao saírem do cavalo de frisa (agora porta de saída) em grande algazarra, estas ficaram imóveis, com o cão Tigre produzindo um ruído que parecia de choro e a cabra Joana levantando ligeiramente uma pata, vendo-nos desaparecer por entre a nuvem de pó vermelho da picada, como que dizendo: "E nós?"...
Não se sabe o que aconteceu depois, mas teme-se que esta história, pelos relatos que foram chegando, não teve um final feliz...
Ao que parece, nem os macacos se salvaram!..
Último poste da série > 8 de junho de 2022 > Guiné 61/74 - P23336: Paz & Guerra: memórias de um Tigre do Cumbijã (Joaquim Costa, ex-Furriel mil arm pes inf, CCAV 8351, 1972/74) - Parte XXVII: O "meu" regresso à Guiné (3): Os Bijagós que muitos de nós nunca vimos - II (e última) Parte