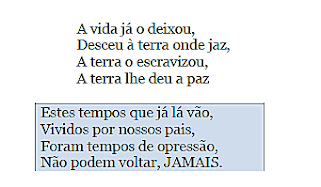(Molhela: almofada, geralmente composta de couro, palha e estopa, onde assenta a canga que junge os bois,e que é colocada no cachaço, protegendo-o do atrito da canga).

Marco de Canaveses > circa anos 40 do séc. XX > A vinha de enforcado, a vindima (com recurso a escadas altas), os grandes cestos de verga à cabeça, as mulheres e os seus "cantaréus" (canções de trabalho, cantadas a 3 vozes, exclusivamente femininas, nas "serviçadas", como a vindima, as desfolhadas, etc.)
Quinta de Candoz > A matança do porco (c. 1975/80): uma cena que Bruxelas conseguiu banir definitivamente dos nossos campos e aldeias (mas não da nossa memória) em nome de uma conceção ( fundamentalista, dizem os críticos) da saúde pública e de uma Europa securitária, globalizada, normalizada e tecnocrática, matando a etnodiversidade...
Marco de Canaveses > c. 1975/80> O "toirinho" (sic), vendido na feira do Marco, uma das poucas fontes de receita dos "caseiros" (ou "rendeiros", tínhamos um em Candoz, nessa altura), para além do vinho e do milho... Este era um boi de trabalho, não de engorda; a junta de bois puxava a charrua de ferro, e trazia do "monte" uma carrada de lenha. Por sua vez, o porco era o governinho da patroa (que o guardava, com engenho e arte, na "salgadeira" ou no "fumeiro").
Marco de Canaveses > Paredes de Viadores > Candoz > Quinta de Candoz > O que resta do velho carros de bois...Foi caindo aos pedaços, já com uma bela idade...
Hoje são uma série delas (se eu partir de Alfragide): CRIL A8, A17, A1,CREP, A4... Recorde-se que a autoestrada A1 só ficou completamente concluída em 1991, ligando Lisboa ao Porto. Já a autoestrada A4, que liga o Porto a Amarante, foi concluída em 1995...
2. Aqui vão, por ordem alfabética, sem qualquer ordem de precedência, importância, relevância ou cronologia, algumas das 50 (ou mais) pequenas grandes mudanças ali operadas (refiro-me, no essencial, à freguesia de Paredes de Viadores, onde se situa a Quinta de Candoz, e onde as pessoas precisavam de berrar ou falar alto para comunicarem umas com os outros, porque o povoamento era e é disperso).
- a Água de consortes, as "levadas" (como a água de Covas, que vinha da serra, e de que o meu sogro tinha direito a utilizar, só no solstício do inverno, uma vez por semana, das 10h da manhã às 6h00 da tarde); a construção civil, a abertura de estradões, a abertura de poços e minas, as alterações climáticas, etc., levaram... a "levada", a água de Covas, que chegava a Candoz e continuava pela encosta abaixo: era uma alegria para os sentidos, a vista, o ouvido, etc., assistir à rega do milho;
- o Anho assado com arroz de forno, que hoje é produto... "gourmet" (e tem confraria);
- o Bacalhau “lascudo” (que ainda não havia no Natal, nem o bacalhau era a pataco, como a República prometia em 1910)
- o “Baile mandado” com “mandador” e os homens e as mulheres separados, de pé, encostados às paredes da casa; e dançavam-se as danças palacianas e burguesas do passado; a valsa, a mazurca, a contradança, o fado; e o mandador era também o "coreógrafo";
- cozia-se a Broa de milho e centeio (três partes de milho e uma de centeio), no forno a lenha, e que tinha de durar 8 dias (ou até 15, "duro que nem cornos"!);
- o Caciquismo político e eleitoral (do regedor, do padre, do comerciante, do professor, do “fidalgo"...);
- só os homens usavam Calças (!) (e as raparigas, Tranças, que cortavam quando ficavam "comprometidas" ou iam para o Porto estudar, um privilégio);
- a Canalha, a miudagem, uma Cama para três (e às vezes era no Palheiro, o quarto dos rapazes);
- ouvia-se o Carro de bois a chiar, "com toda a cagança", pelos estradões (uma verdadeira sinfonia!);
- o osso com Carne ("ó pai, chuche e dê -mo!") no Moado (caldo);
- as Cebolinhas do "talho" (de talhão, da horta, provenientes da monda do cebolal...), o Presunto Verde, o Salpicão, o Verde, o Arroz de Cabidela, as Papas de Farinha de Pau, a "Aletria", o "Doce da Teixeira", a Regueifa, e outros pequenos manjares da culinária local
- os grandes Cestos de vime de 50 kg de uva que os “homes” transportavam aos ombros (e as mulheres à cabeça), por leiras e socalcos abaixo (ou acima) até ao “lagar do vinho” (em geral, no piso térreo, da casa, e com chão saibroso por causa da temperatura ambiente: a "loja" onde também ficava a "salgadeira");
- o Compasso Pascal, a Festa de Nra. do Socorro, a Festa do Castelinho (gente de folgar e trabalhar, ou trabalhar muito e folgar pouco);
- não se conhecia a Contraceção nem o Planeamento familiar (mesmo a “Pílula” chegaria tarde à cidade…) ("porra e lenha é quanto a venha", um provérbio que pode ter uma conotação sexual, mas não tenho a certeza);
- a Cultura do milho de regadio, exigente em água e mão de obra (escondia-se o milho nas “minas”, as nascentes de água, para escapar à requisição do governo nos anos da II Guerra Mundial e do pós-guerra);
- as Crianças habituavam-se, cedo, às “Sopas de cavalo cansado” e eram “Sedadas com Bagaço” quando se contorciam com dores, tinham fome ou estavam doentes;
- andava-se Descalço (ou, tal como em África, se levava os sapatos na mão até à entrada da vila, da escola, da igreja…);
- a autossuficiência da Economia do pequeno campesinato familiar onde o pai era “pai e patrão” e a “ranchada de filhos” era garantia de mão-de-obra abundante e gratuita;
- a Electricidade, o Frigorífico, a Televisão, etc., só chegariam depois do 25 de Abril (mesmo com a barragem do Carrapatelo a escassos quilómetros de Candoz);
- a Emigração, primeiro para o Brasil (até aos anos 50) e depois para França ( "a salto") e Alemanha, também depois Luxemburgo e Suiça;
- não havia Estradões ( e foi com essa promessa de abrir estradões que caciques como o Ferreira Torres ganhavam eleições);
- a “Esterqueira” (ao pé da porta onde se faziam todos os despejos domésticos e se deitava todo o lixo orgânico que não fosse para a “gamela” de, "com a sua licença", o porco) (já não é do meu tempo, mas da infância da Alice; aliás, da minha infância quando ia casa dos meus tios no Nadrupe, á Quinta do Bolardo, á casa dos meus parentes do clã Maçarico, em Ribamar);
- não havia Estradões ( e foi com a promessa de abrir estradões que caciques como o Ferreira Torres ganhavam eleições) ("roubava, mas fazia obra", dizia o povo...);
- a Estratificação social nos campos: ”fidalgos”, pequenos proprietários, rendeiros…e cabaneiros (gente sem terra nem casa) (e que na igreja também se dispunham pela mesma ordem, com homens e mulheres, socioespacialmente separados);
- as Feiras anuais e sobretudo as feiras de gado (onde se levava o porquinho e o tourinho para vender, ou onde se ia comprar uma "junta de bois") (era lá que também se fazia, além de negócios, namoros, casamentos, alianças; tal como a igreja, a feira era um importante local de socialização):
- a importância das Feiras e romarias como factor de lazer, de socialização, de negócios, de informação, conhecimento e propaganda (ah!, os pregões dos feirantes!);
- batia-se forte e feio nos Filhos (em casa e no campo) e nas crianças (na escola) ("quem dá o pão, dá a educação");
- em que os mais remediados diziam: “criei-os [aos Filhos] fartos e cheios [de pão, que não se escondia na “trave” do telhado de telha vã, fora do alcance dos ratos e… das crianças, isso era sinal de pobreza];
- o Fumeiro e o Barro vidrado que tanto cancro no estômago provocou;
- a criação, em cortes, do Gado bovino (o “tourinho”, mais bem tratado que a “canalha”, a miudagem, porque rendia dinheiro ao ser vendido na grande feira do Marco de Canaveses);
- só os Homens usavam calças (!) (e as raparigas cortavam as tranças quando ficavam comprometidas ou iam estudar para o Porto, um privilégio, nos anos 60);
- as Juntas de bois lavrando a terra com arados de ferro;
- só se bebia Leite (de cabra, de vaca era mais raro) quando se estava doente (em geral os adultos);
- as Longas caminhadas a pé (para se ir à missa, à romaria, à feira, à repartição de finanças na sede do concelho, mas também ao médico e o hospital da misericórdia... a 13/15 km de distância);
- a Luz do candeeiro a petróleo ou querosene;
- o valor comercial da Madeira de carvalho, castanho, pinho, cerejeira, etc. (madeira nobre hoje destronada pelo eucalipto);
- a Matança do porco, o fumeiro e a salgadeira (que eram o “governinho da tia Aninhas”, e também uma das principais causas de morbimortalidade por doenças cérebro-vasculares, como a “trombose”):
- o Médico da vila ("João Semana") que só se chamava a casa na hora da morte para passar a certidão de óbito;
- o Medo das trovoadas, das bruxas, dos lobisomens, do mau olhado, das pragas que se rogavam uns aos outros por ódio, vingança, inveja, intrigas, desamores, etc.;
- a escassez de Meios de tração mecânica na lavoura (tratores, motocultivadores, serras mecânicas, etc.) e de transporte automóvel (não me lembro de haver nenhum trator em 1975...);
- cultivava-se o Milho, o Centeio... e o Linho (!);
- a fraca Monetarização da economia (fazia-se algum dinheiro com a venda das uvas, do milho, do tourinho, da cereja e pouco mais; ou trabalhando à jorna, ocasionalmente para o "ramadeiro", para o "construtor civil, etc., que os mais sortudos iam para a polícia e os caminhos de ferro, a CP);
- os "Montes” (pinhais) que eram “rapados” todos os anos, não só para limpeza e prevenção dos incêndios (não havia incêndios) como sobretudo por causa da importância que tinha o mato para fazer a "cama dos animais” e depois o estrume (fundamental para a cultura do milho ou da batata);
- "na casa desta Mulher come-se tudo o que ela der";
- as grandes Mulheres (ou "Mulheres Grandes") que em geral se escondem(iam) atrás dos seus “homes" (e tinham sempre uma palavra de peso, a última, nos negócios, nas compras de propriedade, nos amores, nos casórios dos filhos, etc.);
- o Obscurantismo não só político e cultural mas também religioso (como o daquele pároco que mandou cortar as pilinhas dos anjinhos na igreja);
- a "minha Palavra vale mais do que a minha terra toda" (a palavra dada era lei);
- as Panelas de ferro, ao lume, na lareira (onde se faziam os "Rojões");
- as “Parteiras” (que não as havia, diplomadas) eram as “aparadeiras” (sic) (mulheres curiosas, mais velhas, que já tinham sido mães...);
- jogava-se ao Pião (os rapazes) e brincava-se às Bonecas de trapos (as raparigas);
- ó Maria, dá-me o Pito...E Porra e Lenha é quanto a venha (a maneira brejeira, pícara, desta gente do... carago!);
- as Professoras do ensino primário que se chamavam "regentes escolares";
- o fatalismo dos Provérbios populares (“boda e mortalha no céu se talha”, "muita saúde e pouca vida que Deus não dá tudo"...);
- as Ramadas e o Ramadeiro (construtor de ramadas);
- a luta dos Rendeiros, a seguir ao 25 de Abril, contra a parceria agrícola e pecuária, formas pré-capitalistas de exploração da terra, com o pagamento das “rendas” em géneros (em geral, numa proporção fixa, por exemplo ao terço, a meias, etc.);
- os Salamaleques da “servidão da gleba”: “com a sua licença, meu senhor e meu amo”, dizia o caseiro para o “fidalgo”, desbarretando-se a 10 metros de distância, num concelho onde em 1958 mais de metade dos agricultores eram rendeiros;
- a Salgadeira (onde se guardava o porco, desmanchado) (responsável por muitos AVC);
- os Salpicões feitos em vinho verde tinto (fundamental na cozinha e nos enchidos, este vinho único no mundo);
- não havia Saneamento básico, água potável (a não ser o das minas) nem banheiro com duche;
- a Sardinha “para três” (que chegava de Matosinhos na Linha do Douro até a estação do Juncal, e depois era transportada à canastra e vendida de porta em porta) (... e os ovos que se vendiam para comprar a "sardinha para três");
- o Sável e a Lampreia do rio Douro (que as barragens "mataram") (comia-se o sável pela Quaresma, quando a Igreja proibia o consumo de carne... aos pobres);
- as "Serviçadas” como a vindima, a malha do centeio, a desfolhada do milho, a espadelada do linho, a matança do porco, etc., em que os familiares e os vizinhos se ajudavam, uns aos outros;
- "Ir às Sortes" (à junta médica militar, e ficar apto ou apto para a tropa); (era também um a "ritual de passagem para os "machos", e o início do "home leaving"; quando se regressava, é para para o jovem adulto a começar a governar a sua vida, deixar a casa dos pais, ir para o Porto trabalhar na África, ou para o Brasil, e mais tarde para França, Luxemburgo, Suiça...na construção civil;
- "na casa deste home quem não Trabalha não come";
- começava.se a Trabalhar muito cedo (“ o trabalho do menino é pouco, mas quem não o aproveita é louco”; "na casa deste home, quem não trabalha não come; e na casa desta mulher, come-se tudo o que ela fizer"):
- as “Tunas rurais do Marão” (indispensáveis nos "bailes mandados") (uma rabeca, um violão, uma viola, um cavaquinho, unas ferrinhos, uma voz) ;
- o “Varapau” como símbolo da masculinidade (mas também de violência) (a ponto de ter sido proibido na via pública, nas festas, nas romarias e nos bailes, sendo o seu cumprimento fiscalizado pela GNR):
- a Venda, o estabelecimento comercial que era mercearia, tasca, casa de comidas (para os de fora), cabine pública de telefone, caixa de correio, palco de mexericos, boatos e notícias, etc. (a da Candoz, ficava no Alto,na estrada real Porto-Régua, a 3 km de distância por caminho de carro de bois, que agora é estrada municipal e nos leva à albufeira da barragem do Carrapatelo);
- o Verde (ou Bazulaque) (é ou era um prato típico da Páscoa, na altura em que se matava o anho; feito com colaça, o coração, o fígado e rins);.
- a Vinha de bordadura e de enforcado (e na sua grande maioria, videiras de tinto… jaquê, um híbrido americano de há muito proibido mas sempre tolerado; de fraca graduação e pior qualidade, o “jaquê” chegava a maio já era intragável; de resto, nas vindimas toda a uva podre ia “para o tinto”; e não havia vinho verde branco, o que se fazia era “para o padre”; e muito do que ia para o "ultramar", a tropa, que tinha poder de compra, era vinho branco leve, de 9 / 10 graus, enviado para os armazéns do Porto e de Vila Nova de Gaia, e depois gaseificado e rotulado como "vinho verde branco");
- o Vinho verde branco, feito de bica aberta, e que era só para o padre e para a missa (hoje é um dos senhores "embaixadores de Portugal");
- o Vinho verde tinto, o tal "berdinho", carrascão, bebido da malga de barro vidrado ou da “caneca de porcelana”;
- a Virgindade (feminina) antes do casamento (e ai da rapariga que fosse "rejeitada" pelo rapaz...); ou tivesse a desgraça de ser "mãe solteira";
- ... e quando a gente (a nossa geração) nasceu, por volta de 1945, no fim da II Guerra Mundial, ainda morriam 120 crianças em cada mil nados-vivos.