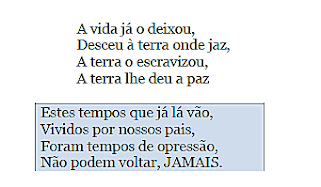- 37 -
Edifício dos CTT em Bissau
Bolama
Capa do livro: Portugal. Estado Maior do Exército - "Missão na Guiné".
Lisboa: SPEME, 1971, 77, [5] p., fotos.
- manjacos (65 mil),
- mandingas ( 60 mil), papéis (40 mil),
- beafadas (ou biafadas) (13,5 mil),
- brames ou mancanhas (12,5 mil),
- bijagós (12,5 mil),
- futa-fulas (10 mil).
A leitura deste livrinho também contribuiu para a replicação de alguns estereótipos, criados pela antropologia colonial portuguesa: por exemplo:
- islamizados (em vez de muçulmanos, de pleno direito, impuros,continuando a adorar o "Irã" e/ou a beber o vinho de palma;
- por seu turno,não há "cristianizados", mas só cristãos;
- balanta = ladrão de gado, bêbedo, brigão, homem do mato, "cabeça dura", turra, cabr-macho, excêntrico como o Pansau Na Isna;
- fula= polígamo, que põe as mulheres a trabalhar no campo; semi-feudal; "cão dos tugas";
- futa-fula = casta superior;
- manjaco = marinheiro;
- mandinga = artesão (ourives, ferreiro, músico); "o antigo dono daquilo tudo";
- papel = o malandro de Bissau (como o 'Nino' Vieira);
- biafada = "robusto mas indolente";
- bijagó = pobre diabo subjugado pelo matriarcado;
- felupe = caçador de cabeças; ferozmente independente;
- nalu = o anáo da floresta do Cantanhez em vias de extinção;
- mancanha= reguila (como Vitor Sampaio, da CCAÇ 12), etc.
- fulas (28,5)
- balantas (22,5)
- mandingas (14,7)
- papéis (9,1)
- manjacos (8,3)
- beafadas (3,5)
- mancanhas (3,1)
- bijagó (2,1)
- felupe (1,7)
- mansoanca (1,4)
- balanta mané (1)
- outros (4,1)
- Bissau: 709,1 (quase 40 vezes mais do que em 1959, que era estimada em 18 mil);
- Bafata: 22,5 (4 mil, estimativa de 1959;
- Gabu: 14,4 (antiga Nova Lamego);
- Bissorã: 12,7;
- Bolama: 10,8 (3 mil, estimativa de 1959);
- Cacheu: 10,5.
(*) Vd. postes anteriores da série :