Outra vez os dois grupos, 15 homens dos “Centuriões” e 15 dos “Diabólicos”, para uma missão de nomadização [1] na região a norte de Farim. Saímos de Bissalanca, em 6 helis, de manhã muito cedo, para sermos lançados na fronteira, junto a Sitató.
A partir de uma certa altura, os pilotos defrontaram-se com muito nevoeiro e quando chegámos perto da linha de fronteira, não conseguiram distinguir bem se estávamos já no Senegal. Retiraram até à zona de Jumbembem e, depois, a voarem por cima das árvores, atingiram uma zona de bolanha, onde nos largaram.
Estávamos nos finais de março [de 1966] e a água estava muito fria. Quando aterrei, a água deu-me até ao peito. Pão, bolachas, cigarros, fósforos, ficou tudo alagado. Saímos da água e ficámos um pouco de tempo abrigados, a auscultar os sons da mata. Depois, começámos a andar até atingirmos uma bolanha larga, por volta das 10 horas. Ficámos ali algum tempo a olhar para a mata em frente. Os dois alferes estiverem a conferenciar e decidiram atravessá-la.
Abrimos em linha, distanciámo-nos uns dos outros e começámos a travessia com muito cuidado. Estávamos mais ou menos a meio, ouvimos um tiro. Agachei-me como os outros e ficámos na expectativa. Já sabíamos que o PAIGC estava à nossa frente. Retomámos a progressão em direcção da mata de onde partira o disparo, mais separados ainda. Depois outro tiro, momentos depois uma rajada e nem uma chicotada.
Nós não íamos com o objectivo de fazer um golpe de mão. A missão que nos tinha levado a Sitató era progredirmos em direcção a Faquina Mandinga, ver bem os trilhos e se houvesse sinais montar uma emboscada. Mas não era isto que estava a acontecer.
Os tiros que ouvimos, quando estávamos a atravessar a bolanha, alteraram a nossa missão. Continuámos, muito lentamente, a dirigirmo-nos para a mata, e começámos também a ouvir vozes e risos. Ficámos mais sossegados porque os tiros não devia ter nada a ver com a nossa presença naquele local. Ou então era o PAIGC que estava com grande confiança.
Já sabia que o confronto era inevitável. Conseguimos chegar àquela pequena mata de palmeiras sem sermos vistos. Era uma mata escura, onde eles tinham armado um acampamento embora naquele momento ainda não soubéssemos.
Logo à entrada vi um pequeno carreiro que entrava na mata e desaparecia dos meus olhos. Os alferes combinaram formar um L, o meu grupo ia progredir no carreiro enquanto o outro ficava em linha na orla da mata. Começámos a andar, um passo aqui, outro ali, com muito cuidado, até que ficámos de frente para umas barracas. Vimo-los a conversar uns com os outros, a rirem-se, sem saberem que tinham visitas.
Eu pensei: E agora? Se não os atacássemos já éramos descobertos e poderíamos sofrer uma derrota inesquecível. O terreno tinha aquela pequena mata de palmeiras e à volta a vegetação era pouca. De certeza que eles conheciam a zona melhor que nós. Atacar já e retirar para Cuntima, foi a decisão que se tomou.
A primeira fila de barracas estava mais ou menos a dez metros. Quando ouvimos a voz de fogo, eu, o cabo Raul e outros companheiros que estavam à minha beira, fizemos rajadas lá para dentro, a curta distância dos guerrilheiros.
Uma grande gritaria ouviu-se quando parámos de atirar e depois tiros e gritos pararam de repente, ficou um silêncio total. Lançámo-nos lá para dentro, os companheiros do outro grupo romperam também e começámos a busca nas barracas.
Depois de apanharmos material, já não havia mais nada para fazer a não ser chegar fogo ao acampamento. Lançámos granadas incendiárias e saímos a correr, para norte, a corta-mato.
Uns minutos depois, já a uma ou duas centenas de metros das casas de mato, ouvimos fogo de morteiro, bazuca e armas automáticas. Eles queriam ver se nós respondíamos para depois concentrar o fogo em cima de nós. Mas nós não respondemos e eles ficaram sem saber nada a nosso respeito e nunca vieram a saber como nós chegámos junto deles. As morteiradas para a zona do acampamento continuavam e nós também continuávamos a andar, agora mais devagar.
Estava muito calor e nós estávamos com sede. Logo, a sorte veio ter connosco outra vez, quando encontrámos um pequeno riacho. Momentos antes, o Mamadu Bari tinha caído com dores musculares. Parece que os músculos se tinham prendido e ele não podia andar. Tirámos-lhe a carga que ele trazia e demos-lhe ali uma massagem. Ele pareceu ficar melhor e nós recomeçámos a marcha.
Quando entrei no riacho, meti a cabeça debaixo de água, para diminuir o calor e aumentar a força que já me faltava. Demos com a estrada que vinha da fronteira e de certeza que já não estávamos longe de Cuntima. Com o guia local que tínhamos levado, o milícia Pate Djamanca [2], uma equipa meteu-se na estrada até ao arame farpado do aquartelamento de Cuntima [3] e, tempos depois, apareceram duas viaturas que nos transportaram até à povoação.
Fomos muito bem recebidos, tomámos banho e depois do jantar fomos visitar a tabanca com o nosso gira-discos. Passados uns minutos, juntaram-se rapazes e raparigas e foi música e dança até à meia-noite.
No dia seguinte[4], depois do café, chegou uma coluna de Farim para nos recolher. Por volta das 10h00 ocupámos os nossos lugares nas viaturas e metemo-nos à estrada, que eu conhecia muito bem, e chegámos a Farim, ainda não eram 14h00.
Fui para o quartel dos africanos, da antiga 1ª CCaç, onde tinha estado quase um ano como condutor “rebenta-minas”. Afinal, tinha sido daqui que eu tinha ido para os Comandos. O alferes, sobrinho do Governador Arnaldo Schulz, que era de informações e tinha vindo de Porto Gole, é que tinha sido o responsável pela minha saída de Farim.
Ele costumava encarregar-se dos interrogatórios e usava a violência para obter informações dos prisioneiros. Naquela altura avisou-me, a respeito da carta do cabo-verdiano, para eu nunca mais receber fosse o que fosse de prisioneiros. Fiquei incomodado com a forma como ele reagiu à minha acção e lembro-me de ter regressado à caserna e de ter ficado uns tempos a matutar. O Adulai Djaló, meu colega, amigo e parente, andávamos sempre juntos, chegou-se a mim e perguntou se me doía a cabeça. Recordo muito bem esse episódio.
Foi nessa altura que tiraram os bidões de água do meu carro e me puseram a “rebenta-minas”. Davam instruções para a segunda viatura, a que ia atrás da minha, manter a distância de, pelo menos, 100 metros. Nunca faltei a uma saída.
E foi por causa dele que eu e o Tomás Camará fomos para o grupo do Alferes Saraiva.
Agora que estou a escrever este episódio da minha vida na Guerra da Guiné, recordo que na noite de 23 de Dezembro de 1971, o Adulai Djaló morreu nas minhas mãos, em Morés, numa noite em que tivemos cinco mortos e vários feridos, já não me lembro de quantos, só sei que um estava em estado muito grave.
Agora, voltando ao regresso de Cuntima. Quando chegámos ao quartel de Nema, os colegas receberam-me com uma mesa cheia de bebidas. Ficámos ali até às 16h00, quando nos vieram buscar, e dali seguimos para a pista, entrámos num Dakota e pouco depois das 17 e tal estávamos em Brá.
(Continua)
_________
Notas do autor ou do editor literário ("copydesk") (VB):
[1] Nota do editor: extraído do relatório: 28/03/66. Op Vamp: Faquina Fula, Colina do Norte, Cuntima, Farim.
Informações relatavam a deslocação junto à fronteira com o Senegal de um numeroso grupo IN, prevendo-se a entrada por Sitató ou por Faquina Mandinga em direcção a Sulucó, Dando Mandinga-Cambajú. O plano previa a heliportagem para uma bolanha em Sitató, nomadização com a duração prevista de 48 horas, deslocação dos grupos até Cuntima pelos seus próprios meios e depois em coluna até Farim com regresso a Bissau em Dakota.
30 elementos dos grupos “Centuriões” e “Diabólicos” saíram de Brá às 05h45. Partiram da BA 12 em seis Alouettes-III às 06h00. Às 7h00 foram largados na bolanha de Sitató. Cerca das 07h30 iniciaram a progressão rumo a Faquina Fula, que atingiram às 09h30.
Por volta das 10h30, quando atravessavam uma bolanha entre Faquina Fula e Faquina Mandinga, ouviram um tiro. A seguir, risos e vozes. Uma rajada, gargalhadas, outra rajada de três ou quatro tiros, mais risos. Dirigiram-se para a orla da mata, depois progrediram na direcção das vozes.
Cerca das 11h00 encontraram elementos INs a conversarem enquanto um limpava uma arma, numa pequena clareira com casas de mato em volta. Abriram fogo à queima-roupa e entraram nas casas de mato. Seguiram-se momentos de grande confusão que impediram o uso das armas.
Na primeira fase, o IN limitou-se a fugir. Minutos depois, quando se procedia à recolha do material abandonado (2 metralhadoras-ligeiras Degtyarev, 2 Simonovs, 1 PM Thompson, 1 PM Shpagim, 1 PM Beretta, 1 esp. Mauser, 18 granadas de mão, 1 granada de RPG, 27 carregadores para vários tipos de armas, bornais, porta-carregadores, munições e documentação diversa), abriu fogo de morteiro para dentro do acampamento.
Cerca de meia hora depois de lançado o ataque, os grupos abandonaram o acampamento a arder. Entraram em Cuntima às 13h30. A CArt 732, em coluna auto, transportou-os no dia seguinte para Farim. O regresso a Brá foi feito num Dakota um dia depois.
[2] Meio-irmão do Comando Abdulai Queta Jamanca. 







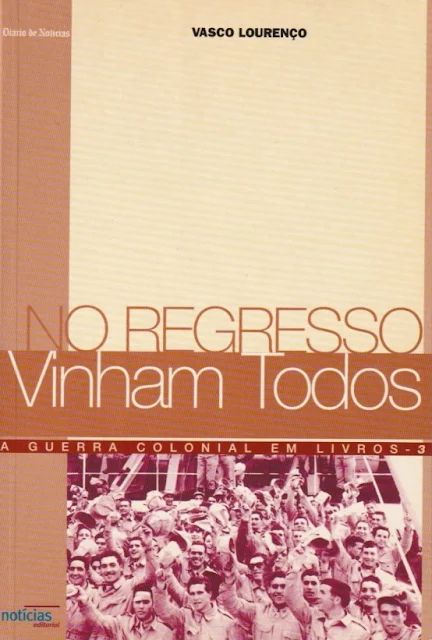






.png)
.png)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)