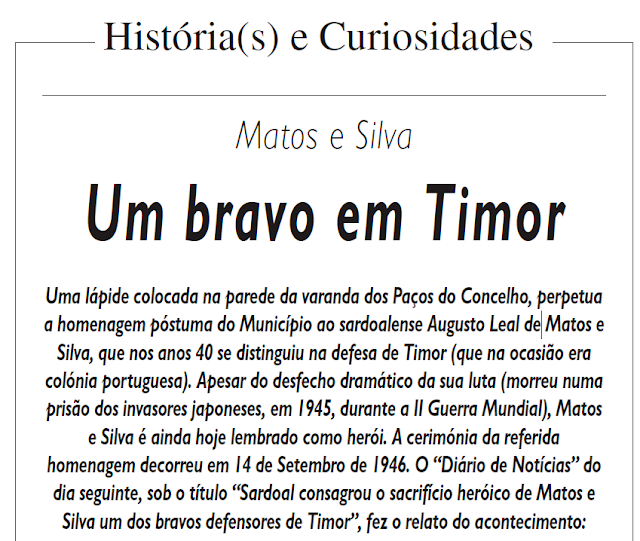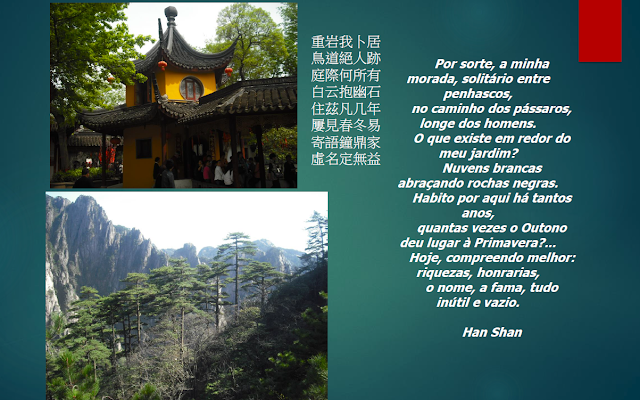(...) "É uma história de filme, um drama épico. A história de um oficial português que ajudou a evacuar de Timor, invadido pelos japoneses, centenas de portugueses, em três operações heróicas. Morreu às mãos do invasor".
In: Tenente Pires | São José Almeida | Público, 10 de Fevereiro de 2008, 0:00
Deste artigo, de 10/2/2008, permitimo-nos fazer uma condensação, a partir de alguns excertos. Este homem, este militar, este português, merece ser melhor conhecido. Morreu, há 81 anos, às mãos dos carrascos, sem ver a terra, Timor, que ele tanto amava, liberta dos seus invasores e ocupantes nipónicos.
Maria de Lourdes Cal Brandão, viúva de Carlos Cal Brandão (1906-1973) tinha 93 anos quando deu esta entrevista ao "Público", em 2008. Ficamos a saber, por este valioso trabalho de pesquisa da jornalista São José Almeida, que:
- em 1943 tinha 27 anos;
- era a esposa de um deportado político (em Timor desde 1931), o dr. Carlos Cal Brandão, jovem advogado do Porto;
- nesse ano conheceu Elisa Pires, a filha do tenente Manuel de Jesus Pires, e de uma timorense, Domingas Boavida, que tinha apenas 8 meses;
- tornou-se amiga da Elisa e da mãe num campo de refugiados na Austrália.
Maria de Lourdes havido fugido de Díli com mais 80 pessoas. O grupo havia atravessado a ilha pelo Monte Ramelau ( "Foho Ramelau", em tétum, a mais alta montanha da ilha, que se eleva a quase 3 mil metros). A fuga fora organizada pelo marido e pelo tenente Pires.
(...) Quando chegou ao sul, embarcou num dos navios australianos que transportaram 700 pessoas, todas brancas, a partir da praia de Betano.(...)
A Elisa e a mãe, timorense, embarcariam a 10 de janeiro de 1943, na praia de Aliambata, com mais 54 pessoas, num navio holandês. O embarque foi organizado pelo tenente Pires. Foi o primeiro, com destino à Austrália, em que foram evacuados timorenses.
(...) Este é o resultado (...) de uma bem sucedida pressão do tenente Pires e de Cal Brandão junto dos australianos para que a evacuação inclua também timorenses. (...).
A jornalista cita o investigador António Monteiro Cardoso em "Timor na 2ª Guerra Mundial - O Diário do Tenente Pires" (editado pelo ISCTE). (O historiador morreu, entretanto, aos 65 anos, em 2016.)
A partir da Austrália, e com apoio dos australianos, os dois resistentes portugueses, o Cal Brandão e o tenente Pires, empenham-se em salvar mais gente, e nomeadamente mulheres e crianças.
(...) Um mês depois, a 10 de fevereiro de 1943, a partir da praia de Barique, o tenente Pires aceita ser evacuado com um grupo de timorenses e portugueses num submarino americano, porque acredita que fazer contactos diretos na Austrália será mais eficaz para salvar os que ficaram para trás. (...)
E até junho desse ano, de facto, o tenente:
- desdobra-se em contactos com as autoridades australianas;
- escreve a diversas personalidades (Salazar e Getúlio Vargas, presidente do Brasil, entre outros outros);
- o seu apelo ("libertem Timor e salvem os portugueses e timorenses escondidos nas montanhas") não é atendido;
- tem, contra si, um conjuntura geopolítica e militar desfavorável.
Timor, de facto, era um mero peão no "tabuleiro de xadrez" da guerra do Pacífico. Os Aliados (a começar pelos EUA) tinham outras prioridades.
Salazar, por outro lado, sempre se manifestara contra toda e qualquer evacuação: os portugueses residentes em Timor tinham o dever de ficar, mesmo à custa da vida de alguns (ou até da maior parte), sendo essa a única forma de garantir a recuperação, a reafirmação e o reconhecimento da soberania portuguesa no final do conflito.
Era, além disso, contra toda e qualquer manifestação de hostilidade em relação aos japoneses (com medo, nomeadamente, de perder Macau). Cautelosamente devia esperar que o peso das armas começasse a pender para o lado dos aliados.
Estima-se que terão morridos mais de 10 por cento (c. 40 mil) da população da ilha
(...) "É então que o tenente Pires, persistente, consegue que os australianos o levem de novo para Timor com um pequeno grupo de operacionais portugueses - Patrício Luz, Casimiro Paiva e Alexandre Silva. (...)
No início de julho de 1943, ele e os seus companheiros juntam-se ao grupo de Cal Brandão. Fiel à sua palavra, a 3 de agosto faz evacuar para a Austrália, a partir de Barique, mais 87 civis, portugueses e timorenses.
Fica em Timor, à espera de boas novas dos Aliados e do Estado Português. Um mês e tal depois, já em setembro, o tenente Pires tem a infelicidade de ser ferido numa anca. Num terreno extremamente acidentado como o Timor, isso era fatal. É feito prisioneiro pelos japoneses, ele e os companheiros. Já não chegará a conhecer a alegria da vitória, morre mais de um ano antes. No cativeiro, em Dili, em circunstâncias que nunca foram esclarecidas.
Nessa altura, a pequena Elisa Pires, f vivia há nove meses no campo de refugiados de Armidale, com a jovem mãe, timorense, assim como Maria de Lourdes Cal Brandão.
Restabelecida a paz, regressam todos a Timor, em setembro de 1945. Carlos Cal Brandão e a mulher não são autorizados a desembarcar pelas autoridades portugueses da ilha.
Num gesto que só podia ser de grande amor maternal, Domingas Boavida, entrega a pequena Elisa, com 3 anos, a Maria de Lourdes e Carlos Cal Brandão, para que a possam educar no Porto. Os Cal Brandão passaram a ser os seus padrinhos.
A viagem de regresso a Portugal é penosa, o navio pára em todas as colónias, até que aporta em Lisboa em fevereiro de 1946. Os três chegam, finalmente, ao Porto onde Cal Brandão, advogado, tem os pais e o irmão Mário (que virá a ser governador civil do Porto a seguir ao 25 de Abril de 1974),
Em 2008, com 65 anos, quando dá esta entrevista ao jornal "Público", "a imagem que Elisa tem do pai biológico é construída":
Cal Brandão e a mulher, os padrinhos de Elisa, ensinaram-lhe a preservar a memória do pai. Fala dele, à jornalista, com orgulho:
(...) "Penso que, como militar republicano respeitava a pátria e a honra e que pôs isso em prática. Depois, a responsabilidade do povo que governava, fê-lo realmente lutar por aquilo que achava melhor para os timorenses. Foi uma pessoa de bastante coragem. Que se sujeitou a tudo para levar as ideias dele para a frente". (...)
Elisa nasceu a 22 de abril de 1942, em Baucau, distrito timorense de que o tenente Pires foi administrador. A mãe tinha então 16 anos.
(...) A minha mãe nunca me escreveu, apesar de educada numa missão católica. Conheci-a, quando [já adulta] regressei a Timor. Veio ver-me a Díli. Foi uma visita e um encontro não como mãe e filha, porque éramos desconhecidas. Gostei de a conhecer, mas éramos desconhecidas. Nessa altura já tinha outros filhos, já tinha refeito a sua vida. Ainda hoje vive perto de Baucau (...).
Elisa manteve o contacto com Timor, a mãe e os seus meios-irmãos, de acordo com o desejo expresso pelo casal Cal Brandão.
(...) "Os meus padrinhos, principalmente o meu padrinho, tiveram sempre a preocupação de não me deixar esquecer o meu pai. Levou-me aos meus avós paternos que viviam no Porto, fui várias vezes fazer visitas" (...)
Ao fim de quatro anos no Porto, Elisa entra, como interna, no Colégio da Liga dos Combatentes. Por outro lado, sendo filha de oficial, era pressuposto poder ingressar no Instituto de Odivelas. Mas em 1952 a sua entrada foi recusada.
(...) "A explicação que me deram foi que o meu pai não era casado com a minha mãe, isto quando um oficial português era proibido de casar com gentios. Não sei se foi por isso, se foi pela atitude do meu pai durante a guerra." (...)
Elisa fez então a escola comercial e, em 1967, volta a Timor, onde trabalhou durante dois anos na Repartição Provincial dos Serviços de Administração Central.
Em 1969, com o irmão Jaime destacado em Angola, na Força Aérea, Elisa vai para Luanda. Fica lá até à descolonização, altura em que veio para Lisboa como funcionária da empresa na qual trabalhava, a Celcat. Estava reformada quando deu a entrevista.
Quando regressou a Timor, Elisa Pires é confrontada com a força da memória do pai e o seu prestígio entre os timorenses.
(..) "Toda a gente me falava dele e depois, mais tarde, construíram-lhe um monumento [em 1973], mas antes já havia a Ponte Tenente Pires, em Viqueque. Era uma pessoa conceituada, até pelos próprios indígenas, porque lutava por Timor e por eles. Sempre foi muito igualitário, contribuiu para que houvesse evacuação de timorenses durante a guerra." (...)
Essa memória não se perdeu também em grande parte por mérito dos Cal Brandão que trouxeram, além de Elisa, os cadernos com o diário do tenente Pires.
A partir do Natal de 1942, em plena fuga pelo interior de Timor, o tenente Pires começara a escrever um diário. Que continuou na Austrália. O último registo é anterior á sua entrada no submarino no qual regressou a Timor para morrer.
2. O diário fora entregue ao Carlos Cal Brandão por um amigo comum. Chegou a Portugal escondido na bagagem de uma amiga de Maria de Lourdes.
(...) Para António Monteiro Cardoso, este diário é "o brado de um homem isolado e abandonado pelo seu país e pelos Aliados e que, não obstante não desiste, movido pelo cumprimento da palavra dada. O relato de um drama humano de alguém a quem ninguém dá ouvidos. A sua honestidade leva-o para a missão que sabe que não tem saída".(...)
Manuel de Jesus Pires nasceu no Porto, a 6 de março de 1895 Estudou na Faculdade de Ciências do Porto. Na Escola de Guerra, acabou o curso de Infantaria em 1917. No verão desse ano, foi para França, integrado no Corpo Expedicionário Português. Regressado a Portugal, ajudou a combater a Monarquia do Norte e a depor Paiva Couceiro no ano seguinte.
(...) Em junho de 1919 é requisitado pelo ministro das Colónias, João Soares, pai do ex-Presidente Mário Soares, para ir para Timor. O então alferes Pires chega a Timor a 25 de setembro de 1919, com 24 anos. É aí que passará o resto da sua vida até morrer, em 1943, aos 48 anos, como prisioneiro de guerra dos japoneses.(...)
(...) Logo em novembro de 1919 foi nomeado comandante militar de Viqueque, cargo que exerceu até 1928. Foi também chefe dos serviços de Fomento Agrícola, ajudante de campo do governador, comandante militar do enclave de Oecussi, administrador civil de Manatuto, governador de Fronteira e, a partir de 1937, governador de Baucau. (...)
- o chefe de posto de Laga, Augusto Leal de Matos e Silva,
- o chefe de posto de José Plínio dos Santos Tinoco
- e o tenente Manuel de Jesus Pires, administrador de Baucau.
Todos deveriam ter sido louvados por atos heróicos... Recorde-se que em 3 de agosto de 1943 ajudaram a embarcar, em duas vedetas australianas, perto da "alfândega" de Barique, um grupo de foragidos portugueses e timorenses (com destaque para mulheres e crianças). Mas em Timor ficou um grupo de voluntários, em missão, de observação, de que faziam parte os seguintes portugueses:
- Tenente Manuel de Jesus Pires (Porto, 1895-Díli,1944);
- Chefe de posto Augusto Leal de Matos e Silva (1905-1944);
- Chefe de posto José [Plínio dos Santos] Tinoco;
- Enfermeiro Serafim [Joaquim] Pinto;
- Radiotelegrafista Patrício Luz;
- Cabo de infantaria João Vieira.
_________________
(*) Último poste da série > 19 de setembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27230: Timor-Leste: passado e presente (32): a rendição dos japoneses foi há oitenta anos, foram-se embora, sem castigo, lá deixando mais de 40 mil cadáveres de timorenses, portugueses, australianos, holandeses...
(**) Vd. postes de:
16 de junho de 2024 > Guiné 61/74 - P25645: Timor-Leste, passado e presente (6): O tenente Manuel de Jesus Pires (1885-1944), herói em Timor, desertor e traidor no seu país ?



















.jpg)