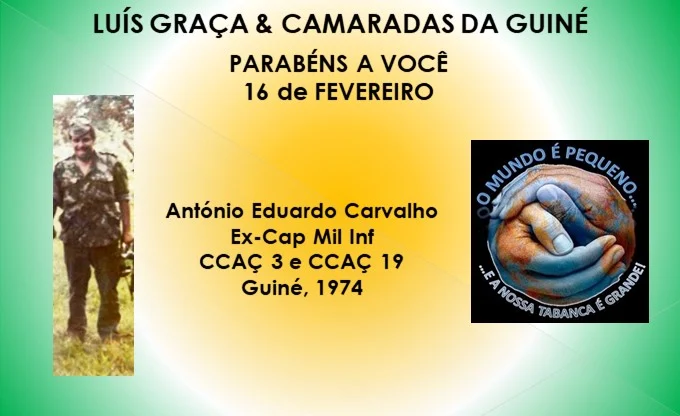Guiné > Região do Óio > Porto Gole > Fvereiro de 1967 > A despedida: em segundo plano, o gen Arnaldo Schulz ao lado do piloto do helicópetrio; no banco de trás, duas caixas de cerveja, Sagres e Cristal; em primeiro plano, à esquerda, um cabo especialista da FAP e, à direita, o fur mil Viegas, do Pel Caç Nat 54, com camuflado paraquedista trocado com um camarada numa operação no Morés em outubro de 1966.
Foto (e legenda) : © José António Viegas (2015). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]
 |
Luís Graça, ex-fur mil, CCAÇ 12, Contuboel, junho de 1969
|
A galeria dos meus heróis > O “Duque de Palmela” ou o pão que o diabo amassou- II (e última parte)
por Luís Graça
(Continuação)
12. O “Duque de Palmela” não se deu mal com a “nova vida”, a de padeiro (*)... Deixou de fazer colunas, operações e serviço de guarda, etc., mas tinha que trabalhar de noite para ter pão fresco todas as manhãs…
E a verdade é que a malta se habituou ao pão fresco todas as manhãs. E isso também ajudou a levantar o moral da tropa. O casqueiro era um parte importante da ração a que cada homem tinha direito. Cabia nos 24 escudos e 50 centavos que eram atribuídos a cada militar, do soldado básico ao general, para efeitos de alimentação. Quem era arranchado, recebia em géneros, quem era desarranchado recebia em espécie, sendo no caso dos africanos, muçulmanos ou animistas, que não comiam a comida dos brancos, um importante complemento do salário: dava para comprar um saco de arroz de 100 kg.
− Comia-se mal e porcamente. Faltavam as batatas. E os frescos só os havia quando, uma vez por outra, vinha uma avioneta de Bissau. Massa com cavala era o prato do dia. O vinho era pouco e 'batizado'. Que não faltasse, ao menos, o pão nosso de cada dia…
O Zé Soldado era pãozeiro, como qualquer bom português de origem rural. O padeiro, por sua vez, em conjunto com o vagomestre, responsável pelos géneros, tinha que saber gerir muito bem o “stock” de farinha (e fermento…), sobretudo no tempo das chuvas em que as picadas no sul da Guiné se tornavam autênticos rios. O abastecimento era então irregular e incerto.
Na realidade, ficavam isolados muitos aquartelamentos, destacamentos e tabancas. As colunas tornavam-se um pesadelo, às vezes chegava-se a andar um quilómetro por hora (!) e praticamente não se fazia mais nada do que tentar assegurar, a todo o custo, no final do tempo seco e no início do tempo das chuvas, a autossuficiência da tropa em matéria de abastecimentos (munições, comes & bebes, outros géneros de primeira necessidade, etc.).
A farinha e a cerveja era dois géneros alimentares de “primeiríssima necessidade”… Ainda bem que a atividade operacional ficava mais reduzida, sobretudo de julho a setembro, meses de maior pluviosidiade, tanto para as NT como para o PAIGC.
O nosso homem tinha, nesse aspeto, um bom entendimento com o vagomestre e com o capitão. E nunca houve, até ao primeiro ano, falta de farinha para fazer o pão.
− No novo 'posto', eu tinha durante o dia tempo e vagar para ir passear à tabanca, fazer a 'psico', e, ao lusco-fusco, ir caçar galinhas do mato e lebres, na orla da bolanha. Arranjei uma espingarda de caça e ganhei um vício que não tinha…
− A caça ?!...
− Sim, a caça... Dava para fazer o gosto ao dedo e sempre se arranjava carne para o petisco. Matei a malvada a muita gente, incluindo alferes e furriéis… Uma vez por outra convidava o capitão, mas ele nunca aceitava… Acho que não se queria misturar com os subordinados, o que eu hoje entendo... Por outro lado, ele não gostava nada que eu saísse fora do arame farpado, mas lá ia fechando os olhos… E eu também não era mau cozinheiro, diga-se em abono da verdade… Uma vez por outro fazia-lhe uns miminhos, como um cabritinho assado.
13. A coroa de glória do “Duque de Palmela” foi quando a companhia, a dois grupos de combate, ficou com as calças na mão, mum medonho ataque a um dos seus destacamentos, lá para os lados de Aldeia Formosa, já na segunda parte da comissão, em inícios de 1967, em plena época das chuvas.
− Os gajos atacaram-nos, às tantas da noite, e usaram metralhadoras pesadas 12.7, com balas incendiárias. Acordei sobressaltado. Em pouco tempo, a tabanca, fula, com as palhotas muito juntas umas às outras, foi pasto das chamas. Nunca tinha visto um incêndio como aquele, a não ser quando se deitava fogo ao capim, no tempo seco. Valeram-nos as valas onde o pessoal se entrincheirou e resistiu até de madrugada. Eu, mais o capitão que teve o azar de lá estar nessa semana, agarrámo-nos com unhas e dentes ao morteiro 81. A companhia tinha apenas uma secção de morteiros. E dessa vez estava colocada, em reforço, noutro destacamento, não muito longe do nosso. Mas tínhamos, aqui, um morteiro 81. Foi o que nos valeu. Apoio de artilharia não havia.
O nosso padeiro conta que ia ficando com as mãos queimadas se não fora as luvas que apareceram no espaldão, "por milagre".
− Granadas não faltavam, graças a Deus. E foi a nossa sorte. Os gajos retiraram com mortos e feridos, a avaliar pelos rastos de sangue que deixaram nos abrigos individuais junto ao arame farpado. Por minha conta, devo ter mandado alguns para o inferno. Em contrapartida, tivemos dois mortos e vários feridos graves. Só por milagre, é que a população se safou. Só houve alguns feridos ligeiros. Mas a tabanca ficou praticamente calcinada. E com ela perdemos também os nossos haveres e os improvisados abrigos onde tínhamos os géneros alimentícios, bem como as outras palhotas que tinham sido cedidas à tropa. Ficámos só com a roupa que trazíamos no pêlo.
A descrição não poderia ser mais pormenorizada:
− A tabanca estava sobrelotada. Era pressuposto ficarmos ali temporariamente em reforço do sistema de autodefesa. Havia suspeitas, fundadas, de colaboração com o inimigo, por parte de alguns elementos da população, e que por isso estavam de debaixo de olho do comandante do pelotão de milícias e do régulo.
− Mas os fulas eram leais à nossa tropa…
− Nem todos, junto à fronteira, eram mais permeáveis à propaganda e às ameaças do PAIGC – respondeu-me o M. Santos.
− Quer então dizer que, dessa vez, vocês ficaram de tanga…
− Ficámos de calcões e chanatas. Só com a G3 na mão, e as cartucheiras à cintura… Alguns ficaram só em cuecas!... A minha mala ardeu. Houve malta que perdeu tudo, tinham trazido os parcos pertences com eles, convencidos que iam passar ali umas ricas e merecidas férias… O tanas!... O mais grave é que ficámos sem comes e bebes, incluindo as rações de combate. Lá se aproveitou uma ou outra maldita lata de cavalas ou de conservas de pêssego da África do Sul… Claro que a população também pilhou o que não ardeu... Nestas situações, os seres humanos são todos iguais, sejam brancos ou pretos: há sempre uns tantos que tiram partido da desgraça dos outros...
De Bissau vieram, de helicóptero, trazer alguns reabastecimentos mais urgentes: caixas de munições, por exemplo. A coluna de Nova Lamego [, ou de Aldeia Formosa ?] só chegou ao fim do segundo dia. E traziam alguns sacos de farinha. Mas como fazer pão se até o pequeno forno do destacamento, em adobe, também tinha sido destruído?
− Com bidões cortados ao meio, na vertical, improvisei um forno e fiz o milagre dos pães, para meia centena de homens esfomeados… Tive um louvor do Schulz, e outro do comandante do batalhão, sob proposta do meu capitão. Mandei ampliar e emoldurar o louvor do general Schulz. Está no escritório. Ou estava, agora já passei a pasta ao meu filho mais velho. Reformei-me da Panificadora.
13. A padaria a que o “Duque de Palmela" se refere, foi a que ele criou, depois do seu regresso da Guiné em finais de 1967, e que ajudou a crescer, nos últimos 50 anos, "com mais algumas dezenas de colaboradores".
Com a construção e a inauguração da Ponte Salazar, unindo finalmente as duas margens do Tejo, entre Lisboa e Almada, o distrito de Setúbal conheceu um enorme surto de desenvolvimento, em termos urbanísticos, industriais, económicos e demográficos. Com algum dinheiro que poupou em África e um pequeno empréstimo bancário e mais uma ajuda de um dos irmãos que fora 'a salto' para França, fugindo à tropa, e que agora estava lá bem, perto de Paris, o “Duque de Palmela" comprou a quota de um seu antigo patrão, que se reformara, e que fazia parte de uma cooperativa de panificação num dos concelhos vizinhos. Essa Panificadora deu muitas voltas, depois do 25 de Abril, passou a sociedade anónima, até que o M. Santos se tornou o acionista principal, com o filho e com o irmão que estava em França.
Hoje é uma empresa de referência, no seu ramo, faturando cerca de 6 milhões de euros, e tendo uma razoável rede de clientes, incluindo superfícies comerciais, em todo o distrito de Setúbal. O “Duque de Palmela”, outrora o “pé descalço”, o 1º cabo que queria "ser mercenário e ir para o Vietname", tem hoje motivo de orgulho no legado que deixa aos filhos e netos.
− É sobretudo um exemplo de vida, tenho pena que o meu velhote já não esteja cá, há muito, para ainda poder ver a obra do filho.
Enxuga uma lágrima furtiva… Pediu-me uns minutos para ir a casa, uma bela vivenda ali ao lado das instalações fabris da Panificadora, para ir buscar uma foto que tinha com o general Schulz e mostrar-me o louvor, emoldurado.
− Não conheci o Spínola, o meu comandante foi o Schulz. Só tenho a dizer bem dele. Visitou-nos por duas vezes. Esta é a foto dele comigo, eu a enfornar o pão. E chegou a levar do meu pão para o palácio do Governador, em Bissau. Em troca deixou-me uma caixa de cerveja “para os padeiros”...
Infelizmente, o “Duque de Palmela” tinha enviuvado há dois ou três anos e lamentava não poder partilhar, com a “duquesa” (como ele, carinhosamente, tratava a sua alentejana de Santiago do Cacém), a alegria que fora a “transferência de poderes” para o filho, seu sucessor, e agora o maior acionista da Panificadora e seu administrador.
− Afinal, é a ela que eu devo tudo ou quase tudo. A ela e ao meu capitão. Foi, na Guiné, um pai para mim. Fiquei-lhe grato para o resto da vida. Vim a descobrir, entretanto, que trabalhava nas Alfândegas de Lisboa, há uns dez anos atrás, quando ele se reformou. Nessa altura, fiz-lhe uma grande homenagem. Fizemos aqui o convívio anual da companhia. Foi memorável. Faltaram muitos mas mesmo assim consegui juntar uns sessenta camaradas. Com as mulheres, filhos e netos, éramos quase um centena de convivas. Fiz questão de ser eu a oferecer o almoço. Arranjei uma empresa de “catering” e o borreguinho assado foi feito cá nos fornos da Panificadora. Por coincidência, comemorávamos também nesse ano os 40 anos do regresso da Guiné.
E acrescenta, com alguma euforia:
− Foi um dia de alegria, um dos maiores da minha vida. Esse convívio ficou na memória da malta toda. E quem não veio, ficou com pena… Infelizmente, o capitão morreria uns tempos depois, ainda a minha mulher era viva.
Falando do seu sucesso empresarial, disse-me em tom de confidência:
− Tive sorte nos negócios, não vou dizer que não. Mas fui sempre um homem decidido e determinado. Tinha pouco a perder e tudo a ganhar. Se fosse alferes ou furriel, com estudos, teria arranjado um reles emprego, num banco ou num escritório, aqui ou em Setúbal. Hoje sou patrão, ajudei a criar cinquenta postos de trabalho, são outras tantas famílias que dependem do bom andamento da empresa. Não tenho luxos, tirando a caça, continuo a ser um gajo simples… O que é quer que lhe diga mais, camarada ?!... Ponha aí que sei dar valor ao dinheiro e ao trabalho, e sou amigo do meu amigo.
Curiosamente, eu conhecera este homem, não na Guiné, mas por ocasião de um estudo europeu sobre condições de trabalho, saúde e absentismo, nos anos 90. A Panificadora tinha então ganho um prémio de segurança, e poderia ser um potencial estudo de caso de “boas práticas”… Conheci o pai e o filho através do médico do trabalho que tinha uma avença com a empresa e que fora meu aluno. Conversa puxa conversa, acabei por saber que ele tinha estado na Guiné, antes de mim, mas não longe dos sítios por onde passei e penei…
Já nessa altura eu gostava de dizer que o mundo é pequeno e que um dia voltaria a tropeçar na guerra da Guiné. Também eu, como muita gente, precisava de exorcizar os fantasmas do passado.
− Chegou a hora do repouso do guerreiro, camarada! – disse-lhe eu, da última vez que estive com ele, já depois de enviuvar.
− Esse é um dos problemas da malta da nossa geração… Muitos nunca fizeram férias, passaram a vida a trabalhar e a poupar, não gozaram a vida… Falo por mim… Como saber que estamos a chegar ao fim da picada ? Ainda gostava de lá ir, à Guiné, mas não sei se tenho força nas canetas…
− Mas já agora diga-me porquê e para quê voltar à Guiné?!... Se a pergunta, claro, não o ofender… – pedi-lhe eu. (Continuávamos a tratar-nos por camaradas, mas não por tu, ao fim destes anos todos, cerca de vinte e tal…).
Pesou a pergunta antes de responder:
− Porquê ?... O criminoso gosta sempre de voltar ao local do crime – respondeu-me com um misto de bonomia e malícia.
− E para quê, já agora ? – voltei a insistir.
− Olhe, sempre ouvi falar do Saltinho e dos rápidos do Corubal, até se dizia que era a parte mais bonita da Guiné… Andei por lá perto, mas nunca lá fui, nunca vi sequer o rio Corubal. Era um dos sítios da Guiné que gostava de visitar… E, depois, se conseguir fazer alguma coisa por aquela gente, tanto melhor.
Demos um grande abraço de despedida… e eu prometi a mim mesmo escrever a história de vida deste homem… Porque não pô-lo também na Galeria dos Meus Heróis ?!
Sei que voltou o ano passado à Guiné-Bissau e ainda encontrou gente do seu tempo, nas tabancas que ele conhecia… Mandou construir , do seu bolso, uma escola na antiga tabanca onde estivera destacado, e que ardera em 1967. Julgo que fez as pazes com o passado, tal como eu.
Faltou-me na altura, por lapso ou talvez por pudor, perguntar-lhe a origem da alcunha “Duque de Palmela”… Não tive lata ou faltou-me o tempo, se bem que ele nunca tivesse rejeitado, bem pelo contrário, a alcunha que lhe puseram na tropa e na guerra. Estendia a mão, muitas vezes, aos amigos dos seus amigos, quando se apresentava, dizendo com graça: 'O Duque de Palmela, para o servir!'... Inclusive tratava a esposa por “duquesa… de Santiago do Cacém”. Tinha sentido de humor.
Um antigo camarada, furriel, da sua companhia, explicou-me, ao telefone, a origem da alcunha:
− Em Santa Margarida, no IAO, já toda a gente o tratava por “Palmela”… Acho que não havia mais ninguém daquelas bandas… Ao que parece, no barco, quando fomos para a Guiné, é que apareceu o “Duque”… Ele gostava de jogar às cartas, para passar o tempo, como boa parte dos militares embarcados. Mas não tinha sorte ao jogo… ‘Só me saem duques’, queixava-se sempre que perdia… Afinal, foi um camarada com azar ao jogo e sorte aos amores e aos negócios, pelo que eu sei e pelo que me contas… Quando chegou a Bissau, já toda a malta o tratava por “Duque de Palmela”… E acho que é também uma justa homenagem, visto o filme ao contrário, da frente para trás…
− É uma figura ilustre da nossa história, o 1º Duque de Palmela, político, militar e diplomata, um patriota do tempo do liberalismo − acrescentei eu. − Não nasceu em Palmela, mas para o caso pouco importa. No tempo da nossa monarquia constitucional davam-se títulos nobiliárquicos honoríficos por razões nem sempre nobres... aos amigos e correligionários. Homenageavam-se homens e terras. Dizia o povo, com sarcasmo: "Foge, cão, que te fazem barão!... Mas para onde se me fazem visconde?!"...
Aqui para o leitor, que ninguém nos ouve: não me admirava nada que no próximo 10 de Junho a gente ainda vá a tempo de ver, na televisão, o nosso ex- camarada M. Santos a receber a comenda de mérito industrial... Não seria nada de mais justo, ver o nosso padeiro chegar a comendador depois de ter comido o pão que o diabo amassou.
Afinal, mudam-se os tempos, mudam-se as honrarias e as mercês...
© Luís Graça (2019). Todos os direitos reservados.
___________
 1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 2 de Novembro de 2018:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 2 de Novembro de 2018: