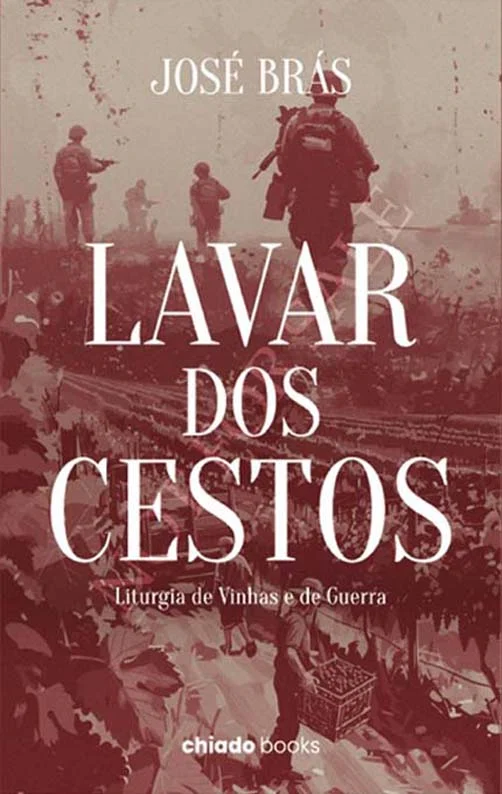1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 3 de Julho de 2025:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 3 de Julho de 2025:Queridos amigos,
O romance do José Manuel Saraiva tem a marcada distinção de entrosar do princípio ao fim a história de uma comissão na Guiné e uma paixão que irá desaguar em amor perdido. Há na narrativa um daqueles elementos barrocos que já tenho visto apreciados noutros autores, extensas tiradas envolvendo memórias, numa linguagem incompatível com a preparação de quem ouve, no caso vertente o alferes regressa ao seu aquartelamento, de que naturalmente só restam vestígios, aparece-lhe alguém de outra geração, o antigo combatente aproveita o encontro para falar de si, antes, durante e depois daquela guerra que, afinal, não lhe disse muito, mas ficaram vincadas aquelas memórias dos mortos e feridos, e então ele faz sobressair o clangor do sofrimento do que fora uma paixão avassaladora, como a vida a férias revelara o afastamento da sua apaixonada, e como, a partir daí, aquela Guiné não passara da sensaboria de uma sobrevivência sem lustre. E ele viera agora, àquele mesmo local, verter as lágrimas que então contera, a sua vida transformara-se em amargura, uma criança daquele seu tempo da guerra, é agora o adulto que ouve todo o responso. Registo a singularidade deste romance.
Um abraço do
Mário
Um regresso à Guiné mesmo sabendo que não há reencontro com amor perdido
Mário Beja Santos
O romance As Lágrimas de Aquiles, de José Manuel Saraiva, com prefácio de Manuel Alegre, conheceu a sua primeira edição em 2001; o autor tem o seu nome ligado ao jornalismo, a documentários para a televisão sobre a Guerra Colonial, caso de Madina do Boé – a Retirada e De Guilege a Gadamael – O Corredor da Morte, foi igualmente guionista de telefilme. Este seu primeiro romance tem a originalidade de integrar na comissão militar uma dolorosa história de amor, numa elaboração de discurso narrativo de alguém que volta décadas depois da guerra ao aquartelamento onde viveu e confirma que há memórias da guerra que nunca se apagam e que naquele local lhe foi confirmado que não há ponto de regresso com o amor perdido, ali a vida se cindiu, e para sempre.
Este personagem da literatura de regressos dá pelo nome de Nuno Sarmento, é um tanto alter ego do escritor que ali combateu, foi agora encontrado em estado crítico e deixou uma documentação ao amigo. E de supetão partimos para a viagem de regresso à Guiné: “Aqui fiz a guerra. Aqui aprendi a encarar a imprevisível brutalidade da morte. Aqui pela primeira vez vi morrer e aos poucos fui morrendo. Mas já nada existe de concreto senão marcas dispersas da unidade a que pertenci, das que a antecederam e lhe sucederam no infernal processo de rendições.” Recorda os seus mortos, a correspondência recebida dos pais, a vida enamorada e a paixão que trouxe de Coimbra. E vão assomando ternas lembranças da mulher amada, de nome Catarina, os primeiros desastres da guerra, o primeiro morto, as primeiras cartas enviadas para essa doce companheira.
Numa sucessão de flashbacks, vamos ver Nuno Sarmento a formar a sua companhia em Santa Margarida, a boa impressão que lhe provocou o comandante da companhia; e depois a partida para a guerra, a viagem de comboio até Alcântara, voltamos à Coimbra dos estudantes, o dia da inspeção militar na sua terra natal, o reencontro com gente da sua infância. Agora Nuno está sentado nesse local onde houve o seu quartel na Guiné, chegou o momento de mudarmos o discurso, vai aparecer um guineense a quem ele contará muitos mais do que a sua guerra. “Neste momento em que recordo o meu passado de guerreiro transitório reparo que do outro extremo do quartel, próximo do local onde se situava o abrigo dos soldados do pelotão de artilharia, agora coberto de vegetação rasteira e muito densa, surge um homem em passo lento.” Era Aliú Cassamá, então criança quando por ali passou Nuno, perguntado se viera saudoso, o antigo alferes responde: “Não foram saudades nenhumas. Ninguém tem saudades da guerra. Mas não gostaria de morrer sem voltar aqui, onde deixei perdidos dois anos da minha juventude. Acho que devemos voltar sempre aos lugares que um dia foram nossos, mesmo nas piores circunstâncias.” Aliú diz que tem uma coisa para mostrar a Nuno e vai buscá-la, regressa com um objeto retangular embrulhado num saco de plástico enegrecido, Aliú diz que é uma coisa do alferes Duarte, falecido durante a guerra.
Vem à tona mais memórias da guerra, não falta o sentimento da dor: “A guerra emudece-nos. Rouba-nos as palavras e as ideias. Deixa-nos despidos de nós. Perdemos o nome e a genealogia, a noção do tempo e dos valores. E porque não há espaço para os sentimentos tornamo-nos cruéis e assassinos, nem que seja pela brevidade de um instante. A guerra é um território absurdo e desumano, sem portas de entrada e de saída, um lugar de ódios levado ao extremo de cada homem.” Vem-lhe à mente a decisão que tomou de mandar matar um guerrilheiro em estado agonizante; lembrou-se da estima que guardara do tal alferes Duarte, sem saber bem porquê ocorreu-lhe o modo como conhecera Catarina e com ela aquela paixão que ele considerava tão sublime; vai-nos dando excertos das suas cartas de amor e o anúncio que lhe faz de que vai partir para férias, antevê tempos de felicidade na sua companhia.
Mas este romance é feito de flashbacks, Nuno acompanhado de Aliú percorrem agora outros vestígios do aquartelamento, até lhe aflora a recordação da prisão onde estivera um guerrilheiro que até merecia as simpatias dos soldados, e que um dia se invadiu, o comandante mandou fazer uma batida, sem resultado.
As férias de Nuno transformam-se num desastre, há qualquer coisa de artificioso nos laços de ternura, Catarina está tensa, ambos dizem que o outro está diferente, acabam por se ofender, Nuno sente-se magoado e decide viajar até Lisboa, na véspera do seu regresso à Guiné, Catarina procura-o em Lisboa, voltam a desconversar, a despedida, sem qualquer equívoco, é de uma tremenda frieza. A correspondência que irão trocar deixa bem claro que a relação não tem futuro, Nuno vive num estado de espírito de grande sofrimento.
E voltamos à guerra, um amigo escreve a Nuno dizendo que Catarina vivia agora um outro amor. E retoma-se a conversa entre Nuno e Aliú, vai desfiando os últimos meses da sua comissão militar, chega um novo alferes que vem substituir um oficial morto, quem chega também traz uma história de amor acidentada. Acidentes militares não faltarão não para contar, inclusive uma emboscada em que um furriel e os soldados, num estado de pânico durante uma emboscada, põem-se a milhas e deixam o alferes sozinho, o que dará um processo disciplinar.
E assim chegamos ao que Aliú traz para mostrar a Nuno:
“Quer mostrar-me um poema que o alferes Duarte deixara escrito num pedaço de cartão colado a uma placa de madeira que mantivera preso à cabeceira da cama durante toda a comissão (…). Retiro com todo o cuidado o objeto do saco de plástico e leio:
Com uma lágrima escrevi Maria
teu nome sobre as águas debruado
foi-se o nome na corrente que fazia
aos poucos partindo-se deitado.
Com uma lágrima escrevi saudade
de ti Maria amor, Maria em Paz
com outra escrevi dor, esta verdade,
nas ruas da cidade onde não estás”
Nuno compra o poema a Aliú, vai agora regressar a Bissau. Tudo isto é matéria da carta de Nuno Sarmento deixada a este seu amigo, Valentim Marques de Sousa. Nuno viera da guerra, parecia pronto a reorganizar a vida: foi explicador de português e de inglês, empregado de mesa, intérprete numa agência de viagens, contabilista, revisor no jornal, pastor no Alentejo, motorista do ministro de quem fora colega nos tempos da faculdade. Acabara na miséria, morrera da falta de amor, agora há que apressar o seu funeral. Está tudo bem claro, há guerras que nunca acabam.
_____________
Nota do editor
Último post da série de 9 de janeiro de 2026 > Guiné 61/74 - P27620: Notas de leitura (1883): Uma publicação guineense de consulta obrigatória: O Boletim da Associação Comercial, Industrial e Agrícola da Guiné (8) (Mário Beja Santos)