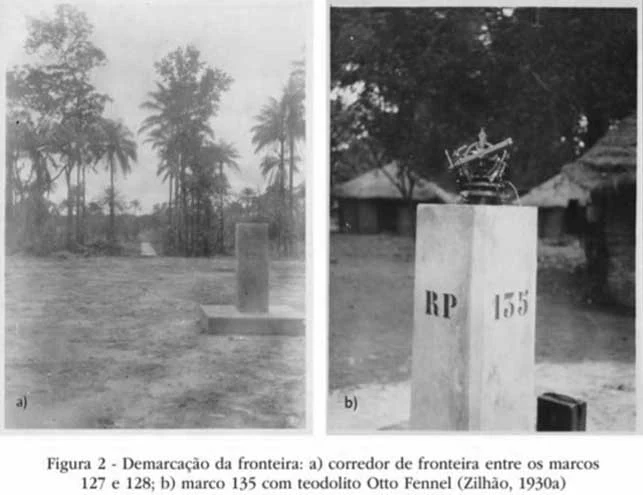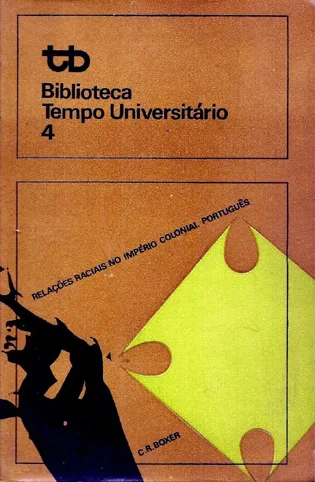1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 22 de Março de 2025:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 22 de Março de 2025:Queridos amigos,
Prosseguimos na leitura de Descobrimentos no Imaginário Juvenil (1850-1950), a exaltação do passado colonial com os seus heróis-modelo vão integrar a literatura infanto-juvenil, nomeadamente no fim da monarquia constitucional, a I República e as primeiras duas décadas do Estado Novo. Os heróis dos Descobrimentos enfileiram com outros, tais como Viriato, Egas Moniz, Nuno Álvares Pereira. Impor-se-ão vários nomes, tais como Ana de Castro Osório e Virgínia de Castro Almeida, mas será Mariazinha em África o bestseller desta literatura nos anos 1939 e 1940. Estuda-se aqui a imagem do outro, a ação missionária, obviamente que da monarquia ao Estado Novo há nuances no tratamento do outro, pode aparecer como inferior, aberto ou indisponível à civilização, fala-se no bom selvagem; o Estado Novo irá desenvolver o exotismo, os perigos e a fantasia, será o caso da saga da travessia africana de Capelo e Ivens; e há o sistema de valores, o enaltecimento de Nuno Álvares ou do Infante D. Fernando, não será na escola mas fundamentalmente na imprensa que se irá privilegiar o esforço na criação de infraestruturas, desenvolvimento material, serviços de saúde, etc. Deixaremos para o terceiro e último apontamento o modo como os Descobrimentos serão abordados por associações e organizações da juventude, caso da Mocidade Portuguesa.
Um abraço do
Mário
Não fomos combater na Guiné pela integridade de Portugal de Minho a Timor?
(Uma abordagem dos valores educativos entre o liberalismo e o Estado Novo) – 2
Mário Beja Santos
Falando por mim, e seguindo integralmente o que se escreve na obra de ensaio Os Descobrimentos no Imaginário Juvenil (1850-1950), por Maria Cândida Proença e outros, edição da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, éramos educados nos bancos da escola de que o Infante D. Henrique fora o impulsionador dessa ação patriótica engrandecedora que tornou Portugal imperial – e manda o rigor que se diga que não foi obra exclusiva do Estado Novo, a monarquia constitucional também fez soar esta trombeta.
O que mudou ao longo deste século (entenda-se 1850-1950) é a visão que se pretendeu dar do Infante. “Para os autores oitocentistas o Infante era fundamentalmente um homem de ciência dotado de profundos conhecimentos para a época que teriam sido causa do progresso que pode incrementar nos Descobrimentos marítimos.” Homem sábio, até versado nas matemáticas e conhecedor das artes de navegar. “Os avanços da ciência e a divulgação do positivismo eram favoráveis à apresentação de um herói humanizado longe da visão hagiográfica que mais tarde vinha impor-se.”
Tudo muda no final do século, Fortunato de Almeida introduz uma nova perspetiva, ao atribuir-lhe o plano de encontrar um caminho alternativo para a Índia e até a vocação apostólica de dilatar a fé cristã. Atribui-lhe igualmente um plano em que convergiriam três empresas gigantescas, a conquista territorial em Marrocos, a descoberta do caminho marítimo para a Índia e o descobrimento das ilhas do Atlântico.
Como observa a autora, a mitificação do Infante foi ao ponto de se procurar apresentar as suas ações menos exaltantes como movidas pelo imperativo superior da fé e do espírito de cruzada. Era uma constante dos manuais que o Infante era muito mais movido pela fé do que por motivos comerciais, e exigia-se em termos de Ministério da Educação que se escrevesse à frente do nome do Infante que era mestre da Ordem Militar de Cristo. Foi assim que D. Henrique passou do herói essencialmente laico do positivismo oitocentista para o santo mitificado pelo Estado Novo, passou a ser um exemplo de virtudes a seguir pela mocidade do nosso país.
Igualmente se desmonta a fábula que houve uma Escola de Sagres, que o Infante teria mandado erigir um observatório astronómico em Sagres, Mattoso, célebre autor de compêndios de História, dirá que o Infante estabeleceu uma escola de cosmografia náutica. Toda esta incorreção histórica teve momentos de delírio, como escreveu o Padre Marcelino da Conceição dizendo que a Escola de Sagres era a universidade náutica onde portugueses e estrangeiros aprenderam a navegar cientificamente, os Descobrimentos tinham sido feito com método e com certeza científica. Um dos responsáveis por este disparate foi Oliveira Martins. Não há uma só prova documental de alguma Escola de Sagres.
Outras incorreções aqui apresentadas pela autora prendem-se com o descobrimento e colonização do Brasil, procura-se deixar ciente de que já se conhecia a rota antes de 1500; também há mitificação quanto ao Império do Oriente, veja-se o caso de D. João de Castro, herói mítico da Índia nos compêndios:
“O relato dos cercos de Diu e dos atos de valentia que então se teriam praticado sempre estiveram integrados no conjunto das façanhas que preenchiam a memória oficial transmitida nas nossas escolas. É interessante verificar, porém, que no relato do segundo cerco o episódio das entregas das barbas pelo vice-rei como penhor do empréstimo pedido, apenas surge nos compêndios dos anos 30. Mais uma vez, pela sobrevalorização de um pequeno pormenor, a História era posta ao serviço da transmissão no conjunto de valores que o regime pretendia impor. O Império do Oriente era, nos livros escolares, o símbolo por excelência da grandeza de Portugal, mas, a partir da década de 80 do século XIX, passou a ser também a causa primordial da decadência da raça e do Reino. Neste ponto os manuais acompanham as teses então vigentes sobre a decadência da Pátria. A riqueza, o luxo, o dinheiro fácil, trouxeram consigo a indolência e a corrupção que teriam estado na origem da decadência do Império, acelerada a partir de finais do século XVI.”
Também se procura desmontar a teoria obtusa da nossa ação evangelizadora no Brasil, procurou-se exaltar a imaginação dos homens com a grande aventura dos bandeirantes. E mesmo sobre as campanhas de África e a ocupação do território não se poupou um elogio a Portugal como o melhor povo colonizador, e a prova que o colonizado estava permanentemente agradecido ao colonizador era aquele régulo timorense que se tinha deixado fuzilar para não abjurar Portugal. Em jeito de conclusão, a autora enfatiza a evolução do discurso nos manuais escolares, as tais três etapas em que se ia encaminhando a gesta dos Descobrimentos nos livros escolares falando no maior desenvolvimento científico, durante a monarquia constitucional até chegarmos aos grandes heróis do Estado Novo, como caso de D. Henrique ou de Afonso de Albuquerque que eram sábios, escritores e cientistas.
Feita esta exposição à escola e aos Descobrimentos, Luís Vidigal vai aludir à expansão contada às crianças, dá-nos a génese e desenvolvimento de uma literatura infantojuvenil em Portugal, refere os seus nomes e foca-se em duas autoras: Virgínia de Castro e Almeida e Ana de Castro Osório, como elas irão apresentar este passado grandioso que acabava por ser fonte inspiradora para o presente, os portugueses daqueles tempos, que descobriram e conquistaram o mundo destacavam-se pela valentia e a confiança em Deus. Grandes reis marcaram o sentido da História, no fundo era o moralismo com que pretendia apresentar-se o Estado Novo, como escreveu Virgínia Castro e Almeida: “A maior fortuna de quem obedece está na amizade e na confiança de quem manda. Mandar e obedecer são ofícios iguais aos olhos de Deus. Quem manda mal vale menos que quem obedece bem.”
Temos depois a imagem dos outros, a conceção de que o selvagem, o preguiçoso encontra a sua redenção no trabalho, a ação missionária jogava em vários tabuleiros: a escola, o serviço de saúde, a aprendizagem da religião, mas também aqui houve francos desenvolvimentos. Por exemplo, na I República apostava-se na laicidade, com o Estado Novo marca-se outro conceito de civilização que é a de associar o primitivo à violência e à barbárie, ou seja, houve um humanismo republicano que se pautava por uma grande tolerância e passa-se agora para um ideal de civilização em que as escolas do Império são instadas a apresentar os grandes modelos da sociedade portuguesa. Veremos no próximo apontamento qual o papel da História de Portugal e dos Descobrimentos na ideologia e na conduta das associações e organizações da juventude, neste período de 1850 a 1950.
A mitologia da escola de Sagres
Imagem integrada em Portugal Colonial, nºs 7-8, 1931
Mocidade Portuguesa na Guiné, imagem da RTP Arquivos
_____________
Notas do editor:
Post anterior de 24 de novembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27460: Notas de leitura (1867): "Os Descobrimentos no Imaginário Juvenil (1850-1950)"; edição da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; 2000 (1) (Mário Beja Santos)
Último post da série de 30 de novembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27478: Notas de leitura (1869): "A Mais Breve História do Ultramar", de David Moreira (Porto, Ideias de Ler, 2025) (Virgílio Teixeira, Vila do Conde)