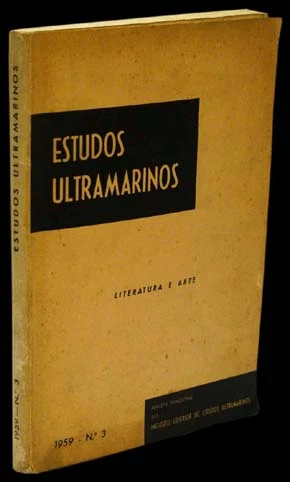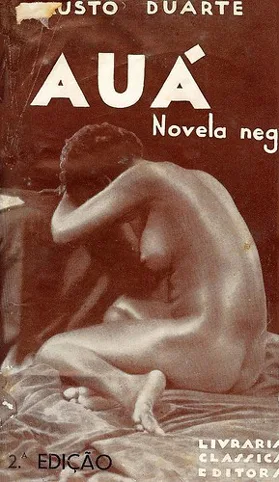1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 7 de Janeiro de 2025:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 7 de Janeiro de 2025:Queridos amigos,
Não é, de todo, uma completa novidade a referência à presença de chineses na colónia da Guiné e hoje na Guiné-Bissau, fruto da descendência de quem aqui chegou no virar do século, com o estatuto de degredado, António Estácio já escrevera um trabalho sobre o assunto, e mais tarde a parceria com Philip Havik aclarou não só o histórico dos degredados em África, por ordem das potências coloniais, como se completou a radicação dos chineses na Guiné, tanto no Sul como no Norte, como se ficou a conhecer melhor a sua descendência. Indubitavelmente, esses chineses tiveram um papel fulcral a aprimorar as variedades de arroz, tal qualificação também veio a ajudar o aparecimento de muitos outros ponteiros, caso de Manuel Pinho Brandão, assim este Sul se transformou no celeiro da Guiné. Os autores não tiraram conclusões apressadas sobre a institucionalização destas comunidades chinesas em África, há estudos por fazer, mas as imagens do artigo que publicaram na revista Africana Studia mostram como é indesmentível o que eles fizeram em prol do movimento agrícola guineense.
Um abraço do
Mário
Philip J. Havik, um devotado historiador da Guiné:
Quando escreveu em parceria com António Estácio sobre os chineses na Guiné (3)
Mário Beja Santos
Procurando dar continuidade aos trabalhos do investigador Philip Havik relacionados com a Guiné Portuguesa, recordamos o artigo que ele escreveu em parceria com o nosso saudoso confrade António Estácio sobre a presença dos chineses na colónia. A chegada de populações não autóctones era devida ao envio de pessoal ligado à governação, comércio, trato marítimo, tropa. As potências coloniais socorriam-se de marginais e de contestatários, degredados de múltiplas razões, desde o homicídio ao furto.
Os autores recordam:
“Estima-se que entre 1607 e 1775 mais de 50 mil degredados tenham sido enviados, pelos tribunais estatais e da Igreja Católica (incluindo os tribunais do Santo Ofício) para possessões ultramarinas, servindo como mão-de-obra, como pessoal militar e administrativo.”
E, adiante:
“As sentenças variavam entre seis meses à perpetuidade. Ao longo dos tempos é de notar uma mudança nos países de origem dos degredados, por exemplo após a Guiné obter autonomia administrativa de Cabo Verde em 1879, os cabo-verdianos continuavam a constar nos registos, mas a Guiné passa a receber mais degredados de Angola e São Tomé, facto que se manteve até ao final do século XIX. Ao mesmo tempo, registava-se um crescente uso político do exílio forçado, à base de condenações por insubordinação, motim e revolta criam uma concentração de opositores à monarquia em Bissau e em Bolama. Muitos dos degredados, sobretudo aqueles condenados a sentenças superiores a cinco anos, acabam por sucumbir a doenças tropicais. Alguns dos chineses recém-chegados também pereceram pouco tempo após a sua chegada, contudo, por estarem acostumados a um clima tropical asiático, provavelmente, resistiram melhor às intempéries da Guiné.”
Os autores referem-se às mudanças operadas no fim do tráfico de escravos e no início da plantação de culturas de renda. “No caso da Guiné, esta transformação baseou-se na introdução de amendoim e a colheita de amêndoas de palmeira (chamada coconote na Guiné). Ao mesmo tempo, a cultura de arroz também sofreu alterações profundas, através da comercialização, na região da África Ocidental, de variedades originárias da Ásia, por comerciantes da Gâmbia. A região do Casamansa até à Serra Leoa era tradicionalmente conhecida como a Costa do Arroz. Nos meados do século XIX, a crescente procura por parte dos colonos, de embarcações de cereais para a sua subsistência e exportação, fez com que outras variedades, vindas da Ásia, fossem introduzidas”.
Recorda igualmente o debate sobre a presença de comunidades de origem chinesa e dos seus descendentes na atual África do Sul só agora começa a ser feito, esta descendência era descrita como “coolies”. Os chineses chegaram em número reduzido à Guiné Portuguesa, e marcaram a história e a sociedade, matéria deste estudo.
É no contexto do processo de ocupação efetiva, do século XIX para o século XX que se operou a chegada de ponteiros de origem cabo-verdiana que na região do Tombali adquiriram terrenos para o cultivo do amendoim. Os autores falam num colono belga que tinha uma feitoria no rio Cacine, Pierre Puvel, tinha obtido uma concessão de 400 hectares em 1899 para exportação de borracha, Puvel fundou quatro feitorias nas margens do rio Cacine. Também pela região andou o general Henrique Dias de Carvalho, em 1898/9, com o propósito de adquirir terrenos, em nome de terceiros, tratou-se de uma época em que se pensou entregar a Guiné a uma companhia majestática, operação falhada. O então governador da Guiné enviou para Lisboa algumas amostras de arroz cultivado pelos Balantas, valorizava-se a produção de arroz, e os autores citam diferentes opiniões favoráveis ao cultivo do arroz, o principal alimento da população.
Chegou um grupo de chineses em 1895. “Existem indícios nos arquivos que, pelo menos, dois chineses, de nome Chan-a-leng e Las-Asseng, que se dizem oriundos de Macau e eram à época residentes em Bolama, terem feito um pedido para a sua repatriação em 1909. Enquanto o primeiro tinha sido condenado a sete anos de degredo, o segundo foi sentenciado a oito anos de degredo pelo crime de roubo. Outra questão que suscita dúvidas fundadas é o facto de estes recém-chegados serem chamados ‘macaístas’ , quando se tratavam de chineses vindos da região de Cantão, que emigraram para a Guiné.”
O escritor Fausto Duarte, que também foi funcionário administrativo faz referência a esta presença chinesa, dando-os como hábeis navegadores e pescadores com grande conhecimento da zona costeira, e também cultivadores de arroz em terrenos lodosos na região dos Bijagós, criaram sinergias importantes com as populações da zona de Catió, localizada entre os rios Tombali e Cumbidjã e encostadas às ilhas de Como e Caiar. “O rio Cumbidjã – junto com os seus afluentes – sem dúvida, o melhor curso fluvial em todo o curso da Guiné para a criação de arrozais; as marés fazem-se sentir rio acima até os afluentes, o rio de Hebi, Sare e Balana, numa extensão de mais de 80 kms. O facto de hoje ter nas suas margens muitas povoações cuja população trabalha os extensos arrozais demonstra que aquela escolha foi acertada.”
Dado importante, sublinhado pelos autores, é a atração chinesa pela zona do Tombali, provavelmente no período de 1915-1920 fazendo parte do fluxo migratório interno, do Norte para o Sul, houve fixação a Norte do rio Geba, a partir de Canchungo. “Apesar dos chineses terem aberto o caminho, os Balantas acabaram por se tornar os donos das sementeiras de arroz, o que lhe permitiu, mais tarde, reivindicar os direitos de usufruto da terra. O povoamento correu de forma pacífica, pelo menos inicialmente, porque os migrantes Balantas fizeram contratos com os Nalus.”
O governador Vellez Caroço procurou limitar a expansão desenfreada de pequenos ponteiros, deu-se a instalação de ponteiros de maior dimensão, europeus e mestiços nesta região de Catió, cresceu o cultivo de arroz e a partir dos anos 1930 introduziram-se estímulos à produção de arroz para exportação. Os autores descrevem a evolução do quadro da produção, recordando que houve aceitação e integração de muitos membros da comunidade chinesa na Guiné. “Estes laços, que também incluíram casamentos à moda da terra, foram marcados por uma reciprocidade, no sentido de permitir a cada parceiro obter certos benefícios, por exemplo acesso a produtos da terra, cuidados de saúde ou acesso privilegiado às chefias locais obtidas através das esposas. Inversamente, os sócios ou parceiras nativas receberam artigos de origem estrangeira e conseguiram contactos, apoios e bens".
O estudo de Havik e Estácio não esquece as lutas da libertação, referindo que alguns membros da comunidade luso-chinesa se juntaram ao PAIGC, como houve também quem tivesse entrado em rutura com Amílcar Cabral, outros emigraram para a Guiné-Conacri. “Apesar do conflito e das mudanças políticas que se seguiram, ainda se encontram descendentes da de terceira, quarta e quinta geração na Guiné-Bissau, por exemplo na região de Catió, onde se instalaram os primeiros chineses, mas também em Portugal para onde emigraram, a partir dos anos 1960.” Falta investigação sobre as comunidades chinesas em África e sobretudo nas antigas colónias portuguesas, “investigação que poderia dar resposta a várias questões como determinar se podemos sequer falar de uma diáspora chinesa ou de várias e se existem identidades sino-africanas ou se variam segundo o seu país ou região de destino.”
O leitor mais interessado por este estudo poderá ter acesso ao artigo publicado no n.º 17 da Revista Africana Studia - Edição do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, através do link https://ojs.letras.up.pt/index.php/AfricanaStudia/article/view/7379/6763.
António Estácio
_____________Notas do editor:
Vd. post de 21 de fevereiro de 2025 > Guiné 61/74 - P26516: Notas de leitura (1774): Philip J. Havik, um devotado historiador da Guiné: A sua colaboração num livro de arromba, Orlando Ribeiro em 1947, na Guiné (2) (Mário Beja Santos)
Último post da série de 24 de fevereiro de 2025 > Guiné 61/74 - P26524: Notas de leitura (1775): Um outro olhar sobre a Marinha na guerra da Guiné em "Os Mais Jovens Combatentes, A Geração de Todas as Gerações, 1961-1974", por José Maria Monteiro; Chiado Books, 2019 (2) (Mário Beja Santos)