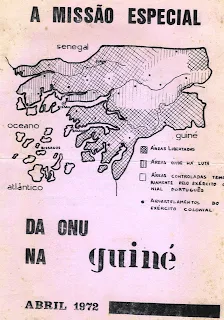Guiné > Zona Leste > Sector L1 > Mansambo > CART 2339 (1968/69) > Legenda do fotógrafo: "O milícia e guia das NT, Seco Camará: 56 minas detectadas e muitas guerras" (TM)... O Seco Camará, natural do Xime, esteve ao serviço das NT até ao dia em que foi
morto à roquetada, a 26 de Novembro de 1970 (Op Abencerragem Candente)... De etnia mandinga, era provavelmente o melhor guia e picador, ao serviço do sector L1, na zona leste...
Como já aqui escrevi, "o Seco Camará morreu ingloriamente em 26 de Novembro de 1970, nesta operação que eu aqui evoco e em que participei. Recordo-o, ainda hoje, com o seu inseparável cachimbo e o seu ar de cão rafeiro... Nunca saberei se alguma vez se sentiu (ou poderia sentir) português. Sei apenas que foi um bravo soldado - ou melhor, auxiliar dos militares portugueses - e eu não posso julgá-lo, sumariamente, com base nos meus valores ou princípios éticos. É claro que também não vou absolvê-lo com base no relativismo cultural: o facto de ser mandinga, descendente de um povo de guerreiros e conquistadores, não lhe davam quaisquer direitos, e muito menos o direito de vida ou de morte"... (LG)
Foto: © Torcato Mendonça (2007). Direitos reservados.
1. Mensagem de 7 do corrente, do
António José Pereira da Costa (Cor Art na reserva, na efectividade de serviço; comandou a CART 3494, Xime, 1972/1973):
Assunto - A Minha Guerra a Petróleo
Camaradas: Satisfazendo vosso pedido aqui vai um artigo para o blog, Sendo assim ficam a faltar 4. A série deverá ter o título supra. Este poderá chamar-se "Malan e Mancaman: duas maneiras de olhar a Guerra".
Um Ab.
2. A Minha Guerra a Petróleo (*) > O Malan e o Mancaman: duas maneiras de olhar a Guerra".
por Pereira da Costa
Antes do mais uma justificação para este título. Conheci, na Escola Prática de Artilharia [, EPA], um soldado cujo nome nunca soube, mas cuja alcunha ainda recordo, relacionada com a marca dos automóveis e não com o animal selvagem. Era o
Jaguar. Tinha a especialidade
Campanha 10,5 e, embora muito conhecido, não era nem bom nem mau soldado. Talvez se distinguisse pelo seu aspecto físico, magricela, meio escangalhado e com uma cara que dava ares do Groucho Marx. Creio que talvez soubesse ler pouco. Era hábito, nessa altura, que as pessoas não soubessem ler muito bem. Havia coisas mais importantes a fazer, como, por exemplo, trabalhar, na altura da vida em que se devia aprender essa minudência.
Nesse tempo, usava-se, ainda, na maior parte das cozinhas, o fogareiro a petróleo [, foto acima, à esquerda, **] que, na sua versão mais sofisticada, tinha uma cabeça
silenciosa. Porém, este
upgrade custava mais e, por isso, em muitas casas optava-se pela cabeça
barulhenta, que até havia quem dissesse que era mais barata e aquecia melhor.
O processo de acendimento do fogareiro era complicado e exigia um certo treino. Tudo começava com o aquecimento da cabeça, feito com álcool metílico ou
de queimar (colorido a azul, por ser tóxico). Depois, era necessário
dar à bomba, ou seja, agitar o petróleo dentro do depósito, pulverizando-o de modo a estivesse apto a ser queimado. A máquina podia entupir-se a qualquer momento ou ir-se a baixo e, se se apagasse, o processo teria de ser reiniciado, com a soltura dos consequentes impropérios por parte do utente. Se o fogareiro se avariava a oficina chamava-se funileiro ou picheleiro, consoante fôssemos mouros [, no sul,] ou morcões [, no norte]. Enfim, um processo laborioso que o fogão a gás veio terminar e que deixou na nossa memória o sinónimo de um certo anacronismo.
O
Jaguar era esperto e, da sua análise à vida militar, deverá ter concluído que faltava algo – muito significativo – em termos de organização para que as coisas funcionassem bem. Daí que, ainda na EPA, utilizasse a expressão: "Isto é uma Guerra a Petróleo!" para resumir uma conversa sobre os defeitos (e virtudes) da vida militar que tanto contrastava com a sua alegre e desejada vida civil.
Encontrei-o na Guiné, em 1968, integrado num pelotão de artilharia da então BAC 1, a bordo de um batelão (daqueles sem motor que andavam
de braço dado com um que tinha motor) que passou por Cacine, com destino a Gadamael, creio.
Fixei a expressão e, desde então, acho-a muito rica, traduzindo em poucas palavras, uma realidade incontornável, sobre muitos aspectos, da Guerra. Aqui fica a justificação para o título destas crónicas.
O Xime, o Xime ainda, o Xime sempre. (***)
Passei ali aqueles que, ainda hoje, considero os cinco piores meses da minha vida. Por razões que não descortinei, nessa altura, a CArt 3494 utilizava dois guias-picadores para as suas operações e que eram pagos como tal: o Malan Djai Quité e o Mancaman (**). Teoricamente guiariam alternadamente as forças que saíssem, procurando também detectar minas, o que lhes asseguraria um pequeno pecúlio, creio que de cerca de mil escudos, por cada mina anti-pessoal e dois contos, por cada mina anti-carro.
Estas, porém, o inimigo não tinha muito motivo para utilizar, uma vez que a tropa saía sempre em direcção ao Sul e apeada, considerando que nessa direcção não tínhamos qualquer aquartelamento até à curva do Corubal. Nunca entendi bem como é que numa área onde andávamos a corta-mato ou por trilhos pouco batidos, se poderiam colocar minas com boa possibilidade de serem accionadas. O inimigo poderia colocá-las, mas nada lhe garantia que iríamos passar naquele trilho e não a todo-o-terreno ou não abriríamos outro, alguns metros mais ao lado, que a Natureza pressurosamente iria fechar nos dias seguintes.
Detectar minas parecia-me uma coisa problemática, a menos que se soubesse onde íamos passar e, forçosamente com pouca antecedência, ali as colocassem. Efectivamente, da antiga estrada para a Ponta Varela e Ponta do Inglês restava pouco mais de um kilómetro. Depois, o terreno era "todo ou quase todo igual" e a progressão era feita a todo-o-terreno, com uma ou outra referência. Claro que poderíamos descer pela margem do rio, tendo-o sempre à vista e ao nosso lado direito, o que facilitava o movimento e dava a possibilidade de nos opormos às travessias, que, às vezes o inimigo tentava mesmo à luz do dia. De qualquer modo, uma coisa era certa: o caminho que seguiríamos entrava no âmbito do cálculo das probabilidades, um a dois kilómetros depois de sairmos do arame farpado.
Eram bem diferentes os dois guias, embora fossem ambos mandingas.
O Malan, mais velho, rondaria o cinquenta e cinco anos. Era, portanto velho, no contexto da população, mas exibia os restos de uma constituição física notável que lhe permitia realizar sozinho trabalhos agrícolas, recorrendo a alfaias tradicionais. Usava uma espécie de remo, com cerca de dois metros de comprido e, espetando a pá no solo com uma inclinação inferior a 45º, ia removendo
pasadas de terra que punha para o lado, abrindo uma leira onde plantava arroz.
Outras vezes, pescava com uma espécie de rede (uma
ridia, como ele dizia) e apanhava uma espécie de lagostins cuja cabeça tinha o comprimento quase igual ao do corpo. Eram saborosos e, infelizmente, poucas vezes apanhava mais de dez. Estou em crer que seria uma espécie de lagostins adaptados à água salobra, muito semelhantes aos que, por cá se desenvolvem nos arrozais.
O Malan fumava um daqueles cachimbos de madeira que enchia com toda a calma, dobrando cientificamente a folha do tabaco. Era um trabalhador infatigável e um guia de confiança. Era casado com uma mulher, mas vivia sozinho num abrigo minúsculo, construído por ele. Aproveitava o reabastecimento às auto-desfesas para visitar a mulher, em Demba-Taco. Levava-lhe dinheiro e alguns produtos da terra e eu nunca entendi de que é que uma mulher bastante mais nova que ele, vivia numa tabanca tão pequena e com tão poucos recursos.
Ao que me foi dito, durante os ataques com armas pesadas, sentava-se tranquilamente em cima do abrigo a fumar o cachimbo e explicava que "O homem "mure", quando "mure"!" e, por isso, não tinha grande necessidade de se abrigar. Ao que parece teria problemas sexuais de impotência, mas também de desejo.
O alferes Pinho da Artilharia contou-me que um dia, durante uma operação, resolveu pôr-se a gritar no meio da bolanha de Lântar: "A tabanca matou o meu caralho!", enquanto mostrava a "prova do crime". Durante o meu tempo, só recebi queixa da Maria, viúva de um furriel dos comandos, e que vivia com um filho de quatro ou cinco anos.
Uma noite, o Malan resolveu visitá-la. Creio que não terá sido bem recebido ou nem sequer tolerado nas proximidades. Depois... uma intervenção da vizinhança em apoio da Maria resolveu o problema. No dia seguinte, ela veio apresentar queixa e eu lá tive que "lavar o cérebro" ao Malan.
O filho da Maria era o meu adversário de óri. De vez em quando aparecia, para me ensinar a jogar. Trazia a caixa com os 12 buracos e as 48 sementes e depois sentávamo-nos frente e frente, ele no chão, com ar grave de quem sabe, e eu num banco baixo, a ver se desta vez é que ganhava um joguito. O "Balantazinho", embora não o fosse, mexia as sementes de palmeira com grande rapidez ao longo dos buracos e eu, por mais que me esforçasse, ficava sempre em segundo lugar. No Porto, este é primeiro dos últimos, o que não é nada mau. No final do derby bebia a taça – um Sumol de laranja – e ia-se embora abraçado à caixa do jogo, talvez a pensar que o capitão nunca mais aprendia a jogar uma coisa tão simples como aquele jogo tão antigo.
Um dia recebemos informações de que Tóda Nafemba e o Biota Tanhala andavam pelas redondezas e preparado-se para fazer das suas. A notícia (A-1, como é de calcular) dizia que um deles era natural do Xime. Convoquei o Malan e perguntei-lhe se sabia quem era. Respondeu-me que sim e acrescentou:
- Esse gajo cá presta e tem cu pequenino de Malan.
Intrigado quis saber porquê. Fiquei então a saber que o Malan tinha sido campeão de uma espécie de sumo, mas pratica do com algo parecido com umas cuecas-fio-dental, em cabedal grosso. Ambos os contendores se agarravam pela cintura e procuravam, aplicando rasteiras, derrubar o adversário. Nos bons velhos tempos do Malan tinham competido e o agora guerrilheiro sempre fora levado de vencida. Mesmo sem o equipamento adequado, o impedido da messe, o atirador Costa, desafiou-o para um combate ali e naquele momento. O Costa, empregado de mesa do Solmar, em Lisboa, era um malandreco da cidade e julgou que podia "dar baile" ao velhote, mas como "quem sabe não esquece" desistiu à segunda queda.
Nas conversas que tive com ele, o Malan pareceu-me verdadeiramente infantil. Não estava sequer capaz de entender o mundo para além do que via e sentia. Para ele a vida não ia além da sua tabanca e da natureza que a rodeava, do trabalho na terra ou no rio e, agora, porque era preciso, nem ele sabia bem porquê, fazia a guerra. Não creio que odiasse
O Inimigo ou que tivesse qualquer assomo de patriotismo, na sua acepção mais corrente, naquele tempo. Julgo que lhe tinham dito que os
Turras eram maus e que ele tinha que guiar a tropa contra eles. Além disso, sempre ganhava dinheiro o que terá sido uma promoção social a que se foi habituando. A sua vida repartia-se quase exclusivamente pela sua actividade como guia-picador e os trabalhos que lhe asseguravam a subsistência.
"Este gajo é puro!", dizia o alferes Gomes depois de mais uma conversa metafísica entre ambos. Falavam de Deus (ou dos Irãs), da Natureza e dos hábitos dos Mandingas. A argumentação do Malan era pobre, mas não havia quem o demovesse das suas convicções acerca da sua fé ou da estrutura social e valores éticos dos Mandingas, que ele aceitava, sem hesitar. Enfim, seria aquilo a que poderíamos chamar a encarnação do "Bom Selvagem". Já perguntei por ele à
malta que lá foi matar saudades. Ninguém sabe qual foi o seu destino, após a independência, o que não é nada bom sinal... Velho, renitente e tendo colaborado muito com os
colonialistas, não lhe auguro um bom destino...
O outro guia era o Mancaman. Claramente mais novo que o Malan, era alto, bastante magro e vestia sempre à moda muçulmana tradicional. Falava baixo, parecia medir as palavras ou digerir as perguntas que lhe fizessem ou as deixas do interlocutor. Só depois de ter estudado bem o que lhe fora dito, respondia. Dir-se-ia que não queria ser apanhado em falso ou em contradições. Esfingicamente fechado era-me difícil saber o que pensava.
Pouco depois de eu ter chegado, começou a pretextar motivos para não guiar a companhia. Nunca entendi aquele volte face que coincidiu com a minha chegada. Presumo que terá pensado que eu imprimiria outra orientação à actividade operacional. Parecia estar farto de guerra e, por isso, procurava sair dela ou, no mínimo, reduzir a sua participação, a pouco e pouco. Creio que descria já de uma "esmagadora vitória das NT" e, sentenciado a viver naquela terra, não vislumbrava uma saída para o impasse em que se encontrava. Claro que o dinheiro que ganhava era-lhe fundamental para a sua sobrevivência, mas comprometia-o com algo de que queria afastar-se. Qualquer que fosse a sua opção teria custos. Posto perante a evidência de que tinha de continuar a participar nas acções da companhia, cedeu, com relutância e reatou a sua colaboração.
Confesso que desconfiei dele.
Todavia, pensando melhor, comecei a compreender a sua indecisão e até angústia. Ele deveria estar a ver para o futuro. É que, depois de Junho de 1972, as populações e os militares do recrutamento local, ou mesmo simples apoiantes da acção do Exército viviam, diariamente e há vários anos, o desgaste da guerra e, numa observação simples, podiam aperceber-se de que os campos estavam cada vez mais extremados e que a guerrilha, se não estava a ganhar a guerra, também não dava sinais de regredir, havendo até sítios onde já há alguns anos não era possível ir sem que isso implicasse uma operação militar de custos mais ou menos elevados e mais-valias duvidosas. É que, ir a um dado local só por ir não faria sentido. Permancer lá, teria custos consideráveis. Restava a última hipótese que era normalmente a mais corrente: ir, destruir o que houvesse e matar quem se revelasse, uma vez que a "população sob duplo controlo" era cada vez mais um mito.
Que é que um cidadão Guineense poderia fazer, nesta situação? Não tenho dúvidas de que os mais atentos começavam a interrogar-se acerca do modo como tudo aquilo iria terminar. Creio que alguns começavam a prever que o fim seria certamente dramático. É dificílimo ter de optar em tempo de guerra ou grave convulsão. Porém, a vida real obriga a que essa opção seja uma escolha imediata e com reflexo na acção diária. A História cobra sempre dividendos aos vencidos de um fenómeno social e o cansaço da guerra, aliado à falta de êxitos claros da parte que apoiavam, dava-lhes a indicação de que maus tempos aí vinham. Só não sabiam quando.
A tabanca do Xime estava situada numa posição excêntrica que permitia que fosse abordada sem que o pessoal vigilante da companhia fosse alertado. Em noites de Lua-nova era mesmo difícil detectar movimentos para além do arame farpado. Daí até ao Poindom não havia ninguém. Depois, não sei. Estimo que as populações sob controlo do inimigo se dispersariam até à curva do Corubal. Não tenho elementos para dizer se e onde o inimigo residia naquela área.
Parecia que ali havia uma Terra de Ninguém. O PAIGC controlava as populações e o terreno para Sul do Poindom. Para Norte e até à linha definida pelas três tabancas (Amedalai, Taibatá e Demba-Taco), o domínio parecia ser nosso. Quase de certeza que o Mancaman não trabalhava para o PAIGC, mas tudo indica que sentiria uma certa pressão para reduzir a sua colaboração connosco e, se bem observado por alguém infiltrado na tabanca, poderia dar indícios utilíssimos, mesmo involuntariamente.
É o retrato que tenho esboçado destes dois homens que, em última análise, reagiam como podiam a uma situação social e política que martirizava a sua terra. Um nem sequer questionava a escolha que tinha feito e, como é habitual, terá sido trucidado pelos acontecimentos. O outro via-se entre dois fogos, sem possibilidade de optar, mas imaginando que se aproximavam tempos aos quais, no mínimo, teremos de chamar difíceis. Hoje podemos culpá-los de terem feito escolhas más. Será a opinião dos teóricos detentores da solução depois da poeira do cataclismo ter assentado. Hoje explicam como se deveria ter feito, mas é como se resolvessem um problema cuja solução lhes foi fornecida pelo desenrolar da História.
[ Revisão / Fixação de texto / bold / título: L.G.]
___________
Notas de L.G.:
(*) Vd. último poste da série > 13 de Dezembro de 2009 >
Guiné 63/74 - P5456: A minha guerra a petróleo (ex-Cap Art Pereira da Costa) (1): Esta noite fomos ao Fiofioli
(**) Com a devida vénia... Fonte: Poste de
7 de Abril de 2009 > Casa Hipólito, em Torres Vedras, do blogue Batalhão de Artilharia 1914, Tite, Guiné-Bissau
(***) Vd. tambem 2 de Outubro de 2008 >
Guiné 63/74 - P3263: Álbum fotográfico do Renato Monteiro (3): Xime, o sítio do meu degredo
2 de Janeiro de 2010 >
Guiné 63/74 - P5578: Memórias de um alferes capelão (Arsénio Puim, BART 2917, Dez 69/Mai 71) (7): Mancaman, mandinga, filho do chefe da tabanca do Xime, um homem de paz
(...) Nunca galgou a graduado de 2.ª linha; negou-se, certa vez, a ir numa operação para além de Ponta Varela; odeia os militares portugueses que maltrataram prisioneiros «turras» para obter declarações; condena com grande revolta as chacinas praticadas pelas tropas prtuguesas nos primeiros anos da guerra; e sempre que os oficiais de artilharia fazem fogo para o acampamento do Poidon (****), que ele deu a entender estar muito fraco e já não ser o que foi em tempos atrás, ele olha-os com uns olhos de fúria, o que poderia sugerir a presença de membros da tabanca ou mesmo de pessoas de família naquela área.
(...) Para mim, Mancaman é, acima de tudo, um homem que, como confessou, «não gosta da guerra» e «a sua lei (muçulmana) não quer guerra»; um homem que viveu, pessoalmente, o drama da guerra entre Portugal e Guiné; um homem que sentiu na alma o sofrimento, a morte e a destruição de que foram alvo os seus irmãos guineenses por quererem a independência; um homem marcado por uma tristeza impressionante quando fala destes assuntos.(...)