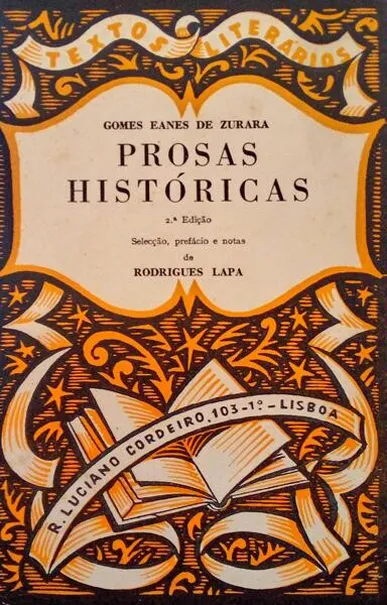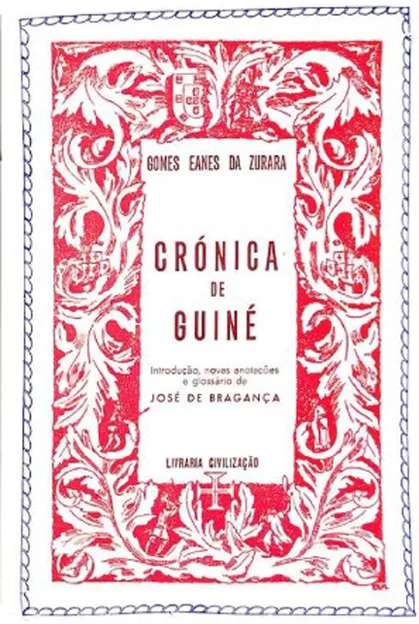1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 25 de Julho de 2025:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 25 de Julho de 2025:Queridos amigos,
Não deixa de ser curioso observar que no exato momento em que o regime do Estado Novo alçaprema a figura do Infante D. Henrique como o supremo condutor da gesta dos Descobrimentos, Vitorino Magalhães Godinho irá publicar três volumes de documentos sobre a Expansão Portuguesa onde evidencia pelo rigor das fontes que o Infante D. Pedro era fortemente crítico das cruzadas no Norte de África e que estimulara as navegações pela costa ocidental africana. Rapidamente se desenvolveram as operações comerciais, e daí a escolha que procedi à viagem de Gonçalo Afonso de Sintra, desastrosa, pois antes do Cabo Branco foram atacados em terra e massacrados. Caberá a Nuno Tristão chegar à Terra dos Negros, terá chegado ao norte da Senegâmbia, na sua primeira viagem não chegou a atingir o Cabo Verde, posteriormente terá encontrado a morte no rio Gâmbia.
Um abraço do
Mário
Para melhor entender o início da presença portuguesa na Senegâmbia (século XV) – 6
Mário Beja Santos
Os três volumes de documentos sobre a Expansão Portuguesa, da autoria de Vitorino Magalhães Godinho, publicado na década de 1940, fazem parte do momento de viragem da historiografia portuguesa dos Descobrimentos, constituem uma rotura com a hagiografia, a pura especulação, o aproveitamento idolátrico da figura do Infante D. Henrique, isto no exato momento em que o Estado Novo procurava fazer do Infante uma figura sublime, o maior missionário da civilização ocidental.
Aqui se apresentou nos textos anteriores uma seleção que se considera representativa do Volume I. Fez-se a escolha do Volume II de um texto do Zurara sobre a regência de D. Pedro e a exploração da Costa Africana e os respetivos comentários e a viagem de Gonçalo Afonso de Sintra, a chegada de Nuno Tristão à Terra dos Negros.
Diz Zurara que dos anos seguintes a 1436 não acha coisas notáveis dignas de ser contadas. Voltou-se ao Rio do Ouro por peles e azeite dos lobos marinhos, em 1437 o Infante D. Henrique passou-o em Tânger, no ano seguinte morreu o Rei D. Duarte, seguiram-se muitas discórdias, o futuro Rei D. Afonso V tinha então seis anos, o Infante D. Henrique trabalhou muito para haver sossego e paz, foram anos em que não se enviaram navios. Vale a pena ler atentamente os comentários do historiador. No seu testamento, o Rei D. Duarte deixava indicado que durante a menoridade do filho, a regência deveria ser exercida pela Rainha D. Leonor, muito ligada às Casas de Aragão e Castela, o seu Governo representava uma ameaça de intervenção de política portuguesa; a Rainha viúva era afeta a D. Henrique e desafeta a D. Pedro. Foi nestas circunstâncias que as cidades do país e a burguesia nacional impuseram primeiro a associação de D. Pedro ao Governo e posteriormente a passagem da regência para as suas mãos.
O triunfo da burguesia em 1440 abre um período de intensa exploração marítima que fecha em 1448 com o fim da regência e a vitória da nobreza. “Afigura-se-me que são as condições sociopolíticas da época da regência que explicam o impulso dado às navegações e o abandono da política marroquina. Não é de forma alguma à iniciativa de D. Henrique, mas à política de D. Pedro e à iniciativa dos burgueses que se deve fundamentalmente esta decisiva expansão comercial-marítima. O papel de D. Henrique nos conflitos que precederam e seguiam à regência de D. Pedro é muito equívoco. Sem dúvida ao lado da nobreza e contra as cidades, procurou firmar a sua situação apresentando-se como árbitro dos partidos, conseguiu do irmão importantes concessões para o acrescentamento da sua casa senhorial, e abandonou-o em Alfarrobeira quando o peso de uma intervenção enérgica o teria salvo muito provavelmente.”
O historiador elenca que dispomos para o estudo das navegações entre 1440 a 1448: a Crónica dos Feitos da Guiné, de Zurara; Relação dos Descobrimentos da Guiné e das Ilhas, de Diogo Gomes; o trabalho de Jerónimo Münzer, muito semelhante à Relação de Diogo Gomes; o Esmeraldo, de Duarte Pacheco Pereira, de escassíssimas indicações; a Descrição da Costa de Ceuta à Guiné, de Valentim Fernandes, baseado em Zurara e Diogo Gomes; a Ásia, de João de Barros, resumo tardio de Zurara.
Vejamos agora a viagem de Gonçalo Afonso de Sintra. O historiador faz referência a João de Barros e Valentim Fernandes, o Infante mandou armar um navio em 1445, o seu capitão era Gonçalo de Sintra, levava consigo um mouro azenegue para lhe servir de intérprete, esperava ir à ilha de Arguim que está à frente do Cabo Branco. Sucede que antes de chegarem ao Cabo Branco numa angra fugiu o intérprete, Gonçalo de Sintra meteu-se num batel com doze homens, acabou num esteiro, o batel ficou imóvel, foram atacados pelos mouros, houve carnificina, salvaram-se três marinheiros, chegaram sãos e salvos a Portugal, façanha extraordinária.
Valentim Fernandes irá corroborar esta versão. Na sequência deste texto, o historiador alude à chegada de Nuno Tristão à Terra dos Negros. Fora enviado numa caravela, a mando do Infante, dirigiu-se à Terra dos Negros, antes passaram por terra areosa e maninha, sem árvores, e depois avistaram palmeiras, árvores verdes e formosas e campos de terra. Nuno Tristão segue num batel a terra, mas as vagas eram grandes e perigosas, foi forçado a regressar ao navio. Mais adiante chegou àquelas ilhas onde Lançarote antes tivera uma presa, chegado a terra um mouro já idoso disse-lhe onde estava uma povoação a cerca de duas léguas, Nuno Tristão temeu que seriam muitos os moradores daquela povoação, depois de evitar avançaram, apanharam moços e mulheres, não houve combate. Isto vem descrito na crónica de Guiné de Zurara. Magalhães Godinho tece comentários, vale a pena citá-los devido à sua grande importância.
A Terra dos Negros é, na toponímia quatrocentista e quinhentista, uma das grandes regiões em que se divide o continente africano. Do Mediterrâneo ao Golfo da Guiné, Leão o Africano enumera a Barbária, a Numídia, a Líbia e a Terra dos Negros. Esta região abrange essencialmente as grandes bacias do Senegal e do Níger, sobretudo nas zonas de floresta tropical.
O historiador deplora a escassez de informações prestadas por Zurara. Ignora-se se os navegadores seguiram à vista de terra, se reconheceram enseadas, promontórios, rios e baixos ou se velejaram ao largo durante algum tempo. Zurara não precisa que pontos da costa atingiu Nuno Tristão. Armando Cortesão depreendeu a descrição que se tratava do Cabo Verde. Damião Peres afirma que a viagem se alongou para além da foz do Senegal. Sem dúvida que o rio Senegal divide, segundo escreve Cadamosto, a terra seca e árida dos azenegues da terra fértil dos negros, o que também é corroborado pelo Esmeraldo e por João de Barros. A descrição não faz supor que tenham ultrapassado o Senegal, resulta de existirem arvoredos e negros ao norte do rio. Nuno Tristão deverá ter chegado a um lugar que está situado antes do rio Senegal.
Foram estes os textos fundamentais que selecionei do Volume II, vamos seguidamente para documentos constantes no Volume III.
(continua)
_____________
Notas do editor:
Vd. post de 8 de agosto de 2025 > Guiné 61/74 - P27078: Notas de leitura (1827): Para melhor entender o início da presença portuguesa na Senegâmbia (século XV) – 5 (Mário Beja Santos)
Último post da série de 11 de agosto de 2025 > Guiné 61/74 - P27112: Notas de leitura (1828): "Histórias de Amor em Tempo de Guerra, Guiné 1963-1974", por Rui Sérgio; 5livros.pt, 2017 (Mário Beja Santos)