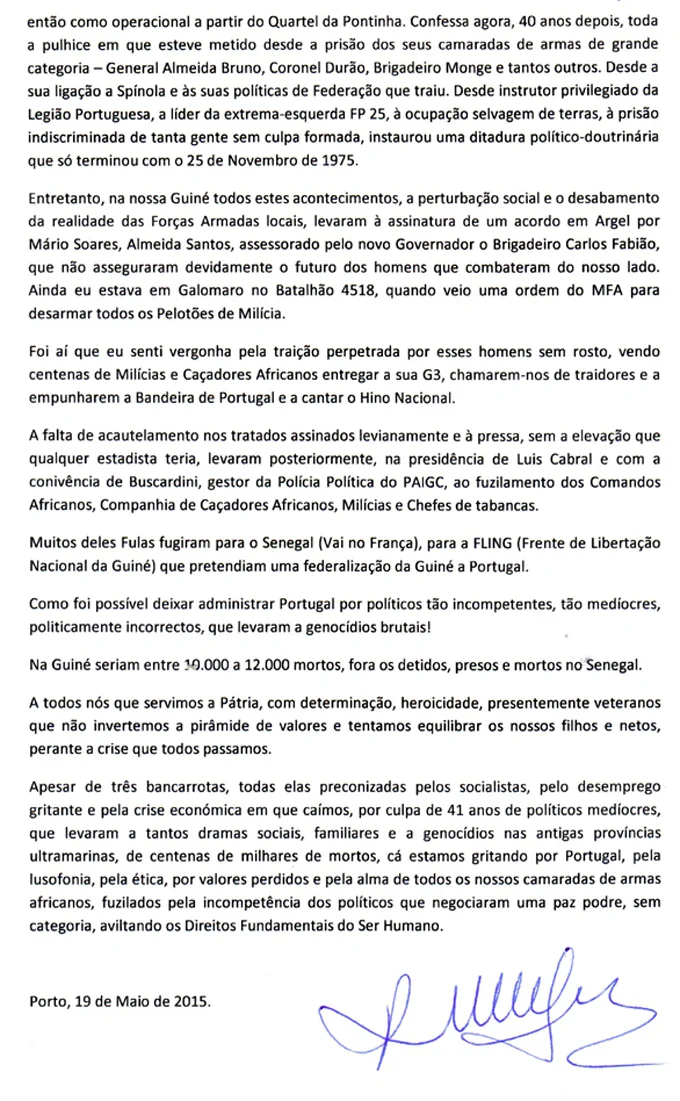1. Mensagem do nosso camarada Francisco Henriques da Silva (ex-Alf Mil da CCAÇ 2402/BCAÇ 2851, Có, Mansabá e Olossato, 1968/70; ex-embaixador na Guiné-Bissau nos anos de 1997 a 1999), com data de 8 de Junho de 2015:
Caros camaradas e amigos
Segue a II parte ou segmento da capítulo XXV da minha obra
“Guerra na Bolanha” (Programa Fim do Império, Âncora editora, Lisboa, 2015), na sequência do meu escrito anterior, em que relato vários casos de reintegração (ou de não reintegração) dos jovens regressados da Guiné e de outros T.O’s africanos.
Saudações amigas
Um abraço
Francisco Henriques da Silva
(ex-Alferes miliciano de infantaria da C.Caç. 2402 e
ex-embaixador de Portugal em Bissau 1997-1999)
************
A reinserção dos outros. Será que houve verdadeira reintegração? Realidade e ficção.
(2ª parte)
Caso 4
O “Bisugo” nunca na vida quis estudar, nem trabalhar, diga-se de passagem. Andou numa escola técnica qualquer e não possuía habilitações literárias dignas de registo. Quando foi às sortes, depois da recruta, acabou na Artilharia Anti-Aérea, onde chegou a Cabo. Amigos e vizinhos do mesmo bairro, alinhávamos nas eternas coboiadas de rapazes, nas jantaradas, nos copos, nas garotas, nos conjuntos musicais e nos desportos motorizados, de que todos gostavam, menos eu (mas lá ia para não destoar). Para minha surpresa, encontrámo-nos em Bissau, eu, a terminar a minha comissão e ele a começar a dele. O “Bisugo” estava de prevenção quando da Operação “Mar Verde”, em Novembro de 1970 (uma operação anfíbia que visava a realização de um golpe de Estado na Guiné-Conacri e que se destinava, igualmente, a libertar prisioneiros de guerra portugueses e eliminar dirigentes daquele país e do PAIGC). Creio que andou uma noite inteira a carregar bombas nos FIATs da Força Aérea, em Bissalanca, que poderiam ter de intervir em Conacri, caso as coisas corressem mal às unidades que estavam no terreno e precisassem de apoio.
Por artes que o império tece, o “Bisugo”, à parte um ataque inconsequente dos guerrilheiros do PAIGC a Bissalanca, teve uma tropa santa ou quase. Ao chegar a Portugal, já desmobilizado, não tinha propriamente onde cair morto e veio com ar compungido pedir emprego a minha mulher. Pretendia ser vendedor de automóveis numa reputada empresa situada na “baixa” lisboeta, cujo proprietário era amigo do meu sogro. À revelia deste, a Ana teve pena do rapaz e enchendo-se de brios, foi falar com o dito indivíduo, conseguindo garantir-lhe o almejado emprego. Como já o disse, no Portugal da época, com estes conhecimentos, as coisas sempre se resolviam a contento. Grande e natural satisfação do “Bisugo”, tinha atingido, sem grande esforço o seu objectivo. O primeiro ordenado serviu-lhe para comprar um presente para minha mulher que fez questão de oferecer, com alguma solenidade, entre dois uísques, em minha casa. O meu sogro, quando soube da história, ficou furibundo e deu uma descasca monumental na minha cara-metade, considerando que ela havia passado das marcas e que este tipo de coisas, para mais envolvendo amigos pessoais, não se podiam, de modo algum, fazer, sem o seu pleno conhecimento e aval explícito.
O tempo entretanto passou. Mantivemos alguns contactos esporádicos com o “Bisugo”. Sobreveio o 25 de Abril e nunca mais soubemos nada do personagem em questão. A minha filha nasceu, nos primeiros dias de Janeiro de 1975 e venho, casualmente, encontrar o referenciado lá para o fim do mês. Paro o carro e pergunto-lhe:
- Estou muito surpreendido contigo. Então a minha filha nasceu e, depois de tudo o que fizemos por ti, não te dignaste aparecer, nem uma saudação, nem um simples telefonema, nada. Enfim, não deste qualquer sinal de vida.
Mirou-me com uma calma olímpica e cofiando o bigode, mastigou meia-dúzia de frases sem se atrapalhar.
- Olha, tu desculpa, mas não posso associar-me convosco. O teu sogro fugiu à justiça e pertencia à polícia política. Os tempos mudaram. Agora são outros. Não me posso dar com vocês.
Fiquei embasbacado, de tal forma que fui incapaz de reagir, como devia. Limitei-me a engatar a primeira e a desaparecer numa curva do caminho.
Fiquei a saber pouco depois, que o “Bisugo”, fazendo tábua rasa do emprego arranjado pela Ana, à revelia e contra a vontade do meu sogro, mandando às urtigas uma amizade de muitos anos, apesar de semi-analfabeto e sem qualquer formação política integrava, agora, um dos sindicatos do sector automóvel e, inclusive, constava das listas de candidatos a deputados pela Frente Revolucionária Socialista.
O tempora, o mores!
Nunca mais o vi. Amigos comuns disseram-me que tinha ficado psicologicamente muito afectado com os seus tempos de Guiné (afectado com quê e porquê? Santo Deus!). Acabou por perder o emprego e vive hoje do Rendimento Social de Inserção na periferia de Lisboa. Reintegrou-se? Que responda quem souber. A julgar pelo RSI parece que sim.
Bissau - Centro
Foto de Paula Tábuas © copyright
Caso 5
Com o meu amigo Mário mantive longas conversas sobre a problemática do regresso, da adaptação, da reintegração na sociedade e por aí fora. Não sei se serei ou não um fiel intérprete do muito que dissemos ao longo dos anos, mas vou tentar reproduzir, de forma abreviada, alguns dos diálogos que mantivemos sobre este assunto. Assim falou:
- Sabes, os que voltaram pretenderam refazer as suas vidas: uns, como nós, queriam retomar os estudos e ao mesmo tempo manter empregos que garantissem a subsistência; outros, reingressar na vida activa voltando às actividades que desenvolviam antes da guerra; outros, ainda, mudar completamente de rumo. As coisas, porém, nem sempre funcionaram bem. Os nossos casos eram paradigmáticos dos que queriam obter o “canudo”, a enxada, a ferramenta de trabalho para poderem lutar pela vida com um relativo à-vontade, mas este é, por assim dizer, o grupo dos citadinos.
- Queres tu dizer, Mário, que este grupo não era maioritário, ou porque não queriam prosseguir os estudos, ou porque não tinham meios materiais para o fazer ou, pura e simplesmente, por desinteresse ou preguiça?
- Não sei. Seria talvez um pouco de tudo isso, mas não vou estar para aqui a emitir juízos de valor, longe disso. Cada um fez o que entendeu que devia ser feito. Voltando ao assunto, depois tens o grupo dos rurais, aqueles que vieram da província e à província regressavam. Os pais eram proprietários agrícolas e eles limitavam-se a dar continuidade à tradição familiar. Tens muitos exemplos, como sabes. A seguir deparas com todos aqueles que quiseram mudar de agulha, nalguns casos tomando decisões drásticas. Olha, lembro-me de um caso de um rapaz, ex-seminarista de Miranda do Douro, que recusou voltar lá às serranias transmontanas e decidiu candidatar-se a um emprego na Caixa Geral de Depósitos. Assim fez, mas as coisas não correram bem. A inadaptação a Lisboa, um casamento falhado e ei-lo que volta ao seu meio, depois de uma experiência frustrante. Existem muitos casos destes? Claro que sim. Portugal, naqueles tempos, era ainda um país maioritariamente rural.
- Mário, na tua enumeração, esqueceste-te daqueles que sem saberem muito bem o que fazer, meteram o “Chico” e permaneceram nas fileiras. O teu caso foi diferente. Estiveste lá uns tempos, apenas por uma questão de sobrevivência, enquanto não acabavas o curso. Todavia, muitos outros, sem soluções alternativas, porque não as procuravam ou porque se sentiam sem ânimo para fazer o que quer que fosse, aproveitaram-se das facilidades do decreto que instituía o Quadro Especial de Oficiais e lá voltaram eles para as fileiras. Aliás, conheci vários casos, um deles alferes da minha ex-companhia de caçadores.
- Lembra-te, Chico, que o dito papel garantia-te um emprego para a vida ou seja, até aos 60 anos de idade. Além disso, ninguém sabia ao certo quando é que a guerra iria terminar. Ao ouvir os homens do regime, podia durar uma eternidade. De modo que, apesar da incomodidade e do risco de sucessivas comissões em África, assegurava-se um emprego razoável e para tal não eram precisos grandes esforços, nem sequer queimar as pestanas.
- Mas mudando de assunto, Mário, como é que as pessoas, os cidadãos vulgares de Lineu viam a guerra? Sobre o assunto, tenho a minha opinião formada, mas gostava de confrontá-la com a tua.
- Olha vou-te contar a minha experiência pessoal que é a este respeito elucidativa e que constituiu para mim uma lição de vida. Fui a um jantar de amigos, pouco depois de ter chegado da Guiné. Para começar, o tema despertava pouco interesse entre os circunstantes, mas lá me foram fazendo perguntas e eu fui respondendo. A páginas tantas, entusiasmei-me e comecei a entrar nas questões de fundo. De repente, apercebi-me de que estava pura e simplesmente a perder tempo, porque, apesar de falarmos a mesma língua, não nos expressávamos na mesma linguagem. Quando lhes disse que comandei um destacamento de tropa nativa, perguntaram-me alarvemente:
“Se você comandava uma companhia de pretos, como é que distinguia uns pretos dos outros?” Fiquei siderado. Em seguida mais uma perguntinha
“E do ponto de vista cultural o que é que faziam?” É claro que não viam filmes do Ingmar Bermann, nem liam Proust (que grandes cretinos!). Retorqui que eu lia muito, como sempre, e que enquanto o gira-discos funcionou, porque foi destruído num ataque, ouvia a minha música. Percebi que estava a perder tempo, que não havia qualquer sintonia de pensamento, que ninguém fazia a menor ideia do que era a guerra de África: o meu mundo não tinha nada a ver com o deles. Se queres que te diga, senti-me humilhado.
- Em suma, desembarcávamos do planeta Marte. Diz-se, amiúde, que mantemos entre nós uma espécie de código de silêncio, que ninguém quer falar das suas experiências africanas, das peripécias da guerra, do que por lá passámos. Compreende-se. Não é que não queiramos falar, o problema é que ninguém nos quer ouvir. Para nós e para os soldadinhos foi uma aventura que nos marcou para a vida – e de que maneira! -, para esta gente, tudo passava à margem, nada lhes dizia respeito. Assim sendo, para quê falar? Só como exercício catárquico para a geração que por lá passou e que teve uma vivência concreta destas situações.
A população da Guiné-Bissau na actualidade
Foto de Paula Tábuas © copyright
Casos
O Tó, meu amigo de infância, veio de lá surdo, uma canhoada, morteirada ou lá o que foi, explodiu na caserna onde se encontrava. Apesar dos estilhaços se terem espalhado um pouco por toda a parte, escavacando tudo, por sorte um armário de metal e duas camas tombadas salvaram-no miraculosamente do que podia ter sido uma morte prematura ou ferimentos muito graves, uma vez que a explosão foi a escassos metros do local onde se encontrava, mas ficou com a audição reduzida a 20%. Andou de emprego em emprego, pelo Brasil e por vários países da América Latina, mas permaneceu marcado para sempre por aquele tremendo
handicap.
O Fernando, com quem estudei algumas vezes, quando do meu regresso de África, não esteve na Guiné, mas a sua experiência no Norte de Angola – andou por Nambuangongo, salvo erro – foi altamente traumática, quer do ponto de vista físico, quer psicológico. Na primeira operação no mato, pôs-se à frente do seu grupo de combate e fez-se ao caminho por um trilho, com marcas visíveis da passagem de guerrilheiros. Percorridos uns 400 metros, pisou uma mina anti-pessoal, esfacelando uma perna. O helicóptero lá apareceu ao fim de meia hora; foi evacuado para Luanda; dali para o Hospital da Estrela em Lisboa e depois para a Alemanha onde lhe foi colocada uma prótese. Passou aos serviços administrativos do Exército e, ao mesmo tempo, lá foi tirando o seu curso. Mais tarde conseguiu alternar a carreira militar que foi seguindo, degrau a degrau com alguma lentidão, e a docência, num liceu da capital. Viveu relativamente bem acumulando dois ordenados, mas sempre amargurado com essa deficiência física. Na fase derradeira da vida, foi acometido por uma outra doença bem mais complexa, sem retorno possível, e perguntava-me:
“Diz-me por que é que não morri na mina? Teria sido tudo mais fácil, não achas?” Não respondi.
Como fuzileiro, Teodoro conheceu bem a Guiné, de Norte a Sul e de Leste a Oeste. Sofreu inúmeros ataques e nem sequer sabia contabilizar os contactos de fogo, tantos foram, tão frequentes e tão intensos. Quando regressou à chamada metrópole, estava feito um farrapo humano. Não sei se o álcool, se os pesadelos e os traumas de guerra, ou se uma combinação de tudo isso lhe tinham alterado o juízo. De quando em quando, chorava baixinho, quase em silêncio. Falava pouco, sobretudo não queria falar “daquilo”. Teve um casamento infeliz e curto, com cenas inopinadas de violência conjugal, mas apesar de tudo dessa união resultou uma filha, hoje, emigrada na Alemanha e que nunca mais quis saber do pai. A mulher que, sem prejuízo dos seus ataques incontrolados de fúria, genuinamente amava, foi viver com outro, refez a sua vida e libertou-se daquele “louco”. Não, não sabia por onde ela andava. Constava-lhe que vivia no Porto ou em Gaia, mas quem sabe? Andou de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, até que lhe diagnosticaram “stress pós-traumático de guerra”. Ficou-se com o palavrão e com os problemas de sempre que continuam a atormentá-lo.
____________
Nota do editor
Último poste da série de 9 de junho de 2015 >
Guiné 63/74 - P14722: Notas de leitura (725): “Guerra na Bolanha”, de Francisco Henriques da Silva - (Programa Fim do Império, Âncora editora, Lisboa, 2015) - O regresso de África e a reinserção - parte I (Francisco Henriques da Silva)