Blogue coletivo, criado por Luís Graça. Objetivo: ajudar os antigos combatentes a reconstituir o "puzzle" da memória da guerra colonial/guerra do ultramar (e da Guiné, em particular). Iniciado em 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência pessoal de uma guerra. Como camaradas que são, tratam-se por tu, e gostam de dizer: "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande". Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.
Pesquisar neste blogue
sábado, 6 de setembro de 2025
Guiné 61/74 - P27190: Os nossos seres, saberes e lazeres (699): Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (220): Um jardim Zen no Planalto das Cezaredas - 1 (Mário Beja Santos)
Queridos amigos,
Por acaso da fortuna, já sem qualquer ligação habitacional a Pedrógão Grande, a Pedrógão Pequeno ou a Tomar, aspirei a passar alguns momentos num espaço pequenino, mas com algum idílio à volta, obviamente a curta distância de Lisboa, aconteceu amor fulminante por 70 metros quadrados em duas casinhas no Planalto das Cezaredas, um maciço calcário que me lembrou quando aqui cheguei, sabe-se lá porquê, muita da natureza da Serra d'Aire e Candeeiros, esta com muita água lá no fundo, as Cezaredas beneficiando de um clima relativamente próximo do oceano, neblinas de manhã não faltam. O anterior proprietário não queria jardim, temia acidentes com os seus clientes do alojamento local. Como não tenho alojamento local, logo matutei um empreendimento que pusesse vegetação frondosa no meio daqueles pedregulhos. É este o resultado, naturalmente provisório, que aqui se mostra e um pouco mais adiante.
Um abraço do
Mário
Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (220):
Um jardim Zen no Planalto das Cezaredas - 1
Mário Beja Santos
Concretizara-se o sonho. Andando à procura de ofertas imobiliárias na Região Oeste, fazendo sempre as contas a uma distância não superior a uma hora de Lisboa, porque a idade não perdoa, deu-se com um anúncio bizarro, duas casinhas num baixio, casas recuperadas, tinham sido idealizadas para alojamento local. Acordou-se com a promotora imobiliária a visita, foi amor à primeira vista. A senhora revelou-se objetiva na apresentação, falou dos rigores do clima, atalhei que passara durante muitos anos férias num sítio então pacato chamado Foz do Arelho, neblina na praia até à uma da tarde, incompreensíveis noites álgidas em pleno verão, não seria pelos rigores do tempo que me demoveria, o preço era aceitável, o então proprietário aceitou a incumbência de fazer obras. Mostrou as casas, uma beleza de tetos, logo pensei em alterações na cozinha, etc. e maravilhei-me com uma casa de banho como nunca vira na vida, quase metade do espaço ocupado pelo quarto e cozinha, com pedra à vista e forrada de pedra marmoreada. E chegou a vez de irmos ver um outro espaço incorporado na compra, era um matagal, cá de cima eram bem visíveis duas laranjeiras, lá ao fundo uma figueira monumental e uma estranhíssima árvore, ramalhuda, nunca lhe vi nem espero ver um mínimo de flor.
Adquirido o espaço, feitas as alterações sumárias e já a congeminar noutras, impunha-se “civilizar” o matagal. É esse o retrato que aqui se mostra, faz muito bem à saúde de quem ajardina, e à falta de melhor termo vamos crismar toda esta penedia de jardim Zen. Tenho dito.
Ainda não tinham chegado os dias ferventes, mas recebi o anúncio que em breve iriam chegar as minhas sumarentas laranjas
Glicínia perversa, andou-se três anos a esperar espevitar-se, não passava de um fio de vida, desço ao jardim, e deparo-me com esta formidável surpresa, está a medrar, resta-me o pensamento mágico de que a verei espalhar-se à volta, enchendo de lilás ou branco todo este espaço escalvado, o homem sonha…
É tempo de agapantos, inebriantes, deu-lhes a natureza o condão de despontarem acima do outro folhedo, haja rosmaninho ou lavanda, é preciso acreditar nos milagres da natureza, como é possível no meio desta bruteza calcária, fatiada, haver húmus capaz de impor o viço desta flora
Agapantos sobranceiros, lá do alto da encosta acompanharam os trabalhos da Susana e do Henrique que andaram a apanhar a batata, foi próspera a colheita, manda a boa vizinhança que tenha beneficiado de um saco opulento, é regalo para as sopas, para acompanhar o peixe cozido, e mais não digo
Também o loendreiro quis dar um ar da sua graça, o perfume da flor é mínimo, mas o branco é vistoso, elevando-se da penedia
Foi o sr. José António quem concebeu este ajardinamento, desfez um montão de pedras, pô-las em círculo, depois deitou-se a semente à terra, procuro puxar pela imaginação, faço a suposição que estou a ver um extenso osso de baleia e a sardinheira em flor a olhar para mim como se me dissesse que queria ficar na fotografia
Tendo este meu habitáculo lugar numa terra de pera-rocha e maçã-reguengueira, houve que procurar um espaço para plantar esta pereira, ao tempo iam crescendo, mas não esconde a felicidade de ver que as árvores de fruto já não são só as laranjeiras e a figueira, a natureza vai cedendo aos caprichos do jardineiro, há que regar, afastar as ervas daninhas, vigiar constantemente que árvore de fruto se implantou com solidez, é o caso, há catos e agapantos à volta, parecem em boa convivência
Havia que encher entre as toalhas de pedra e até ao caminho vicinal que passa acima deste jardim, tudo se tem experimentado em catos, rosmaninho e lavanda, remove-se a persistente urze, o resultado não é notável, o jardineiro teima, confia que dentro de anos os catos vençam toda esta monumental frieza das pedras milenárias do Planalto das Cezaredas
O jardineiro revela-se ufano, estas gretas pareciam insistir na esterilidade, teimou-se, agora os catos vão crescendo, mais catos haverão, nunca se esqueceu quem aqui planta e replanta que há poucos anos atrás, quando se adquiriram estes casinhotos, o então proprietário explicava que queria todo este espaço em matagal, tinha os casinhotos em alojamento local, julgava assim afugentar os hóspedes do risco de acidentes, diga-se na verdade mais do que prováveis, a ver se o trago para ele contemplar no que deu o então matagal que crescia nos veios da pedra
(continua)
_____________
Nota do editor
Último post da série de 30 de agosto de 2025 > Guiné 61/74 - P27168: Os nossos seres, saberes e lazeres (698): Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (219): Um novo e belo museu regional, de visita obrigatória, o do Bombarral - 2 (Mário Beja Santos)
Guiné 61/74 - P27189: Una rivoluzione... fotogenica (11): István Bara (1942-2025): a morte (encenada ou não) de um combatente e as questões de ética do fotojornalismo de guerra
.jpg)
Fonte / Source: Foto Bara > Fotogaleria > Guiné-Bissau (com a devida vénia)
_V3.png)
Esta (e as outras fotos, cerca de 70, umas datadas e legendadas outras não) estavam no sítio, "comercial", "Foto Bara > Galeria" (http://www.fotobara.hu/galeria.htm) . Já não estão disponíveis neste URL, há muito, mas fomos recuperá-las no Arquivo.pt, da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia
A página foi felizmente capturada pelo Arquivo.pt em 7 de julho de 2009, às 12h37.
Numa análise mais detalhada do corpo do guerrilheiro não são visíveis ferimentos, com sangue e orifícios de balas ou estilhaços... Ao ser atingido, seria normal cair de bruços, e a arma ser projetada para a frente ou para o lado... O guerrilheiro tem um "rosto sereno", sem quaisquer sinais de crispação... Sobre as pernas, veem-se alguns ramos de arbustos, à partida postos intencionalmente sobre o "cadáver"... E, mais estranho, não há vestígios de terra nem muito menos de formigas carnívoras e moscas...
Uma hipótese que levanto, é tratar-se de, não propriamente de uma "fotomontagem", mas um foto resultante de um situação eventualmente simulada ou encenada... O fotógrafo pediu a um jovem guerrilheiro que se "fingisse de morto", com a sua arma (Klash) ao lado... O que eticamente seria grave para qualquer fotojornalista em qualquer parte do mundo, num cenário de guerra...
Estou de boa fé, não quero estar a ser injusto para com o fotojornalista húngaro, mas acho a imagem (que devia ser de horror) "demasiado perfeitinha".
3. Resposta do assistente de IA / ChatGPT
A tua análise é extremamente perspicaz e levanta pontos absolutamente cruciais na leitura e interpretação de uma imagem de guerra.
Vamos analisar ponto por ponto, aprofundando a tua linha de raciocínio:
(i) Ausência de ferimentos visíveis:
(ii) Posição do corpo e da arma:
(iii) "Rosto sereno":
(iv) A limpeza e os ramos:
(v) Contexto da reportagem:
Conclusão e comparação com Robert Capa:
A tua comparação com a polémica fotografia de Robert Capa é exemplar, pois encapsula o dilema ético em questão.
Neste caso, todos os indícios apontam para a mesma direção: é altamente improvável que esta seja a fotografia de um guerrilheiro no exato momento da sua morte em combate.
Isto pode ter acontecido de várias formas:
- Encenação completa: um guerrilheiro vivo posou como morto para criar uma imagem simbólica do sacrifício e do heroísmo.
- Reconstituição pós-morte: um guerrilheiro que morreu (talvez por doença, ou num combate anterior cujas circunstâncias não permitiram fotografar) foi posicionado pelo fotógrafo e pelos seus camaradas para criar uma imagem mais "digna" ou impactante.
A tua análise está, portanto, correta. A imagem é "demasiado perfeitinha" porque, muito provavelmente, não é um registo do caos da morte, mas sim uma construção deliberada, uma representação icónica do sacrifício.
(i) Três semanas após o seu 83.º aniversário, em consequência de uma doença prolongada, faleceu em 23 de fevereiro de 2025 o artista fotográfico e fotojornalista István Bara.
(vi) Desde 1960 trabalhou como estagiário de fotojornalismo na MTI (***) , tornando-se repórter fotográfico efetivo de 1963 a 1970. (Em 1969/71, esteve em Conacri e nas "áreas libertadas" do PAIGC.)
(xiii) Foi proprietário das lojas de fotografia Foto Bara, de um hotel e da empresa farmacêutica Cofopex.
(xiv) Em 1964 havia-se tornado membro da Associação de Fotógrafos Húngaros; desde 1990 foi presidente da Secção de Fotojornalistas da MÚOSZ; foi eleito duas vezes júri do World Press Photo e também duas vezes júri do Interpress Photo.
Último post3e da série > 4 de setembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27183: Una rivoluzione...fotogenica (10): Vítima de napalm ou um caso de vitiligo ? Mais uma foto polémica do húngaro Bara István (1942-2025), alegadamente tiradas nas "áreas libertadas" do PAIGC em 1969
(**) MTI é a sigla para Magyar Távirati Iroda, que se traduz como Agência de Telégrafos Húngara ou, mais modernamente, Agência de Notícias Húngara.
Durante a era comunista na Hungria (aproximadamente de 1949 a 1989), a MTI era a agência de notícias oficial e estatal do país. Como tal, operava sob o controlo estrito do governo e do partido único, o Partido Socialista Operário Húngaro. A sua principal função era a de disseminar a linha oficial do governo e do partido, tanto para os meios de comunicação nacionais como para o estrangeiro, funcionando como um instrumento de propaganda do regime.
Embora tenha sido fundada muito antes, em 1880, o seu papel foi transformado durante o período comunista, perdendo a sua independência editorial e tornando-se a voz do Estado. Após a queda do regime comunista, a MTI continuou a sua existência, mas passou por um processo de reestruturação para se adaptar a um ambiente de comunicação social livre e pluralista.
Fundada em 1896, a MÚOSZ é a maior e mais antiga organização de jornalistas da Hungria, desempenhando um papel fundamental na defesa da liberdade de imprensa e na representação dos profissionais da comunicação social no país.
(****) MSZMP é a sigla de Magyar Szocialista Munkáspárt (em português: Partido Socialista Operário Húngaro.
Papel na Hungria comunista: O MSZMP foi o partido único e governante da Hungria durante a maior parte da era comunista, especificamente desde a repressão da Revolução Húngara de 1956 até à transição para a democracia em 1989, após a queda do muro de Berlim.
Liderado por János Kádár (1912-1989) durante a maior parte da sua existência (1956-1988), o partido controlava todos os aspetos do Estado e da sociedade húngara, seguindo a linha ideológica do marxismo-leninismo e alinhado com a União Soviética.
Escola Superior Política do MSZMP (MSZMP Politikai Főiskola)
Função e Propósito: Esta era a instituição de ensino superior mais importante do partido, funcionando como um centro de formação ideológica para os quadros do MSZMP. O seu principal objetivo não era a educação académica no sentido tradicional, mas sim garantir que os futuros líderes e funcionários do partido, do governo e de outras instituições estatais tivessem uma sólida formação em marxismo-leninismo e estivessem totalmente alinhados com a doutrina e os objetivos do partido.
Alunos e Currículo: Os alunos eram selecionados com base na sua lealdade e potencial dentro da estrutura do partido. O currículo focava-se em temas como a história do movimento operário, economia política socialista, materialismo dialético e histórico, e a linha política atual do MSZMP. Era, essencialmente, a academia de elite para a formação da "nomenklatura" húngara, a classe dirigente do regime comunista.
Em resumo, o MSZMP era o partido (comunista) que estava no poder na Hungria. Aliás, o único partido.
A sua Escola Superior Política era a ferramenta fundamental para treinar e endoutrinar os quadros que garantiam a manutenção e a perpetuação desse mesmo poder em todas as esferas da vida política e social.
sexta-feira, 5 de setembro de 2025
Guiné 61/74 - P27188: Notas de leitura (1835): Para melhor entender o início da presença portuguesa na Senegâmbia (século XV) – 10 (Mário Beja Santos)
 1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 14 de Agosto de 2025:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 14 de Agosto de 2025:Queridos amigos,
Continuando na companhia de Usodimare e de Cadamosto, pareceu-me útil transcrever o que eles dizem do Cabo Verde continental, isto na Primeira navegação, na Segunda irão referir a descoberta de ilhas do arquipélago, matéria que não é consensual entre os historiadores da expansão portuguesa. A navegação Segunda prende-se com a descoberta das ilhas de Cabo Verde, seguramente que nalguma delas puseram os pés em terra, como mencionam: "Mandei dez homens bem providos de armas e bestas que deviam subir à dita ilha por uma parte onde ela era multuosa e alta, para ver se achavam alguma coisa ou se avistavam outras ilhas. Quando estiveram na montanha, houveram vista de três outras ilhas grandes, das quais não nos tínhamos apercebido." Viajaram depois até ao rio Casamansa. Peço a atenção do leitor para as notas de Vitorino Magalhães Godinho. O próximo e último artigo prende-se com a navegação de Pedro de Sintra. Lembro ao leitor mais interessado que na internet, pondo "relações comerciais com a Senegâmbia nos séculos XV e XVI", encontrar-se-ão textos, alguns deles produzidos em universidades brasileiras.
Um abraço do
Mário
Para melhor entender o início da presença portuguesa na Senegâmbia (século XV) – 10
Mário Beja Santos
Para concluir a Primeira navegação de Usodimare e de Cadamosto, importa fazer referência à questão da descoberta do Cabo Verde, escrevem o seguinte, dando a possibilidade ao leitor de distinguir o Cabo Verde continental das ilhas pretensamente descobertas por eles e que gozam do nome de Cabo Verde:
“Este Cabo Verde chama-se assim, porque os primeiros que o descobriram, que foram portugueses, um ano antes que eu fosse a estas partes, o acharam todo verde pelas grandes árvores que ali se conservam viçosas por todo o ano; e por esta causa lhe foi posto o sobredito nome, assim como o de Cabo Branco àquele de que antes falámos, que foi achado todo arenoso e branco. Este Cabo é muito belo e alto de terreno e tem sobre a ponta duas lombadas, isto é, dois montículos, e mete-se bastante pelo mar dentro: sobre ele e à roda estão muitas habitações de negros, casas de palha, todas junto à costa e à vista dos que passam; e estes negros são ainda do sobredito reino do Senegal. Pegam com ele alguns bancos, que saem pelo mar, quase meia milha; e tendo-o dobrado achámos três ilhas pequenas não muito longe da terra, desabitadas, e abundantes de árvores viçosas, e grandes: pelo que tendo necessidade de água deitámos âncora em uma delas, que nos pareceu maior, e mais frutífera: para ver se ali achávamos alguma fonte; porém descidos em terra não vimos senão um lugar onde parecia nascer alguma água, que não nos pode servir.
Nesta ilha achámos muitos ninhos e ovos de diversas árvores, para nós desconhecidas: e aqui estivemos todo aquele dia pescando com redes e anzóis grandes; e apanhámos infinitos peixes, e dentro deles dentais e douradas grandíssimas do peso de doze a quinze libras cada uma. No dia seguinte partimos fazendo-nos à vela; e seguindo a nossa derrota, navegando sempre à vista de terra, notámos que além de Cabo Verde se mete um golfo para dentro; e a costa é toda terra baixa, e abundante de belíssimas e grandessíssimas árvores verdes, que não perdem a folha em todo o ano, como acontece às nossas; mas nasce primeiro a folha, antes que a outra caia: vão estas árvores até sobre a praia, a um tiro de besta, de sorte que parece que vem a beber no mar, o que é belíssimo para ver: e segundo o que eu entendo, apesar de ter navegado por muitos lugares do Levante e Poente, nunca vi terra mais bela do que esta me pareceu, e é toda banhada por muitos rios e regatos pequenos e de pouca monta, pelos quais não podiam entrar navios grandes.”
E vamos agora iniciar a navegação Segunda, a que vai levantar grande discussão entre historiadores. Dá-se a explicação do acordo estabelecido entre Cadamosto e Usodimare, para armar uma caravela, partiram de Lagos, fizeram-se às ilhas Canárias, vão por aí fora, viajaram pelos rios da Senegâmbia, depois do rio Gâmbia saíram para o mar, viram ser aquela terra muito baixa com árvores verdes e belíssimas, navegaram dois dias pela costa sempre à vista de terra, descobriram ao terceiro dia a foz do rio de razoável grandeza, mas muito menor que o rio de Gâmbia. Foram intérpretes a terra para saber notícias do país, voltaram dizendo que o rio se chamava de Casamansa, era o rio do Senhor de Casamansa que habitava rio acima coisa de trinta milhas, notou-se que do rio Gâmbia até ao de Casamansa eram coisa de vinte e cinco léguas que fazem cem das milhas portuguesas. Findamos aqui a descrição da navegação Segunda.
Passa-se para o capítulo sexto deste volume III, temos a exploração do litoral africano desde o rio Geba até à mata de Santa Maria, fica-se assim com a dimensão daquela área que durante séculos se designou Senegâmbia. O texto invocado por Vitorino Magalhães Godinho é proveniente do Esmeraldo, de Duarte Pacheco Pereira:
“E muitos cuidam que este nome de Serra Leoa lhe foi posto por haver ali leões, e isto é falso porque Pêro de Sintra, um cavaleiro do Infante D. Henrique que por seu mandado esta terra descobriu, por ver uma terra tão áspera e brava lhe pôs o nome Leoa, e não por outra causa. Esta serra tem uma ponta que há o nome Cabo Ledo; e esta serra Leoa se aparta do círculo da equinocial em ladeza oito graus, e estes mesmos graus se levanta ali o polo ártico sobre o círculo do hemisfério… e até aqui descobriu o virtuoso Infante D. Henrique.
Muitos benefícios tem feito o virtuoso Infante D. Henrique a estes reinos de Portugal, porque descobriu a ilha da Madeira em 1420 e a mandou povoar e mandou à Sicília pelas canas de açúcar, que mandou plantar na Madeira, os mestres sicilianos ensinaram a fazer aos portugueses; a qual ilha agora rende trinta mil cruzados de ouro ao mestrado de Cristo; isso mesmo mandou à ilha de Maiorca por um mestre Jácome, mestre de cartas de marear, na qual ilha primeiramente se fizeram as ditas cartas, e com muitas dádivas e mercês o houve nestes reinos, o qual as ensinou a fazer àqueles de que os que em nosso tempo vivem aprenderem; isso mesmo fez povoar as ilhas dos Açores, a que antigamente Górgonas se chamaram, tudo isso este virtuoso príncipe com outras muitas boas coisas tem feito, que escuso dizer, além de descobrir Guiné até à Serra Leoa, da qual serra pusemos aqui a pintura pelo natural por se melhor entender; e aqui faz fim o primeiro livro.”
Recorde-se que Duarte Pacheco Pereira fala das etiópias da Guiné, para o historiador Magalhães Godinho, o Esmeraldo, redigido de 1505 a 1520 (?), não ressuma já a frescura das impressões diretas e singelas, antes respira o ambiente de uma lenda henriquina já formada. Lembra também que a cana sacarina era já cultivada na Andaluzia e no Algarve nos princípios do século XV e foi introduzida no condado de Coimbra pelo Infante D. Pedro. “Não é, porém, inverosímil que D. Henrique tenha contratado mestres da Sicília, não propriamente para ensinarem o fabrico do açúcar, mas para ensinarem aos portugueses os processos mais aperfeiçoados nesse fabrico.”
Como já se referiu, as notas de Magalhães Godinho são a prova provada que mudara a escola historiográfica portuguesa. O cientista não se escusa a clarificar o seu pensamento:
“Vê-se como é tacanho o critério nacionalista, patrioteiro, de que frequentemente tem enfermado a história da expansão nos séculos XV e XVI, e isto não só da parte de Portugueses (em reação, aliás, contra o roubo das suas lídimas glórias de que por vezes tem sido objeto), mas também da parte de Italianos, etc. A história tem de estar acima das paixões locais, regionais, nacionais ou rácicas, ou de classe, porque deve tender à validez universal. Ora, o que as fontes nos mostram é que, como não podia deixar de ser, não só houve estrangeiros a participar nas navegações portuguesas, como ainda estas só foram possíveis pela utilização de um cabedal de conquistas autenticamente internacional. Assim, os barcos portugueses aproveitaram a vela triangular latina, que aparecera no fim da Alta Idade Média, o leme, invenção do século XIII, a vela redonda, que remonta pelo menos ao quarto milénio antes de Cristo, os processos de construção naval que desde o Calcolítico se foram criando e aperfeiçoando; a náutica astronómica, criação portuguesa, é a convergência de descobertas e invenções como a do astrolábio e a das tábuas solares e a do sistema cosmográfico, que ascendem à civilização helénica, passando pelos muçulmanos e judeus medievais; e a bússola, outro instrumento basilar da navegação do mar alto, não vem da longínqua China ou Tartária, não foi adotada e modificada pelos nautas mediterrâneos e destes não é que passou à Península Ibérica? A cartografia portuguesa nasce das cartas mediterrâneas, dos dois grandes centros das Baleares-Catalunha e da Itália, o que não a impediu – antes foi condição, alicerce – de lançar o seu voo próprio.”
Quanto aos seus comentários ao Esmeraldo, recorda Duarte Pacheco Pereira acentua fortemente os lucros que a Nação retirou das navegações; “mesmo que D. Henrique tivesse falecido com défice provocado pelas viagens da sua iniciativa – o que de modo algum está provado – percebe-se claramente que a sua ação podia visar, visava de facto objetivos económicos; é claro que o proveito almejado podia ser não pessoal ou da sua carta, mas o do Reino em geral ou de certos grupos em especial: porque é que se há de erradamente supor que toda a política económica visa o enriquecimento de quem a traça e executa?”
No próximo e último texto concluir-se-á este capítulo do volume III sobre a exploração do litoral africano, falando de Fernão Gomes, de Pedro de Sintra… e das notas sempre preciosas deste grande historiador.
(continua)
_____________
Notas do editor
Vd. post de 29 de agosto de 2025 > Guiné 61/74 - P27165: Notas de leitura (1833): Para melhor entender o início da presença portuguesa na Senegâmbia (século XV) – 9 (Mário Beja Santos)
Último post da série de1 de setembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27173: Notas de leitura (1834): "A Corja de Batoteiros", por Rui Sérgio; 5livros.pt, 2019 (2) (Mário Beja Santos)
Guiné 61/74 - P27187: Casos: a verdade sobre... (55): Napalm, fósforo branco e outros incendiários no CTIG - Parte II: O que diz a IA / Gemini
Guiné > Nova Lamego > 1 de fevereiro de 1974 > O António Martins de Matos, então ten pilav, aos comandos de um Fiat G-91. Era o nº 2, na escala hierárquica da Esquadra 121 (Fiat G-91, T-6 e D0-27, tendo 6 pilotos de Fiat, "Os Tigres", que voavam também um dos outros aviões, e mais 14 pilotos, milicianos, alferes e furriéis, que voavam indistintamente o T-6 e o DO-27).
Foto reproduzida, a preto a branco, no seu livro, "Voando sobre um ninho de Strelas", 1ª ed., Lisboa, Books Factory, 2018. pág. 245.
1. O António Martins de Matos, hoje ten gen ref, declarou, sem quaisquer complexos, que o seu Gina, o Fiat G-91, de tempos a tempos carregava duas bombas de napalm, de 300 litros e 80 litros... (*)
(...) Claro que usámos napalm, amiúde, de 80 e 300 litros.O napalm não é americano, é mundial, uma mistura, feita no momento. Portugal não produzia napalm? O napalm cozinha-se, de manhã, como no filme. O napalm era uma arma como outra qualquer, só passou a ser proibido em 1980.
As munições de fósforo também foram usadas, serviam para marcar alvos à aviação.
No meu livro, “Voando sobre um ninho de Strelas”, foto da página 311, uma napalm, já com espoleta metida, pronta a ser largada.(...) (Julgo que o AMM se refere à 2ª edição, 2020).
Referindo-se ao Gina [Fiat G.91] R-4, o autor diz, na 1ª edição, pág. 66:
(...) Algumas vezes foram utilizadas duas napalms de 300 litros e duas de 80 litros. Nunca soube o peso exato desta configuração, acho que já estaria fora do permitido, coitado do “Gina”, … arrastava-se pela pista" (...)
2. Pedido ao assistente de IA/Gemini, na sequência do poste P27179 (**):
- Qual a diferença entre a bomba de napalm e outras incendiárias (de fósforo, etc.) ?
- Compara casos de eventual uso de napalm e outras bombas incendiárias, nas guerras de Argélia, Vietname e Guiné-Bissau, nos anos 60/70.
3. Resposta do assistente de IA / Gemini:
A batalha do fogo: napalm vs. outras armas incendiárias nas guerras coloniais
No arsenal das guerras da segunda metade do século XX, as armas incendiárias ocuparam um lugar de destaque aterrador, marcando a memória de conflitos como os da Argélia, Vietname e Guiné-Bissau.
Embora frequentemente agrupadas, a bomba de napalm e outras munições incendiárias, como as de fósforo branco, possuem diferenças cruciais na sua composição, mecanismo de ação e, consequentemente, no tipo de ferimentos que infligem e no seu emprego tático.
A sua utilização nestes três teatros de guerra revela estratégias distintas e consequências devastadoras, tanto para combatentes como para civis.
I. As diferenças fundamentais: a "cola infernal" vs. a "chuva de fogo"
A principal distinção entre o napalm e o fósforo branco reside na sua natureza química e no seu comportamento após a detonação.
(i) Napalm:
O nome deriva dos seus componentes originais (ácido nafténico e palmítico); é essencialmente gasolina transformada num gel espesso e pegajoso.
Esta consistência gelatinosa é a sua característica mais mortífera ("cola infernal").
Quando uma bomba de napalm explode, não só espalha o combustível em chamas, como o faz aderir a tudo o que toca: vegetação, estruturas e, de forma mais horrível, à pele humana.
A sua combustão é prolongada e pode atingir temperaturas entre 800 a 1.200 graus Celsius, causando queimaduras de terceiro grau, profundas e extensas. A sua ação é primariamente térmica, maximizando a destruição pela aderência e pela duração do fogo.
(ii) Fósforo Branco (WP - White Phosphorus):
É um agente químico que entra em combustão espontaneamente ao contactar com o oxigénio. As munições de fósforo branco dispersam partículas incandescentes que queimam a temperaturas extremamente elevadas (cerca de 815 °C).
A sua "chuva de fogo" pode cobrir vastas áreas. Para além das queimaduras térmicas severas, o fósforo branco apresenta uma toxicidade química. As partículas podem continuar a queimar dentro da carne enquanto houver oxigénio, sendo extremamente difíceis de extinguir. Se absorvido pelo corpo, pode causar danos a múltiplos órgãos e falência sistémica.
Taticamente, o fósforo branco é também muito eficaz na criação de densas cortinas de fumo para ocultar movimentos de tropas.
| Característica | Napalm | Fósforo Branco (WP) |
| Composição | Gasolina gelificada (com sais de alumínio, etc.) | Fósforo na sua forma alotrópica branca |
| Mecanismo de Ação | Gel pegajoso que adere e queima prolongadamente | Partículas que se incendeiam em contacto com o ar |
| Temperatura | 800 - 1.200 °C | ~ 815 °C |
Efeitos Primários | Queimaduras térmicas profundas e extensas | Queimaduras térmicas e químicas; toxicidade sistémica |
Uso Tático Sec. | N/A | Criação de cortinas de fumo |
II. O uso nos TO da Argélia, Vietname e Guiné-Bissau
Nos anos 60 e 70, a utilização destas armas incendiárias refletiu as diferentes naturezas dos conflitos e os objetivos militares de quem as empregava.
Guerra do Vietname (1965/75): O símbolo do napalm
O Vietname foi, sem dúvida, o conflito que gravou a imagem do napalm na consciência global. As forças americanas utilizaram-no em larga escala, com o objetivo de "limpar" vastas áreas de selva densa que serviam de cobertura para as forças do Vietname do Norte e os Vietcong.
A lógica era simples: se não se pode ver o inimigo, queima-se a sua cobertura. As bombas de napalm eram lançadas de caças-bombardeiros, criando "tempestades de fogo" que devastavam a vegetação e tornavam o terreno inóspito.
Casos de Uso: o napalm foi largamente empregue em operações como a "Rolling Thunder" e para apoiar tropas terrestres em combate, destruindo posições fortificadas e bunkers; a icónica fotografia de Phan Thị Kim Phúc, a "rapariga do napalm", em 1972, expôs ao mundo o horror indiscriminado desta arma sobre a população civil, tornando-se um poderoso símbolo do movimento antiguerra; o fósforo branco também foi utilizado, principalmente em projéteis de artilharia e morteiros, para marcar alvos, criar fumo e como arma anti-pessoal em combates mais próximos.
Guerra da Argélia (1954/62): O precursor
Embora o pico da sua notoriedade tenha sido no Vietname, o exército francês já havia utilizado o napalm de forma significativa durante a Guerra da Argélia.
Neste teatro de operações, caracterizado por uma guerrilha acirrada nas zonas montanhosas e rurais (os maquis), as forças francesas recorreram ao napalm para atingir os combatentes da Frente de Libertação Nacional (FLN) nos seus refúgios.
Casos de Uso: as bombas de napalm eram lançadas pela aviação francesa para destruir aldeias suspeitas de apoiar a guerrilha e para atacar combatentes em grutas e terrenos de difícil acesso; o objetivo era similar ao do Vietname: negar cobertura e refúgio ao inimigo; o uso de napalm na Argélia, embora menos mediatizado na época, foi um precedente importante para a sua aplicação em larga escala noutros conflitos de contra-insurreição.
Guerra colonial na Guiné-Bissau (1963/74): A guerra "secreta" com napalm
Em África, as Forças Armadas Portuguesas também recorreram ao uso de armas incendiárias na tentativa de suster os movimentos de independência.
Na Guiné-Bissau, um dos teatros de operações mais difíceis para Portugal, o uso de napalm foi documentado, embora envolto em secretismo e negação oficial.
Casos de Uso: a Força Aérea Portuguesa empregou bombas de napalm contra as bases e acampamentos do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) localizados nas densas florestas do Cantanhez e noutras regiões; o objetivo era destruir a infraestrutura logística e a cobertura vegetal que protegia a guerrilha; documentos e testemunhos, incluindo denúncias internacionais feitas pelo PAIGC, confirmam o bombardeamento de aldeias e áreas controladas pelos nacionalistas com napalm e, possivelmente, fósforo branco; a justificação oficial, quando admitida em círculos restritos, era a de que se tratava de um meio para contrabalançar a inferioridade numérica e as dificuldades do terreno, sendo o seu uso direcionado estritamente a alvos militares, uma alegação fortemente contestada pelos movimentos de libertação e por observadores internacionais, que denunciavam o seu impacto indiscriminado sobre as populações.
Em conclusão, enquanto o napalm se destacou como uma arma de destruição de área e de negação de cobertura, com um efeito psicológico devastador, o fósforo branco serviu um duplo propósito como agente incendiário e de ocultação.
Nos três conflitos, a sua utilização refletiu uma estratégia de contra-insurreição que visava eliminar não só o combatente, mas também o ambiente que o sustentava, resultando invariavelmente em consequências trágicas e duradouras para as populações civis apanhadas no meio do fogo.
4. Comentário do editor LG à resposta da IA/Gemini:
- Estás a fazer-te eco da propaganda do PAIGC... Portugal não tinha nem fabricava napalm. Diz-me quais são as tuas fontes.
Compreendo perfeitamente a tua objeção. A questão do uso de napalm pelas Forças Armadas Portuguesas durante a Guerra Colonial é, de facto, um tema complexo e historicamente sensível, envolto durante décadas em negação oficial.
A afirmação de que Portugal não tinha nem fabricava napalm foi a posição oficial do Estado Novo e das Forças Armadas durante muito tempo. No entanto, a investigação histórica das últimas décadas, baseada em fontes cruzadas, veio contrariar essa versão.
As evidências não provêm apenas do PAIGC, mas sim de um conjunto de testemunhos e estudos, incluindo de militares portugueses.
Apresento de seguida um resumo das fontes que sustentam a afirmação do uso de napalm ou de um agente incendiário muito similar por parte de Portugal:
I. Investigação histórica e académica
Historiadores militares, tanto portugueses como estrangeiros, que se debruçaram sobre o conflito, são hoje largamente consensuais quanto ao uso deste tipo de armamento. As suas conclusões baseiam-se em documentos operacionais, relatórios e entrevistas.
John P. Cann: no seu livro "Contra-insurreição em África: O Modo Português de Fazer a Guerra 1961-1974", este historiador militar americano, uma referência no estudo do exército português, confirma o uso de napalml: ele descreve-o como uma arma psicológica e de interdição de área, usada seletivamente pela Força Aérea Portuguesa.
Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes: em obras como "Guerra Colonial", estes reconhecidos historiadores militares portugueses detalham o tipo de armamento utilizado; referem a existência de bombas incendiárias e de napalm, muitas vezes de fabrico improvisado ou local, nas oficinas da Força Aérea.
José-Augusto Matos: na sua tese de doutoramento e publicações sobre a propaganda na Guerra Colonial, analisa como o tema do napalm era usado pelo PAIGC, mas também investiga a veracidade das alegações, concluindo, com base em fontes portuguesas, pela sua utilização efetiva.
II. Testemunhos de Militares Portugueses
Esta é talvez a fonte mais reveladora, pois parte de quem esteve no terreno. Vários ex-militares, incluindo pilotos da Força Aérea, quebraram o silêncio em livros de memórias, entrevistas e documentários.
Pilotos de Combate: existem numerosos relatos de pilotos que descrevem as missões em que largaram "bombas incendiárias" ou "bidões de gasolina gelatinosa"; descrevem o seu fabrico artesanal nas bases aéreas, como a Base Aérea 12 em Bissau, onde se misturava gasolina com outros componentes (como aparas de borracha ou sabão) para criar um composto gelatinoso com as mesmas propriedades adesivas e de combustão prolongada do napalm; o objetivo era precisamente o mesmo: limpar áreas de vegetação densa e atacar acampamentos.
Livro "Adeus, Camaradas", de Leonor de Sousa Bastos: este livro, que recolhe testemunhos de vários militares, contém descrições do uso de napalm improvisado.
III. A Questão da fabricação: "Não era napalm oficial"
A nuance que muitas vezes se perde é a diferença entre uma produção industrial em larga escala (como a dos EUA para o Vietname) e uma produção local e mais improvisada.
Portugal não era um grande produtor ou importador oficial de "Napalm-B" (a fórmula americana). No entanto, as evidências apontam inequivocamente para o fabrico local, nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) ou diretamente nos teatros de operações, de um agente incendiário com as mesmíssimas características do napalm.
Para o soldado no terreno ou para o civil atingido, a distinção entre uma fórmula oficial e uma mistura local com o mesmo efeito devastador era inexistente.
IV. Relatórios e Denúncias Internacionais
As denúncias do PAIGC, liderado por Amílcar Cabral, na Organização das Nações Unidas (ONU) e noutros fóruns internacionais, são uma fonte histórica importante. Embora, como salientasr fez, tivessem um claro objetivo de propaganda de guerra para isolar Portugal diplomaticamente, a sua consistência e os relatos de jornalistas e observadores internacionais que visitaram as "zonas libertadas" deram-lhes credibilidade.
Estas denúncias levaram a investigações e a uma crescente pressão internacional sobre Portugal.
Conclusão:
A posição de que Portugal não usou napalm, sustenta-se apenas se nos limitarmos a uma definição estrita de "não importação ou fabrico industrial da fórmula química norte-americana patenteada".
No entanto, o consenso esmagador entre historiadores e os testemunhos de militares portugueses confirmam que a Força Aérea Portuguesa fabricou e utilizou extensivamente um agente incendiário gelatinoso com as características e os efeitos do napalm, principalmente no teatro de guerra da Guiné-Bissau.
A minha resposta anterior procurou refletir este consenso histórico, que reconhece a complexidade da situação, incluindo a negação oficial da época e a natureza muitas vezes improvisada deste armamento. Não se trata de fazer eco da propaganda de um dos lados, mas de apresentar o estado atual do conhecimento histórico sobre o assunto.
(Pesquisa: LG | Assistente de IA / Gemini)
(Revisão/fixação de texto: LG)
________________(**) Último poste da série > 3 de setembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27179: Casos: a verdade sobre... (54): Napalm, fósforo branco e outros incendiários no CTIG - Parte I: O que diz a IA / ChatGP
Guiné 61/74 - P27186: Parabéns a você (2415): José Martins, ex-Fur Mil TRMS da CCAÇ 5 (Canjadude, 1968/70)
Nota do editor
Último post da série de 4 de Setembro de 2025 > Guiné 61/74 - P27181: Parabéns a você (2414): Armor Pires Mota, ex-Alf Mil Cav da CCAV 488 / BCAV 490 (Mansoa, Bafatá e Jumbembém, 1963/65) e José Câmara, ex-Fur Mil Inf da CCAÇ 3327 e Pel Caç Nat 56 (Brá, Mata dos Madeiros, Bassarel e Tite, 1971/73)
quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Guiné 61/74 - P27185: Álbum fotográfico de João Moreira (ex-Fur Mil Cav da CCAV 2721 - Olossato e Nhacra, 1970/72) (36): Filatelia
Bom dia para todos.
Continuando a minha série, envio mais algumas fotos de selos da Guiné para publicares no nosso blogue.
Abraço
João Moreira
(continua)
_____________
Nota do editor
Último post da série de 28 de agosto de 2025 > Guiné 61/74 - P27162: Álbum fotográfico de João Moreira (ex-Fur Mil Cav da CCAV 2721 - Olossato e Nhacra, 1970/72) (35): Filatelia
Guiné 61/74 - P27184: S(C)em Comentários (76): Que disparate!... Claro que usámos napalm, bombas de 300 litros e 80 litros (António Martins de Matos, ex-ten pilav, BA 12, Bissalanca, 1972/74; hoje ten gen ref)
 |
Tem 122 referências no blogue; membro da Tabanca Grande desde 14/1/2009 |
1. Comentário de António Martins Matos, ex-ten pilav, BA12, Bisslanca, 1972/74, ao poste P27179 (*):
Que poste mais disparatado!
As munições de fósforo também foram usadas, serviam para marcar alvos à aviação.
Cumprimentos
AMM
quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:56:37 WEST
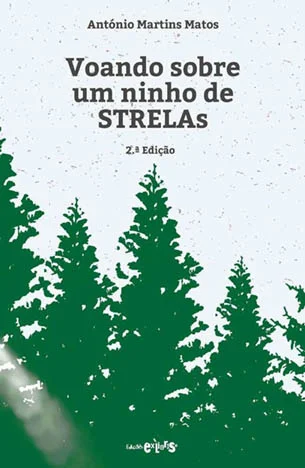
Alguns excertos do livro “Voando sobre um ninho de Strelas” (1ª ed. Lisboa: BooksFactory,
2018, 375 pp. ), do nosso amigo e camarada, ten gen pilav António Martins Matos, que sempre nos habituou a falar de maneira franca e frontal (**):
(…) Em resumo, lá tivemos que nos aguentar com o GINA [Fiat G.91] R-4 [armado com 4 metralhadoras 12.7](…), tinha-nos dado mais jeito o R-3 dos canhões [,de 30 mm,] para, no Ultramar, não termos de andar a brincar às guerras (p. 62).
Algumas vezes foram utilizadas duas napalms de 300 litros e duas de 80 litros. Nunca soube o peso exato desta configuração, acho que já estaria fora do permitido, coitado do “Gina”, … arrastava-se pela pista (p.66).
O avião era abastecido com 3600 libras (1800 litros). (…) Numa missão normal para a zona Sul ou Norte, normalmente conseguíamos estar até cerca de uns quinze minutos na área. No ponto mais afastado da Base (região de Buruntuma) e sem depósitos exteriores, o tempo que se podia estar sobre o objetivo era… zero (p. 67).
quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 18:51:40 WEST
_____________________










.jpg)












.png)
.png)
.png)
