1. As minhas saudações lourinhanenses ao Jaime,e aos restantes membros da mesa.
A todos os demais antigos combatentes. Aos familiares dos jovens lourinhanenses mortos na guerra do ultramar / guerra colonial que se voltam a homenagear com este livro. A todos os demais presentes nesta sala que é também, fisica e simbolicamente, a casa do poder autárquico democrático.
Já prefaciei e apresentei cerca de um dezena de livros de memórias, ficção e poesia, escritos por antigos combatentes da Guiné.
Mas este livro do nosso Jaime tem um particular significado para mim. Acompanhei o seu "making of". E fala da nossa terra e e da nossa gente. Foram vinte os nossos conterrâneos, mortos na guerra do ultramar / guerra colonial. Já homenageados na pedra, em monumento inaugurado em 2005.
Hoje este livro traz-nos mais informação, proveniente dos arquivos militares e outras fontes, sobre a vida e a morte destes bravos lourinhanenses. Traz a sua foto, e detalhes sobre a sua vida civil e militar, incluindo as circunstâncias em que morreram, 11 em combate e 9 por acidente ( incluindo com armas de fogo).
Alguns estavam mais próximos de nós, pela idade, o parentesco, a vizinhança, etc.
Por exemplo, o Arsénio Bonifácio Marques da Silva, do Seixal, era primo direito do Jaime. Morreu em Angola em 1972. Numa mina. Ou o José Henriques Mateus,da Areia Branca, seu colega de escola: desapareceu, no decurso de uma operação, no sul da Guiné, em 1966, ao atravessar o rio Tompar. O corpo nunca foi econtrado.
Já o José António Canoa Nogueira, o primeiro lourinhanense a morrer na Guiné, em combate, em 1965, era meu parente. O seu pai e a minha mãe eram primos direitos. As nossas avós eram irmãs. Ele tinha mais cinco anos do que eu. Não éramos íntimos mas o seu funeral, três meses e meio depois, tocou-me profundamente.
Eu tinha 18 anos e na altura, eu era o redactor do nosso jornal "Alvorada"... Fui eu próprio que fiz a notícia do seu funeral. E publiquei uma das últimas cartas que ele escreveu, dirigida ao diretor. Foi-me entregue pelo pai, um homem destroçado. Fazia parte do seu espólio.
Já não chegou a tempo de ser enviada pelo SPM (Serviço Postal Militar). O Nogueira morreria 13 dias depois, em em combate, com um estilhaço de morteiro na cabeça.
Em boa hora o Jaime transcreve no seu livro, na página 119, esta carta singela e comovente. O Nogueira chamou-lhe "Um domingo do mato" (sic).
Escrevi, no jornal, em 23/5/1965, há 60 anos (!) que o texto revelava muito da solidão, da saudade e da sensibilidade dos nossos militares em África.
Os restos mortais do Nogueira, em urna de chumbo, foram transportados, de barco, a expensas não do exército mas dos seus camaradas. Onze contos. 5 mil euros a preços de hoje.
Só a partir de 1968 o Estado chamou assim esse encargo, o de trasladar para a metrópole os restos mortais dos seus soldados.
A cerimónia fúnebre, na qual se incorporou "uma multidão anónima e inumerável" (sic), para além das autoridades civis e militares e os Bombeiros Voluntários, foi das mais emocionantes que eu já vi em vida:
(...) À chegada do autofúnebre militar, com a urna, os clarins dos Soldados da Paz tocaram a silêncio. E o préstito atravessou a Vila, sob uma impressionante atmosfera de recolhimento e dor. (...)
2. Feita esta incursão pelas minhas própias memórias, deixem-me fazer duas perguntas a que os próprios leitores deste livro devem poder responder no final, e a quem o autor não deixa de dar a sua própria resposta:
(i) Qual o sentido destas mortes ?
(ii) Qual a dimensão desta guerra e o preço que tivemos de pagar, nós, lourinhanenses, a nossa terra ?
Permitam-me que vos mace com alguns números que, às s vezes, valem mais do que mil palavras.
Estas mortes não podem ter sido em vão. A nossa participação na guerra também não pode ser vista como totalmente absurda. Afinal “soubemos fazer a guerra e a paz”.
Servimos a Pátria, que está acima dos regimes políticos. Não desertámos. Pagámos o nosso imposto de sangue. Reafirmámos o direito de continuar a ser portugueses e a viver em Portugal.
E mais: como militares, assegurámos as condições que permitiriam ao regime da época encontrar soluções politicas para uma guerra que nunca poderia ter uma solução estritamente militar.
Para além do testemunho pessoal sobre a sua própria vivência da guerra, o Jaime reconstitui as histórias de vida de 20 combatentes da Lourinhã que não sobreviveram para as poder contar.
Ficamos a conhecer melhor pelo menos quem foram os nossos conterrâneos que pagaram com a vida o brutal esforço de guerra (militar, logístico, demográfico, financeiro, económico, social, político, diplomático, etc.) que o país fez entre 1961 e 1975.
Estima-se em c. 25 mil milhões de euros, a preços de hoje, o custo da guerra. São quase 8,8% do nosso PIB nominal
Mas a perda e vida e o sofrimento físico e psíquico não mais difíceis de contabilizar em termos de custos, diretos, indiretos e ocultos.
Reforço o que o Jaime escreveu no capítulo Um: a guerra colonial (1961/75) foi seguramente o acontecimento mais marcante da nossa Pátria no Séc. XX.
Em rigor dever-se-ia falar em guerras coloniais, e que remontam à expansão colonial europeia, na sequência da Conferência de Berlim, em 1884/85.
A última foi mais do que uma sucessão de operações militares: implicou também, paralelamente, uma aposta, se bem que tardia, no desenvolvimento socioeconómico do “ultramar português”.
Cedo se percebeu (até pelo exemplo de outras potências colonizadoras como a Inglaterra, a França e a Holanda) que aquela guerra não podia ser ganha pelas armas.
O seu desfecho levou não só à restauração da democracia em Portugal, com o 25 de Abril de 1974, mas também ao desmantelamento do velho império colonial e ao aparecimento de novas nações lusófonas, mais de cento e cinquenta anos depois da independência do Brasil (em 1822).
Resta saber se fizemos (ou soubemos fazer) o luto de tantas perdas (físicas e simbólicas).
Já no passado, a Lourinhã tinha pago a sua quota-parte do "imposto de sangue de sangue, suor e lágrimas" nas guerras que direta ou indiretamente a tocaram, desde pelo menos as invasões napoleónicas.
Mais próximo de nós, não posso esquecer o caso dos nossos 4,6 mil prisioneiros na Índia (1961/62) (dos quais 13 eram lourinhanenses).
Mas a Lourinhã, desde a batalha do Vimeiro, em 1808, e as guerras civis oitocentistas, não conheceu felizmente a brutalidade da guerra à sua porta.
Estas de que aqui falamos, passaram-se a milhares de quilómetros de distância: 4 mil na Guiné, 8 mil em Angola, 12 mil / Moçambique, 8,3 mil na India (via Canal Suez) etc.
Quantos militares (e/ou civis) nossos conterrâneos, mesmo os que não tenham morrido nestas guerras e expedições, pagaram o "imposto de sangue, suor e lágrimas" ?
Será bom não esquecê-los, incluindo as famílias dos militares mobilizados, a população civil que "retornou" a Portugal, na sequência da descolonização (mais de meio milhão), etc.
Mas restringindo-nos ao período da guerra do ultramar / guerra colonial, podemos avançar com alguns números:
Estima-se em cerca de 1300 o número de mobilizados, da nossa terra
No total foram mobilizados para Angola, Guiné e Moçambique cerca de 800 mil militares portugueses (número no qual se incluem também cerca de 30% de oriundos do recrutamento local, ou sejam, africanos como os meus soldados).
Em 1970, a população portuguesa era de 8,6 milhões e a da Lourinhã, não chegava aos 20 mil.
Portanto, 65 lourinhanenses em cada mil foram à guerra. E morreram 20 (11 por ferimentos em combate e 9 por acidente e outras causas), o que corresponde a uma taxa de letalidade de 1,56.
No total, morreram (por todas as causas) 10,4 mil militares portugueses, dos três ramos das Forças Armadas (incluindo os do recrutamento local).
E pelo menos 60 dos nossos militares lourinhanenses foram feridos gravemente. No cômputo geral houve 10 feridos (dos quais 3 graves) por cada morto.
O total de feridos da guerra foi de cerca de 117 mil.
Houve cerca de 28 mil feridos evacuados para os hospitais, metade dos quais metade foram classificados como deficientes.
Nestas baixas todas, para além das mortais, há lourinhanenses. Não sabemos quantos nem quem.
Também sabemos que um 1/5 dos mancebos em idade militar, em todo o país, não se apresentaram para cumprir o serviço militar. Estamos a falar de um total de mais 220 mil. Cerca de 500 seriam lourinhanenses.
Os números podem discriminar-se do seguinte modo: faltosos (c. 202 mil), refratários (c. 20 mil), desertores (c. 9 mil) (também os houve na nossa terra).
Neste número de faltosos e refratários estão muitos emigrantes. E é bom não esquecer que ao longo deste período (1961/74) a emigração em Portugal ultrapassou o milhão e meio.
Na década de 60, a Lourinhã perdeu cerca de 3,3 mil habitantes (c. 15%).
1300 homens em África foram também 1300 famílias. Fora o meio milhar que escapou a guerra.
Milhares de lourinhanenses (familiares, vizinhos e amigos) viveram a guerra à distância, com os oceanos Atlântico e Índico de permeio.
Dez toneladas de correspondência (aerogramas, cartas, jornais e revistas, encomendas, etc.) circulavam todos os dias através do Serviço Postal Militar, criado em 1961.
Calculamos, por baixo, que 250 milhões de aerogramas escritos, uns de cor amarela (reservados aos militares) e outros de cor azul (reservados às famílias), terão circulado num sentido e no outro. Sem falar das cartas pelo correio normal. Os aerogramas eram distribuídos pelo Movimento Nacional Feminino (mais de 30 milhões de impressos por ano).
À Lourinhã, com uma população a rondar os 20 mil, caberão c. 600 mil aerogramas durante a guerra, enviados e recebidos pelos militares, famílias e amigos.
3. Passo o desafio à professora Leonor Bravo, a quem sugeri, através do Jaime, que falasse do direito e do dever de memória dos combatentes e da sua comunidade (incluindo a escola, professores, alunos, pais, avós) .
Mais de meio século depois (e quando mais de um terço dos antigos combatentes já terá morrido), não é tarde ainda para que a nossa comunidade (incluindo as escolas e as autarquias) se empenhe na recolha e salvaguarda de todo a documentação dessa época, com destaque para os álbuns fotográficos e a correspondência,
O Jaime dedica o seu livro ao seu neto David e a todos os netos dos antigos combatentes bem como aos cerca de 3,5 mil estudantes do concelho.
Há intencionalmente aqui uma “passagem de testemunho” e uma partilha de memória intergeracional.
4. Uma nota final: a guerra tem sempre um preço muito alto para qualquer combatente ou para quem a sofreu, a população. A guerra, e as suas múltiplas histórias, com h pequeno e com H Grande, as suas sequelas, os seus fantasmas, as suas memórias, as suas perplexidades... nunca acaba, mesmo quando morre o último combatente.
O músico e cantor Diogo Picão, que se orgulha das suas raízes lourinhanenses, diz isso, magistralmente:
“O meu tio (refere-se ao materno) fala muito da guerra. Ainda bem, fico mais tranquilo. Imaginem quem guardou aquelas explosões e aquele mato, aquelas entranhas todas dentro do peito.
" O meu outro tio (refere-se ao paterno) nunca me falou da guerra, mas sei que alguma coisa também morre dentro dele todas as noites”
Caros amigos e conterrâneos, leiam o livro e falem dele aos vossos netos: a palavra é agora do Jaime, que legitimamente reivindica, para ele e todos os demais antigos combatentes, o direito de não ficar na “vala comum do esquecimento”.
(*) Vd. poste de 22 de junho de 2025 > Guiné 61/74 - P26947: Agenda cultural (890): Lançamento do livro do Jaime Bonifácio Marques da Silva, "Não esquecemos os jovens militares do concelho da Lourinhã mortos na guerra colonial": Lourinhã, 21 de junho de 2025: fotogaleria


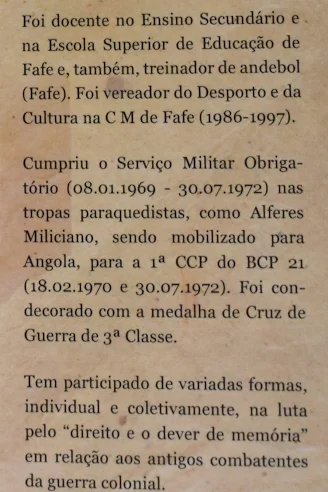













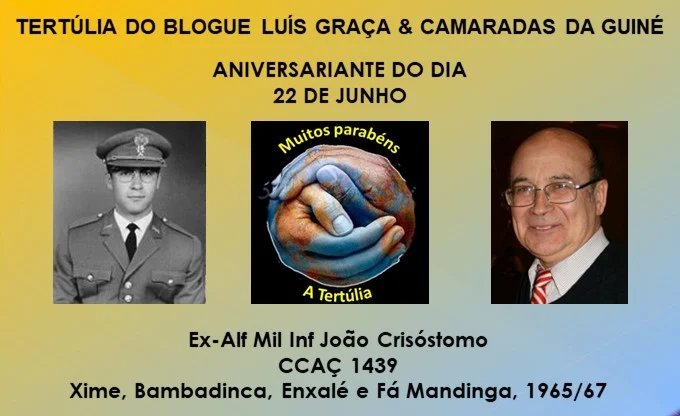

.png)





























