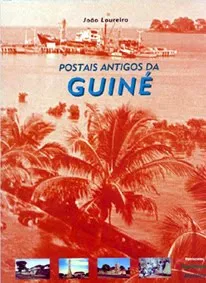1. Mensagem de Rui Silva, ex-Fur Mil da CCAÇ 816, Bissorã, Olossato, Mansoa, 1965/67, com data de 27 de Novembro de 2009:
1. Mensagem de Rui Silva, ex-Fur Mil da CCAÇ 816, Bissorã, Olossato, Mansoa, 1965/67, com data de 27 de Novembro de 2009:Caros Luís, Briote, Vinhal e M. Ribeiro:
Recebam um grande abraço e os maiores votos de saúde nas V.as pessoas.
Envio em anexo mais um excerto das minhas memórias que começou com a descrição de Bissorã (post 5156) continua agora com o Olossato e vai terminar com Mansoa.
Em anexo vai só metade do trabalho (parte I) pois não coube tudo. Envio de seguida a parte II noutro mail e que completa aquela.
Saudações e passem bem.
Rui Silva
BISSORÃ – OLOSSATO – MANSOA
O périplo da 816 em 2 anos de guerrilha na Guiné Portuguesa
OLOSSATO (II)
27 de Setembro de 1965 a 31 de Julho de 1966
Olossato, Olossato, onde tudo é muito chato e a vida não dá prazer…
Companhia, Companhia, quer de noite quer de dia há sempre muito que fazer.
Este um trecho do verso à Companhia feito pelo “poeta” e “baterista” o meu amigo Belchior (Furriel da 816), verso que passou a funcionar quase como o Hino da 816 -
Deixamos então Bissorã e rumamos a oriente para Olossato (~15 Quilómetros).
 Foto 1 > Estrada Bissorã-Olossato
Foto 1 > Estrada Bissorã-OlossatoEra assim o Olossato
Até à ponte de Maqué, ponte sobre um rio sub-afluente do Cachéu (pontão sistematicamente destruído pelo inimigo mais tarde), picamos a estrada. Tínhamos passado a “carreira de tiro” sem qualquer, embora sempre esperado, contacto com o inimigo. Na ponte já lá estavam os nossos camaradas e já por muitos de nós conhecidos, os velhinhos da 566 que então tinham picado o lanço subsequente (ponte de Maqué-Olossato). Assim, como a estrada dali para a frente estava, em princípio, desimpedida de minas, as viaturas aceleraram até Olossato.
Aparecem então do lado esquerdo algumas casas de alvenaria/tijolo, a do Chefe de Posto de Olossato e ao mesmo tempo “Posto Administrativo” e mais duas ou três casas pequenas. Logo a seguir, as primeiras moranças, também do lado esquerdo, já que do lado direito e um pouco dentro ficava a pista da aviação.
E eis que surge a fortificação a cortar literalmente a estrada Bissorã-Farim, feita principalmente em troncos de palmeira a que lhe podemos chamar o aquartelamento do Olossato. Uma “Porta d’Armas” feita em tábuas e troncos de palmeiras também e um grande emblema da 566 pintado em chapa de bidão (esta dava para tudo) sobre a entrada e em posição altaneira. Lá estava o “cavalo-de-frisa”. Quadro a fazer-me lembrar os filmes de cow-boys no western americano.
 Foto 2 > Sentinela na Porta d’Armas no aquartelamento do Olossato
Foto 2 > Sentinela na Porta d’Armas no aquartelamento do OlossatoOlossato já de si uma terra pequena, foi debandada mal começou a guerra. O pessoal fugiu para o mato. Olossato desertou em termos de população indígena local. A que lá vivia agora tinha sido recolhida no mato pela 566. Portanto ao contrário de Bissorã o pessoal de Olossato estava em empatia com a tropa.
Olossato era assim uma pequena e simpática povoação. Embora estivéssemos ali por causa da guerra e na guerra, Olossato e a sua gente, na altura, por certo enraizou admiração e simpatia em todos nós da 816. A pequena pista de aviação, aí com 400 a 500 metros de comprimento, apenas permitia a aterragem de pequenos aparelhos, mormente avionetas, para não falar dos helicópteros, que apenas precisavam de uma área restrita para pousar, praticamente a área da hélice, veja-se as condições no mato ou nas bolanhas. A pista ficava do lado sul do quartel. Flanqueava a cerca de 100 metros, ao lado, a estrada para Bissorã. Do lado oposto da pista, relativamente a esta estrada, estavam então as tabancas do pessoal indígena que se estendiam em todo o comprimento do quartel e alargava-se umas dezenas de metros para norte.
O quartel, improvisado como muitos para aquela guerra, abrangia, e tal como em Bissorã e por certo em todas as outras povoações com tropa, a zona, ou parte desta, das casas residenciais, casas feitas em alvenaria e com todos os requisitos de uma casa normal e em clima tropical. Estas eram as casas dos colonos brancos, recentemente abandonadas por estes para fugirem à guerra. Brancos (incluindo libaneses) a residir no Olossato não havia. O quartel era composto pela casa dos Oficiais que ficava junto da entrada nascente do quartel, virada a Farim, pela casa dos Sargentos exactamente em frente da casa dos Oficiais e do outro lado da estrada, estrada esta que dividia o quartel a meio e que mais não era que a estrada que ligava, como já se disse, Bissorã a Farim. Dois cavalos-de-frisa (armação feita em caibros de madeira com arame farpado a envolvê-la em forma de novelo) tapavam a estrada, um do lado da saída para Bissorã – que era a entrada principal do quartel (Porta d’ Armas) e a poente - e outro do lado da saída nascente ou seja da saída para Farim. Ao lado da nossa casa, e o que em tempos terá sido um armazém, ficava a Cantina, muito espaçosa e agora muito bem arranjada. Contiguamente a esta e do lado de trás, relativamente à estrada, estava instalado o Posto de Rádio e o de Criptografia e numa outra dependência, também contígua, a Enfermaria. Mais adiante e ainda do mesmo lado, o grande barracão, e, o que permitia julgar ter sido uma serração ou afim, negócio que parecia ser dos mais explorados pelos colonos, que servia de caserna e onde se alojavam os cerca de 120 soldados da 816. Em frente a esta caserna um pequeno largo onde no meio, num canteiro redondo orlado a garrafas de cerveja vazias e de bocal enterrado, se destacava num alto mastro a bandeira portuguesa.
 Foto 3 > Caserna dos soldados e do lado direito o mastro com a bandeira portuguesa
Foto 3 > Caserna dos soldados e do lado direito o mastro com a bandeira portuguesaLogo a seguir ao barracão-caserna dos soldados, e ainda para poente, lado Bissorã, ficava então a cozinha e o refeitório dos soldados, instalações estas, construídas de forma artesanal mas bem ajeitada pela tropa e sempre em tábuas e troncos de palmeiras.
 Foto 4 > Fazendo a sopa em cozinha de campanha
Foto 4 > Fazendo a sopa em cozinha de campanha Foto 5 > O ritual diário: descasque das batatas
Foto 5 > O ritual diário: descasque das batatasLogo a seguir e ainda voltada a poente, isto é para o lado de Bissorã, uma pequena barraca com a geradora eléctrica. Ainda antes da saída do quartel e agora do lado de Farim, entre a referida saída e a messe dos Sargentos, e do mesmo lado, ficava ainda a casa aonde estava instalada a Secretaria da 816 com o nosso Primeiro Rodrigues a fazer as contas auxiliado pelo Cabo “Boavista” sempre desenfiado por causa da bola, e o Primeiro sempre a perguntar por ele. Havia também uma vivenda, a única dentro do quartel, habitada por um civil (!): um velhote cabo-verdiano. Aquela ficava sensivelmente defronte da caserna dos soldados mas do outro lado da estrada portanto do lado da pista e envolta de grande folhagem de árvores e arbustos. Era difícil divisar a casa naquele emaranhado mas bem arranjado conjunto de plantas e arbustos. Ninguém simpatizava com ele. Pareceu-me que os cabo-verdianos em geral usufruíam de uma vida mais ou menos privilegiada na Guiné; também eram colonizadores.
O cabo-verdiano, nosso vizinho, saía de bicicleta muitas vezes para fora do quartel, para o lado de Bissorã - o lado mais pacífico nos primeiros quilómetros -, se bem que, era, ao que se dizia, para tratar das suas plantações, mormente de ananás, o certo é que ele podia muito bem ter contactos com elementos terroristas, julgávamos nós. Interrogávamo-nos assim, de que lado estaria ele. No entanto como o próprio Capitão, parecia (?), não se perturbar com tal personagem não éramos nós a perturbarmo-nos.
Finalmente, logo a seguir à casa dos Oficiais e ficando assim no limite do quartel, do lado nascente, ou seja da saída para Farim, o pequeno campo da bola e logo ao pé e já por trás da dita casa, o campo de Vólei, um e outro arranjados para o efeito.
 Foto 6 > Campo de futebol
Foto 6 > Campo de futebol Foto 7 > Equipa de futebol da 816
Foto 7 > Equipa de futebol da 816 Foto 8 > Jogando voleibol
Foto 8 > Jogando voleibolTudo isto fazia parte do nosso aquartelamento, que era cercado por uma sebe composta por duas fiadas de troncos de palmeiras que formavam, por assim dizer, um quadrado fortificando o quartel. Estas fiadas eram mais ou menos da altura de um homem. Nos quatro vértices do quadrado assim amuralhado, destacavam-se e num plano estrategicamente altaneiro, outros tantos abrigos cobertos, onde estavam instaladas, em cada um deles, uma metralhadora. Estes abrigos eram de formato circular e tinham uma cobertura também em chapa e terra de barro a encher, e à prova de tiro e de granadas de todos os tipos.
Eram os abrigos dos sentinelas.
 Foto 9 > Abrigo dos sentinelas
Foto 9 > Abrigo dos sentinelasAo correr dos lados do dito quadrado e regularmente situados, havia abrigos, também cobertos, e que serviam às Secções de Atiradores em caso de ataque. Os abrigos nos vértices, que estavam equipados de metralhadora, funcionavam também como postos de sentinela de dia e de noite, isto é 24 horas por dia. Estávamos assim com boas condições de defesa em caso de “visita” inimiga. Ainda e à volta de trinta metros à frente e para o exterior, da já referida sebe de palmeiras, havia ainda outra cêrca, esta de arame farpado sustentada por caibros ao alto, colocados em espaços regulares, e ainda outra mais adiante esta mais aligeirada. As duas a contornar completamente o aquartelamento, Portanto duas cercas de arame farpado eram o primeiro obstáculo para o inimigo, se, porventura, o que não se acreditava, quisesse aproximar-se muito do quartel.
Já do lado de fora do quartel, e do lado de Bissorã um pouco adiante ficava a casa do Chefe de Posto que não se livrava do olhar desconfiado da malta, ou por outra ele é que tinha um ar de desconfiado, e, ao lado daquela, uma outra, que mais tarde o Capitão utilizaria para escola das crianças indígenas.
 Foto 10 > Casa do Chefe de Posto/Posto Administrativo
Foto 10 > Casa do Chefe de Posto/Posto AdministrativoDo lado oposto, passando a estrada, e entre esta e a pista de aviação, estava o pessoal da Artilharia reforçado por uma Secção, à noite, da Companhia ali aquartelada, acomodado também num grande barracão, outrora instalação civil. Cá fora, dois potentes obuses, um de cada lado do barracão, apontados para as zonas de Morés e Iracunda com a pista de entremeio. Uma vez por outra faziam fogo de flagelação para esses lados. Os Obuses ficavam assim virados para a pista e como o inimigo privilegiava este lado os obuses também faziam tiro directo… às vezes.
E ainda há a história do porco que posto em pânico, ao fugir esticava a corda atada a uma pata e accionava um Obus. Granada endereçada para as bandas de Morés.
 Foto 11 > Obús no Olossato
Foto 11 > Obús no Olossato Foto 12 > Obuses no Olossato e paliçada de defesa
Foto 12 > Obuses no Olossato e paliçada de defesaSaindo agora do quartel na estrada para Farim encontrávamos mais adiante (~1 Km) a ponte sobre o rio Olossato onde o inimigo mantinha vigilância e com sentinela principalmente à noite. Houve menino que chegou a ir para lá pescar mas não tardou que entrasse a passo acelerado no quartel, sem fôlego e jeito para dizer o que foi. Pressentiram que estavam a ser cercados. A jusante desta ponte e já para dentro da povoação do Olossato (o rio passava perto das moranças mais afastadas), construímos uma ponte em que os pilares sustentadores eram dois chassis de viaturas militares em sucata e o passadiço feito em travessas de madeira. Esta rudimentar ponte seria a porta do cavalo para as saídas da Companhia quando queria evitar a estrada para Farim. Servia também aos nativos por ali perto puderem cultivar do outro lado do rio. Esta terá sido a principal razão.
 Foto 13 > Furrieis da 816 em traje domingueiro na ponte militar sobre o rio Olossato
Foto 13 > Furrieis da 816 em traje domingueiro na ponte militar sobre o rio Olossato Foto 14 > A Ponte… só a ponte
Foto 14 > A Ponte… só a ponteAs suas gentes
No Olossato, o pessoal indígena andava à volta de 300 a 400 pessoas que se dividia principalmente em três etnias, das quais predominava a Mandinga, curiosa raça que, por conceitos religiosos, não bebe vinho nem come carne de porco. A população era da nossa confiança, pois inúmeras foram as provas de total e incondicional adesão à tropa e à causa desta. Assim, em Olossato, e ao contrário de Bissorã, estávamos bem acompanhados, pois não tínhamos ali inimigos. População indígena e a 816 viviam um clima de salutar amizade e cooperação.
 Foto 15 > Mulheres do Olossato pelando o arroz
Foto 15 > Mulheres do Olossato pelando o arrozOlossato era na verdade uma pequena e simpática povoação bem no meio do Oio, que, creio, deixou algo gravado nos nossos corações. Gente pacata, ordeira, humilde e trabalhadora dava-nos um grande àvontade e segurança. Entre as figuras típicas do Olossato tínhamos o senhor Fodé, o Quebá, o Bacar - o grande Bacar -, o Timbrim, o Mamadú ou Jorge - este último o nome aportuguesado que o Luís José lhe deu e que o trouxe para a metrópole -, o Reguila, o Sana e o seu inseparável companheiro Abdul, as lavadeiras Cosa grande e a Cosa pequena, isto para falar na gente mais badalada e com história para contar.
O senhor Fodé era um negro, civil, muito corpulento. Parecia um gorila. Tinha um sorriso simpático (?) para com a malta e parecia homem de confiança. Era comerciante, cujo estabelecimento, modesto e rudimentar, ficava logo à saída do quartel na estrada para Farim e do lado esquerdo.
Julgo que no nosso tempo era o único comerciante do lado de Farim. Vendia ele ali diversas coisas, na maioria panos. Ali ele trabalhava, já que a sua casa ficava do outro lado do quartel ou seja na estrada para Bissorã. Tinha ele duas filhinhas que eram duas pretitas encantadoras. O vai-e-vem casa-loja, ele fazia-o através da estrada que atravessava o aquartelamento. Parece-me que era o único civil com “carta branca” para isso. Então ele passava perto da malta, sempre ao fim da tarde com as filhas ao colo, uma de cada lado.
Crianças de 1-2 anos anos que encantavam com os olhos negros e expressivos (os tais olhos negros da Guiné).
Do lado de Bissorã e já perto da “Porta d’Armas”, também havia 2 ou 3 estabelecimentos, rudimentares também a venderem panos e outras necessidades indígenas.
Para além da loja do senhor Fodé logo à saída para Farim já mais abaixo e já do lado direito ficava a casa do padeiro que nos fazia o pão, não sei se também para os civis.
Sempre que havia prisioneiros o senhor Fodé tomava parte activa nos interrogatórios, e de que maneira, pois muitas vezes vi ele empregar o seu volumoso físico para desgraça do interrogado. A missão dele contudo era mais de intérprete (descodificar o crioulo) e sempre dava um certo efeito psicológico por ser também preto. Confesso que me metia alguma impressão ver um preto a bater num irmão de cor e filho da mesma terra.
O Quebá era um preto da maior confiança, que colaborava e saía com a tropa para o mato. Tinha o seu camuflado e era também possuidor de uma G3. De semblante sereno e aparentando uma impressionável calma, o Quebá era, sobretudo, um indivíduo inteligente e de extrema utilidade à tropa. Movimentava-se muito bem no mato. Falava paulatinamente o seu fraco idioma português, mas fazia-se compreender muito bem, que, afinal de contas era o que importava, embora mais com gestos de que com palavras. Gostava de jogar à bola. Quando lhe cheirava ir haver jogo lá estava ele na primeira linha devidamente equipado.
 O Bacar, o grande e inesquecível Bacar, que um dia, inexplicavelmente, olhando à sua rara esperteza, é vítima duma cilada inimiga que o fez cair de uma forma infantil. Homens como o Bacar era do que nós precisávamos. Astuto, corajoso e destemido, conhecedor do mato como das suas próprias mãos, deslocava-se neste como um animal felino. Parecia, que pelo cheiro ele pressentia o inimigo. O Bacar saía sempre com a tropa e, em muitas das vezes, como guia, e sempre à frente. Quando ele saía connosco parecia que levávamos outra alma. Tinha já colaborado com a 566 de maneira decisiva e depois ficou com a 816 com a promessa (julgo) do então Governador Schultz, de que viria para a metrópole acompanhando a Companhia 816 aquando do seu regresso. Já lhe tinham prometido vir para a metrópole com a 566, mas…
O Bacar, o grande e inesquecível Bacar, que um dia, inexplicavelmente, olhando à sua rara esperteza, é vítima duma cilada inimiga que o fez cair de uma forma infantil. Homens como o Bacar era do que nós precisávamos. Astuto, corajoso e destemido, conhecedor do mato como das suas próprias mãos, deslocava-se neste como um animal felino. Parecia, que pelo cheiro ele pressentia o inimigo. O Bacar saía sempre com a tropa e, em muitas das vezes, como guia, e sempre à frente. Quando ele saía connosco parecia que levávamos outra alma. Tinha já colaborado com a 566 de maneira decisiva e depois ficou com a 816 com a promessa (julgo) do então Governador Schultz, de que viria para a metrópole acompanhando a Companhia 816 aquando do seu regresso. Já lhe tinham prometido vir para a metrópole com a 566, mas…Muito perguntava ele, animado do maior entusiasmo, sobre o que era a vida, os costumes, as estradas, o movimento, etc., daquilo que para ele era um lindo sonho: a Metrópole. Perguntava muito sobre Lisboa onde porventura ele ficaria. Falávamos-lhe dos automóveis, dos carros eléctricos, do Tejo, do comboio que anda debaixo da terra, das coristas do Parque Mayer, dos arranha-céus, dos monumentos, etc. Tudo aquilo que há de grandioso e belo numa cidade como Lisboa. Os olhos dele, que naquela altura ainda viam, brilhavam buliçosamente ao ouvir as nossas histórias. O Bacar tinha 2 mulheres, à boa maneira mandinga e que até se davam muito bem, para grande admiração nossa. Outras gentes, outros costumes.
O Timbrim era uma figura típica também. Preto, de cabelo muito encarapinhado, mas já muito branco (o cabelo), e também falta dele, de pele muito enrugada, denunciadora de uma idade avançada, também saía para o mato acompanhando a tropa. Fazia-nos admirar a prontidão e a disposição para aquelas andanças, naquele admirável “avozinho”, de Mauser, bem segura nas muito engelhadas mãos.
Ele via mal ou que era mesmo cego de uma vista. O Timbrim, contudo, não regateava esforços ou sacrifícios e lá estava ele bem firme na coluna a aguardar ordem para avançar. O Timbrim tal como os outros auxiliares ou carregadores, também ganhava alguns pesos com as saídas, por certo poucos, mas que para aquela gente muito jeito fazia.
 O Mamadú ou Morés, hoje Jorge, foi um miúdo que nos foi legado pela 566. Era por assim dizer o menino bonito da malta, principalmente de nós, os Furriéis, que era com quem ele convivia.
O Mamadú ou Morés, hoje Jorge, foi um miúdo que nos foi legado pela 566. Era por assim dizer o menino bonito da malta, principalmente de nós, os Furriéis, que era com quem ele convivia.Foi apanhado algures na mata de Morés, daí também a sua alcunha, aquando de uma operação feita pela 566. Disse-se que era filho de um presumível terrorista e “bazookeiro”. Ao que parece, e aquando de uma fuga precipitada do pessoal terrorista, na dita operação, aquela inocente criança, alheio a tudo o que se passava e o porquê daquela bagunçada, ficou abandonada e então mão amiga e carinhosa trouxe-o para o Olossato. Aí e como não tinha quaisquer familiares ficou ao cuidado dos Furriéis, mais precisamente sob a custódia do Sargento Preto (Preto de seu nome) que muito o estimava e dele muitas saudades levou quando partiu para a metrópole, no fim da sua comissão.
O Mamadú (julgo que 50% dos pretos mandingas são Mamadú) logo caiu na simpatia geral do pessoal da 816. Comia com a gente, tinha a sua cama e a malta arranjava-lhe roupas. Certa vez o Baião, regressado de férias, trouxe-lhe uma bola, que ele por azar… rebentou-a logo ao primeiro chuto. O Piedade trouxe-lhe roupa da metrópole e o Martins também. Enfim, todos estimavam o Mamadú. Era um moço muito inteligente e já falava muito razoavelmente o português, apesar da ainda pouca convivência com a malta da Companhia. Sabia o nome das terras da naturalidade de todos os Furriéis, do nome das namoradas ou madrinhas de guerra, etc., etc..
O que ouvia entre a malta jamais lhe esquecia.
Uma vez, e por acaso, a malta descobriu que ele furtava-se a comer carne de porco e a beber vinho. Foi de admirar como aquela criança respeitava tão religiosamente na etnia a crença mandinga, que proibia de se comer carne de porco e de beber vinho. Ao apercebermo-nos disso, fizemos-lhe ver que a carne de porco era comestível como qualquer outra saborosa carne e que estava dentro dos hábitos alimentares de toda a gente, e que o vinho, fruto da uva, era um complemento valioso na alimentação, mas ele, irreverente, fiel à sua doutrina, chorou que se matou, e até, aqui é que está o trágico do episódio, levou uns cachaços de um menos paciente. Um quadro a meditar…
O pequeno Mamadú, que todos acabaram por enaltecer a sua fidelidade religiosa, não quis de forma alguma infringir a sua religião. Admirável! Hoje, na metrópole, ele é agora um bom apreciador da carne de porco e do melhor vinho… julgo eu.
O Mamadú acabaria por vir para a metrópole ao cuidado do Luís José.
O Reguila, pretito franzino de 5-6 anos era um miúdo que irradiava simpatia e todo ele era um espectáculo.
Sempre a sorrir para quem o abordava, ele cativava a malta e incutia afecto e estimação. Sempre que ele aparecia junto da messe, pedíamos para ele dançar ao que ele logo acedia dançando e cantando lá qualquer coisa típica ou da imaginação dele. O certo é que os seus movimentos eram bem ritmados e ele tinha uma infindável graça. O Reguila era também muito estimado por todos, mas este miúdo tinha família e portanto vivia lá para as tabancas. Um dia mais tarde tivemos o duro conhecimento que tinha afogado ali numa bolanha bem perto, apenas… num palmo de água! Ainda pequenino, era já, por vezes acometido de qualquer espécie de ataque súbito. Foi apanhado em plena bolanha, que na altura tinha alguma água, por um desses ataques que o fez prostrar por terra. O Reguila teve o raro azar de ser acometido numa pequena poça de água que pouco mais lhe cobria a cabeça. Foi uma consternação geral em toda a malta por tamanha fatalidade no pequenino e alegre Reguila. Cair inanimado pelo ataque e acontecer ali uma pequena porção de água que foi a bastante para lhe causar a morte por afogamento e ainda para mais passar despercebido a quem quer que fosse, foram coincidências a mais para a desdita do miúdo. Ficamos tristes, muito tristes.
Agora falemos do par inseparável Sana e Abdul. Faziam lembrar o Bim e o Bam da banda desenhada. De comum só a cor da pele. Vindos também algures do mato, sem qualquer família ali no Olossato, o Sana e o Abdul eram mais dois protegidos do pessoal militar. O Sana sempre risonho fazia-nos os recados com prontidão e era muito cumpridor. Certa vez mandei fazer uma camisa para cada um, e alguém arranjou-lhes uns calções.
O Sana aparecia sempre limpinho ao fim do dia, ao contrário do Abdul, que tinha um ar acabrunhado, que quando vestia alguma coisa aparecia pouco tempo depois todo sujo. Começava aqui a dita diferença, a que se junta a pouca vontade do Abdul de fazer o que se lhe pedisse. O Abdul, e até aqui eram bastante diferentes, tinha uma barriga muito grande, talvez da fome que tivesse passado, ao passo que o Sana tinha uma fisionomia perfeita.
 Foto 18 > Os inseparáveis Sana e Abdul
Foto 18 > Os inseparáveis Sana e AbdulPor fim as duas Cosas lavadeiras. A mais nova aparecia pouco junto da malta. Quando o fazia era par vir buscar roupa suja ao Baião, que tinha cá um certo jeito para lha dar, pois aproveitava a ferramenta direita para pendurar peça a peça ao que ela ia apanhando não sem alguma relutância. Era o único Furriel para quem ela lavava a roupa. A mais velha das Cosas já era lavadeira de alguns, mas com quem ela simpatizava muito era com o Carneiro ou melhor com a ferramenta deste, pois tinha um tamanho anormal. Sempre que ela entrava no quarto onde ele dormia os demais saíam logo, para facilitar…
Depois de alguns minutos lá estava ele na Enfermaria a pedir um tubo de pomada, apropriado.
Mais tarde quando saímos do Olossato, viemos a saber que a Cosa mais nova tivera um filho… mestiço! Houve então um jogo do empurra entre dois militares.
 Foto 19 - Lavadeiras do Olossato
Foto 19 - Lavadeiras do OlossatoAo fim e ao cabo o Capitão Riquito é que não gostou nada da história. Safaram-se por ele não ter a certeza, pois bem avisou a malta logo ao princípio da comissão, que num caso destes obrigava o causador a assumir a paternidade.
Como o Bacar foi vítima da curiosidade
Falando finalmente e ainda do Bacar, do infortunado Bacar, que viria sim, para a metrópole mas que nada veria nesta. Que destino tão cruel! Nada ia ver das muitas maravilhas que aquela lhe poderia proporcionar e das quais lhe íamos metendo na cabeça. Nada veria do que muito sonhou e imaginou. O que lhe aconteceu foi mais um motivo de pesar e de consternação em toda a malta. O Bacar veio para a metrópole mais cedo c’o que julgava, mas… completamente cego e muito inferiorizado. O Bacar todo ele vida e espírito, dera lugar a um farrapo humano que ainda vivia e porventura ainda deve viver. Um grande abraço Bacar.
Um célebre domingo, pela manhãzinha, quando ainda saboreávamos a cama depois de um sono retemperador, ouvimos um rebentamento próximo do quartel. Como sempre grande número de pessoas convergiu para o suposto lugar do estrondo. Quando também para lá nos dirigíamos, alguém que já de lá vinha disse comiserada e laconicamente:
- Foi o Bacar.
Mas, o quê, o que poderá ter acontecido ao Bacar?. Perguntas como esta, saíram logo das nossas bocas. O Bacar? Acontecer ao Bacar? Logo depois um Unimog deposita dois corpos à porta da Enfermaria. Um deles era o do Bacar, cheio de buracos por todo o corpo originados pelos estilhaços de uma granada ou fornilho armadilhado. Metade de uma perna dependurada, e o pobre do Bacar gemia, perante o olhar triste da malta que o rodeava. O outro também estava ferido, mas pouco.
Receamos logo por a perna do Bacar, mas o que nunca passou por a cabeça de alguém é que ele viria a perder as duas vistas, como só mais tarde viemos a saber.
Pobre Bacar, tão astuto e corajoso como inteligente, tinha caído infantilmente numa armadilha quando com outro andava a colher mancarra ali a umas escassas centenas de metros do quartel. Um cinto, feito de pele de caça, no meio de um carreiro. Um cinto de préstimo tentador e então o Bacar apanha-o e, ao fazê-lo, ao puxá-lo, accionou a armadilha. O estrondo entoou pelos ares indiciando um rebentamento muito forte e potente e então o Bacar foi sacudido e arremessado de forma violenta. O efeito da detonação foi tão forte que pela deslocação do ar o companheiro de safra do Bacar, que estava empoleirado numa palmeira junto à copa a colher xabéu, caiu desamparadamente no solo o que lhe causa fractura duma perna. Triste epílogo do Bacar na guerra. O Capitão Riquito era dos que menos escondia o seu pesar, pois o Bacar, além de um bom conselheiro do Capitão, era um grande e indefectível amigo de toda a Companhia, isto para não destacar as suas façanhas no mato e em combate. E assim o Bacar que tinha a promessa de vir para a metrópole com a 816, afinal viria mais cedo, mas jamais veria os automóveis, a multidão, os autocarros de dois andares, os eléctricos, os reclamos luminosos, o rio Tejo e os seus barcos e todo o mais com que lhe vínhamos enchendo a cabeça. Muito comoveu aquela cena de que quando ele ainda estava na enfermaria, logo depois do acidente e onde os três enfermeiros, incansavelmente, lhes prestavam os socorros possíveis antes de ser evacuado, ele pediu e apertou entre as suas mãos uma mão do Riquito, dizendo:
- Assim estou melhor.
A malta, como sempre, teve uns largos minutos de tristeza e lamentação, mas a resignação era sempre o melhor e único remédio para as contrariedades e então novo estado de alma se levantaria. Era assim o segundo grande revés da Companhia. O que aconteceu afinal fazia parte do cenário da guerra e era esta o nosso quotidiano…
Assim era e assim teria de ser, e havia que reagir da melhor maneira possível, continuando a encarar a guerra com toda a força física e espiritual, que em face dos factos como o que eu acabo de relatar, paradoxalmente, nos dava mais forças e pundonor para prosseguirmos na tentativa de acabar, destroçar, tudo e todos que faziam ou fomentavam o terrorismo, concomitantemente defendendo a integridade daquilo que era nosso, que era de Portugal e dos… portugueses.
 Foto 20 - OLOSSATO - Vista aérea em 1966
Foto 20 - OLOSSATO - Vista aérea em 1966A actividade da 816
Entretanto o nosso trabalho não parava, evidentemente. As manhãs eram ocupadas com a restauração e melhoria das condições no quartel. De tarde, após a sesta, jogava-se à bola no pequeno campo de futebol ou praticava-se Voleibol. Outros porém preferiam uma sombra menos quente, ou optavam por uma soneca duradoura. A porta da cantina fazia lembrar um saloon do oeste americano
Recordo-me do Capelão, aquando da sua passagem pela Companhia, na sua habitual visita por todo o Batalhão inclusive pelas Companhias agregadas como era o caso da 816, fazer “ponto” sempre que ia haver uma partidinha de Vólei, e que grande ponto ele era como grande motivador de boa e alegre disposição. Era o mesmo que em Bissorã como já contei
 Fotos 21 e 22 - O banho do pretinho e bajudinha transportando o irmão (imagens típicas em terras africanas)
Fotos 21 e 22 - O banho do pretinho e bajudinha transportando o irmão (imagens típicas em terras africanas)As saídas para o mato faziam-se regularmente. Havia as colunas de reabastecimento quer de géneros alimentícios quer de munições. Havia as regulares patrulhas em toda a zona envolvente do aquartelamento, as idas à lenha, que não eram pera doce, que o diga o “Trovoada” que caiu a um poço e ali esteve bom tempo seguro à parede, entalado, usando as costas e os pés como apoio, até que chegassem com uma corda que entretanto foram buscar ao quartel. Havia as operações-vaca e haviam as emboscadas a fazer, entre estas as perigosíssimas a Colissaré, pois não ficavam longe da base de Morés e bem longe do Olossato. Estas emboscadas eram de algum risco, pois, e como comentava a malta, que num sítio daqueles, um só Pelotão era efectivo muito pouco. E sobretudo haviam as operações de “Golpes-de-mão”, que eram as investidas ou assaltos às casas-de-mato (refúgios) inimigas.
Até que um dia chegou a ordem de alinharmos para destruirmos a famigerada “Serração” de Joboiá, a célebre serração, ou melhor, o que restava do que outrora foi uma serração e isto não passava, apenas das paredes ao alto e dos caibros que ainda aguentavam parte do tecto. A serração de Joboiá distava do Olossato cerca de 4-5 quilómetros na estrada para K3/Farim. Ficava isolada e longe de qualquer meio urbano, pois era Olossato a povoação mais próxima.
Chamo-lhe de célebre pois muito cedo começamos a ouvir falar dela. Logo que se falava de Olossato falava-se fatalmente da serração (os amigos da 566 conheciam-na bem, e de uma maneira temível e então esta tinha as suas histórias de guerra para contar). Ao que se sabia, os terroristas aproveitavam-se das suas ruínas, ou melhor das paredes, para fazerem emboscadas, assim bem abrigados. Ali, naquele sítio, uma emboscada era uma constante sempre que a tropa passasse na estrada de Farim, estrada que distava da serração aí a uns 40 metros.
Assim, sempre que passávamos ao lado da serração havia o receio de eles aparecerem.
Então o Capitão resolveu acabar com aquilo, o que e no dizer dele era mais um mito que outra coisa, o que nós concordamos.
O dispositivo para tal operação foi prévia e obviamente muito bem concebido pelo Riquito.
 Foto 23 - Algum do pessoal da 816 que colaborou na destruição da serração de Joboiá – Vêem-se em pé: Um soldado nativo, o Alferes Costa, Furrieis Rui e Coelho, Flores, Alferes Esteves e Pelé, e em baixo entre outros o Clarimundo simulando carregar o morteiro e o “Chaves” com a sua “bazooka”
Foto 23 - Algum do pessoal da 816 que colaborou na destruição da serração de Joboiá – Vêem-se em pé: Um soldado nativo, o Alferes Costa, Furrieis Rui e Coelho, Flores, Alferes Esteves e Pelé, e em baixo entre outros o Clarimundo simulando carregar o morteiro e o “Chaves” com a sua “bazooka”À uma hora da madrugada sai então do Quartel o 1.º GCOMB comandado pelo Alferes Costa, na ausência do Alferes Barros o titular daquele Grupo. A missão deste Grupo é fazer um reconhecimento e instalar-se em redor da serração, em dispositivo de segurança, de forma que, já pelo alvorecer, a chegada do meu GCOMB àquele sítio seja feito a coberto de qualquer surpresa, pois uma vez já ali instalado o 1.º Grupo não seríamos surpreendidos pelo inimigo que podia muito bem já estar ali acoitado. Portanto quer dizer, o 1.º Grupo assegurava a não presença inimiga ali na altura que nós chegássemos pela manhã com o material adequado para a completa destruição do que então restava da antiga serração. Mas, logo no começo da operação, traçou o destino, ia haver contacto com o inimigo. Assisti ao partir do 1.º GCOMB, que, silenciosa e cuidadosamente, saiu em fila indiana, e como já se disse, à uma hora da madrugada, rumo ao objectivo. Primeiro eles iam por a estrada até à ponte – rio Olossato - que ficava a cerca de 1 quilómetro do Quartel, e, ultrapassada esta, meteriam-se então pelo mato, para melhor segurança na progressão e evitarem serem detectados.
Quando os últimos homens da coluna estavam a sair do aquartelamento e como já era um pouco tarde e eu tinha que me levantar cedo, fui-me deitar. Quando me aprestava para adormecer, e já todos nós deitados, eis que ecoa um metralhar contínuo e forte que mais forte parecia no silêncio da noite. Parecia fogo de uma metralhadora pesada. É nosso? É deles? - interrogamo-nos, surpresos. Era ali perto pelo nítido ouvir da metralhadora e a julgar por só terem passados breves minutos após a saída do Grupo. Como que impelidos pela mesma mola logo saltamos da cama e procuramos saber o que se passava. Tinha sido ali pertinho, precisamente logo ao sair da ponte e à entrada para o mato. Provavelmente o sentinela da ponte que atrás falei. Foram eles, e parece que há feridos, alguém disse apavoradamente. Estranhamos como aconteceu já ali perto e para mais saídos de surpresa como era habitual. Logo o Capitão e dois soldados armados, num jeep, para lá se deslocaram ao saber-se pelo rádio do local exacto e de que havia feridos. Pouco tempo depois regressa o jeep rumo à Enfermaria e então constatou-se ter sido o Andrade atingido com um tiro numa coxa. O preto Seidi tinha levado também um tiro que lhe esfacelou um dedo dum pé. Os feridos, claro, ficaram no quartel, mas o grupo continuou para o objectivo: - Garantir a segurança em redor da serração, para o outro que iria chegar para proceder ao seu desmantelamento.
Viemos a saber que os tiros de metralhadora e ao que parecia ser pesada, tinham sido feitos por presumíveis sentinelas que o inimigo tinha ali instalado em permanente vigilância à tropa do Olossato. Porém estes sentinelas concerteza que só à noite ali estavam, pois era também sempre de noite que nós saíamos para operações de “Golpes-de-mão”. As sentinelas descarregaram então o que puderam e logo fugiram através do emaranhado do mato. Não seriam mais que dois, como alguém bem perto da cena calculou. Do Pelotão nem chegou a haver reacção. Apanhados de surpresa, em plena escuridão da noite e praticamente à porta de casa, limitaram-se a deitarem-se no chão e como ficaram aos magotes, ninguém respondeu ao fogo inimigo até com o receio de se ferirem uns aos outros. A coisa foi também muito rápida pois eles fizeram a rajada e debandaram logo. Só se via a chama à boca da metralhadora - alguém acrescentou depois. Eles estavam atrás de uma árvore muito grossa - alguém ajuntou também.
Como se nada tivesse acontecido, ou por outra, como o que aconteceu não era de modo a que se renunciasse à operação, esta prosseguiu como se impunha.
Pelo alvorecer já estava o meu Grupo a caminho da serração e de encontro ao 1.º Grupo. Uma vez ali chegados, logo se começou a trabalhar na destruição do esqueleto daquilo que outrora era uma serração. Começou-se pela remoção dos caibros que sustinham o telhado que provavelmente teria existido, e depois, à picareta, as paredes também foram postas abaixo. Com o barulho das motosserras, o bater das tábuas ao caírem, e outros inevitáveis barulhos, receávamos pela chegada do inimigo a qualquer momento, embora o dispositivo de segurança entretanto montado pelo 1.º Grupo desse tranquilidade aos que trabalhavam. Assim, havia um grupo empenhado na completa destruição da serração e outro metido no mato a garantir a segurança.
Prepararam-nos uma emboscada no regresso ao quartel e pensar que o condutor Pompeu andou ali num vai-e-vem a trazer tábuas para o Olossato, (podia ser pescado à linha) mas eles queriam era o grupo todo, como aconteceu e para felicidade do Pompeu
A operacionalidade da Companhia era feita com o sistemático ataque às casas-de-mato de CANSAMBO, BISSAJAR, MORÉS, MISIRÁ, CANCUNCO, JOBOIÁ, LUBACUNDA, CANJAJA, CANFANDA, MARECUNDA, MAQUÉ, IRACUNDA, CUDANA, CANCANO e NHANE.
Segue-se MANSOA (III)
P.S. – Devo dizer que algumas das fotos aqui reproduzidas (fotos 1, 6, 12 e 14) não são da minha autoria. Aos seus autores, com a devida vénia, peço a devida autorização.
Rui Silva
__________
Fotos e legendas: © Rui Silva (2008). Direitos reservados.
Fixação do texto, negritos, itálicos e subtítulos da responsabilidade do editor
__________
Nota de CV:
Vd. último poste da série de 25 de Outubro de 2009 > Guiné 63/74 - P5156: Páginas Negras com Salpicos Cor-de-Rosa (Rui Silva) (6): O périplo da 816 em dois anos de Guiné - Bissorã