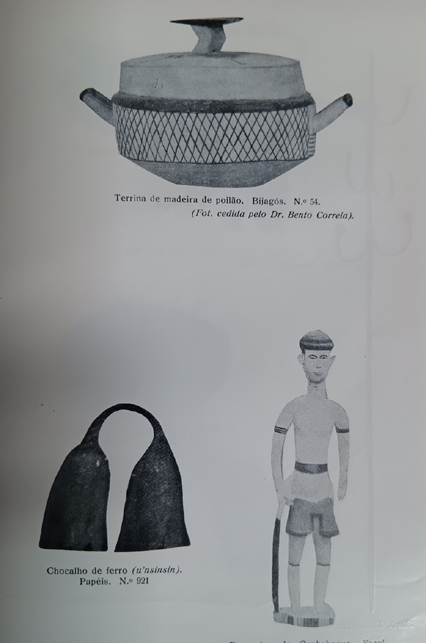Publico hoje os últimos extractos da 1.ª Parte do livro "Recordações de um Furriel Miliciano, Guiné 1973/74" (*)
Depois das férias em Cabo Verde na Ilha de S. Vicente, regresso a Bissau, no início de novembro [de 1973], continuava a paranóia latente de guerrilha urbana. Uma situação que vinha de anos anteriores, mas era minimizada… existia, mas não se acreditava que existia!
No bairro Cupelon e outros a explosão de granadas foi passando de ocasional a frequente, há confusões por tudo e por nada. Lembro-me da mãe de uma funcionária do “ChefInt” que morreu devido à explosão de uma granada!
Ela estava numa festa, às tantas, um desconhecido foi impedido de entrar, por não ser convidado… momentos depois, ele lançou uma granada para o telhado! Bum! A estrutura do tecto descambou, um pau de cibe acertou no peito da infeliz, que estava sentada num canto. O autor deste acto… despareceu na escuridão!
Acontecimentos do género eram corriqueiros! (…).Nelson Herbert (citado anteriormente) que na época era um adolescente, recorda acontecimentos ocorridos desde 1972:
“Ataques atribuídos as células clandestinas dos nacionalistas do PAIGC em Bissau. Um engenho deflagra-se na viatura de um funcionário da PIDE-DGS estacionado junto a sede/cinema do Clube Desportivo, UDIB.”
Manuel Amante também se lembra, ficou-lhe na memória o caso de “uma bomba que foi metida debaixo do carro de um graduado da polícia, que até era, mau! Não é? Tinha um Mercedes, na altura ele pavoneava-se com aquele Mercedes amarelo, tinha-o parado à porta da UDIB e foi colocada uma bomba que tinha sido transportada numa caixa de sapatos… (#)
No final de 1973 a situação em Bissau é extremamente tensa, todo o mundo está alerta e com medo. O ex-militar Abílio Magro e meu colega no QG fez o seguinte comentário:
“Face ao crescente temor de que um dia a 'coisa' ia chegar a Bissau, o pessoal andava algo receoso e muito nervoso.”
Nelson Herbert recordou que “a tal distante guerra, travada contra os «homens do mato» (…) rompe o bloqueio da nossa ingenuidade e chega finalmente ao coração da capital provincial.” (…)
O fim-do-ano de 1973 para 74 passamo-lo de serviço, fechados no quartel! Dias antes do Natal tinha chegado uma ordem para colocar cortinas pretas em todas as janelas; logo depois, foram colocadas em todas as janelas. Dizia-se, era para evitar a localização dos edifícios através da luz, porque temia-se um ataque aéreo nocturno com aviões MiG que os turras tinham recebido em Conacri!
Circulava no seio da tropa que a “ (…) Direcção Geral de Segurança (PIDE/DGS) na Guiné recolhera informações, dando conta que a guerrilha tem intenção, durante o Natal e o Ano Novo, de usar os MiG em bombardeamentos contra alguns aquartelamentos portugueses.” (##)
Então, a malta preparou-se para o fim-de-ano… a borga seria nas repartições! As gavetas das secretárias ficaram abarrotadas de comes e bebes, que o pessoal foi comprando na cantina e trazia aos poucos às escondidas!
No dia 31 de dezembro de 1973 saímos do serviço como sempre às 7 horas da noite, fomos jantar na messe. A partir das 20 horas voltámos ao serviço na repartição. Não havia nada para fazer! (…)
Mas, se em Bissau, a quadra do Natal e Ano Novo foi apenas um susto, no mato, a guerra continuava e estava no auge; o ex-Furriel Miliciano Enfermeiro, Abílio Alberto Tavares Faustino, recorda:
Naquele mês de dezembro aconteceu o “(…) Não Natal de 73. A malta no Cantanhez , sobretudo, as guarnições de Cadique e Jemberém e mais a sul, a de Gadamael, vivia uma situação de exceção devido à crescente pressão por parte do IN (ou seja o PAIGC), aliada ao peso do factor psicológico e físico, o aumento de emboscadas (3 emboscadas, a 15, 17 e 18 de Dezembro) e flagelações que não deixavam de criar uma situação de insegurança. (…)
E assim, foi a passagem de ano, já estamos em 1974.
A queda de aviões Fiat e da localidade de Guileje, os ataques a Guidage e Gadamael, foram sem dúvida factos marcantes de 1973 que ainda estão na memória de todos; no meio da tropa continua a reinar a ansiedade! Mas, como já estamos acostumados com o clima de tensão, encaramos tudo com naturalidade e sempre numa perspectiva de ultrapassar as dificuldades.
Assim, um início «atribulado» de Janeiro do novo ano de 1974, não é surpresa, pois a guerra continua. A «guerrilha urbana» não reconhecida como tal, vai estar agora bem visível… Uma realidade, que traz o medo e aumenta o sentimento de insegurança! (…)
Em meados de janeiro [de 1974] soubemos que tinha sido lançada uma bomba contra um autocarro da Força Aérea… Que susto!"
O ex-militar Abílio Magro, citado anteriormente recorda:
“Apenas me chegou alguma informação difusa de que teria sido colocada uma bomba no autocarro da Base Aérea, sem grandes consequências pelo facto de aquele se encontrar completamente vazio.”
Nelson Herbert, citado anteriormente recorda:
“Havia um muro mesmo defronte a Messe dos Sargentos da Força Aérea na Rua Engenheiro Sá Carneiro (…), esse muro foi armadilhado pelo pessoal da Zona Zero ou da clandestinidade do PAIGC em Bissau e foi parcialmente pelos ares… sem vítimas já que o autocarro por obra de qualquer irã resolveu fazer escala nesse dia, alguns minutos mais cedo! (…)"
Em meados de fevereiro, aconteceu uma explosão no QG. Foi pelas 7 da noite, eu estava de serviço de piquete, já tinha jantado na messe, ia para a formatura, depois deveria apanhar o transporte para o local da ronda. Quando a caminho do QG na rua direita depois da rotunda do poilão, ouvi: Buuummm! O chão tremeu!
Instintivamente, atirei-me ao chão, resvalei logo ali na vala de escoamento de águas pluviais… seguiu-se o barulho de uma chuva de estilhaços, vidros partidos… etc. Depois, ouço um carro apitando… esperei algum tempo… tudo calmo, espreitei! Mas não vi nada! Levantei-me, olho à volta: reina um absoluto silêncio! O portão está fechado…
Quando chego à porta de armas, vejo através das barras de ferro do portão, pedregulhos, lascas de parede… pastas de arquivo e papelada, caídos na parada! Não me deixam entrar! Há uma confusão total. Volto à messe, onde ouço bocas sobre o acontecido. Só depois das 8 da noite é que tudo se normaliza, lá fizemos a formatura e partimos para a ronda num bairro de Bissau.
“Encontrando-me eu a convalescer de uma operação às varizes a que tinha sido submetido no HMBIS e bebendo uma 'cervejola' sentado na esplanada da Messe de Sargentos de Santa Luzia, num final de tarde, dá-se semelhante rebentamento por ali perto, que julgo me fez levitar por breves segundos. Segue-se de imediato o buzinar contínuo e enervante da sirene de alarme do QG e a debandada geral, desordenada e atarantada do pessoal que por ali estava. "(…)
As coisas pioram com a explosão de uma bomba no Café Ronda, situado a meio da avenida que vai dar à Praça do Império. Naquele dia, eu estava de serviço de guarda, que habitualmente eu fazia na entrada principal do QG em Santa Luzia. À noite depois das 21 horas chegou notícia através do telefone que havia na porta de entrada e estava sob a responsabilidade da PM: houve uma explosão, na esplanada do Café Ronda que estava cheia de gente a tomar a bica depois do jantar!
O ex-furriel miliciano Abílio Magro descreveu mais tarde:
“Eu e mais dois ou três camaradas meus, tomamos o nosso cafezinho no balcão referido (Café Ronda) e seguimos de imediato para o cinema UDIB (um pouco acima na mesma avenida) para assistir à exibição de um qualquer filme que por lá andava. Poucos minutos depois do início da exibição do filme, dá-se um tremendo rebentamento lá fora e, quase de seguida se ouvem diversas viaturas com buzinadelas e sirenes, indiciando haver constante transporte de feridos. É interrompida a exibição do filme e surge uma voz aos altifalantes do cinema, solicitando a todos os médicos que eventualmente por ali se encontrassem, o favor de se dirigirem de imediato ao Hospital Militar". (…)
No dia seguinte, estava eu, de folga, fui a Bissau, ver os estragos… vi que o telhado de zinco, ficou revirado, dava uma ideia da força da explosão. Um militar que estava no Café Ronda disse anos mais tarde, o que lhe ficou gravado mais profundamente na memória:
Foi “(…) a bomba no Ronda, por dois motivos, por estar bastante perto dela e os mortos e feridos mais graves estarem ao pé de mim, um dos mortos, e único na altura, era o empregado nativo que nos estava a servir, (…)
Há, entretanto, outros acontecimentos domésticos marcaram a tensão em Bissau em Fevereiro daquele ano de 1974. Naquele dia de manhã chegou a informação de que na véspera, a PM prendera um soldado Comando Africano, porque andava sem boina, não respeitou estar fardado conforme o regulamento!
Os Comandos Africanos, tinham fama de destemidos e combatentes intrépidos, lá onde havia «barulho» estavam eles, logo, achavam-se no direito de ser respeitados, mesmo quando desrespeitavam ninharias como essas “coisas” do RDM (Regulamento de Disciplina Militar) sobre o fardamento!
47 anos mais tarde, coloco/recordo aquele acontecimento na página “Facebook – Guiné Recordações” e solicito depoimentos aos ex-militares da guerra colonial.
Fernando Pinto recorda:
“Estava no BENG (Batalhão de Engenharia) 447 Brá, Bissau, ouvi falar nisso, não sei mais nada!”
António Almeida diz:
“Foi verdade, eu na altura era condutor do comandante militar. Todos os grandes ficaram em sentido, fomos para o Q.G até tudo acalmar, com a intervenção do dito capitão. Mas, não foi só dessa vez que a estrada de Santa Luzia pôs tudo em sentido, as coisas eram logo abafadas "(…).
Refere então a bomba que explodiu no QG:
“Eu, estava lá e fui de imediato buscar o comandante que ficou ferido!”
José Carapinha descreve o que viu:
“Certo é que houve bronca (dos Comandos) e da grossa! Como começou não o sei! O que vi: os Comandos Africanos, desde Oficiais a Soldados armados, nota bem, com mocas e bastões, isso vi, outro tipo de armamento não; tudo isto durante a tarde junto da Amura (Quartel da PM e sede do Comando Chefe). Já pela noite ouvi o «arraial» algures lá para os lados do Alto-Crim!” (…) (###)
No seguimento destes acontecimentos, em Bissau, os nervos estão à flor da pele! Já estávamos em março, quando certo dia logo após a minha chegada à repartição contaram-me a bronca da véspera: um sururu no cinema ao ar livre, ao lado da Messe dos Oficiais. Já tinha começado o filme… quando aconteceu um movimento de pânico! Todos a correr e a fugir!
O ex-furriel miliciano, Abílio Magro que lá estava recorda:
“De repente vê-se um clarão e a debandada foi geral! Com a confusão, algumas cadeiras «ensarilharam-se» provocando tropeções e quedas e, os que caíam ao chão eram espezinhados pelos outros, como foi o meu caso.”
Explica então a brincar:
“A bomba tinha sido uma caixa de fósforos que se incendiara a um soldado, enquanto acendia um cigarro em cima do muro e que se terá desequilibrado!”
A «paranóia» estava instalada! Mas, com o moral alto e muita esperança, lá vamos passando os dias, trabalhando normalmente. Vamo-nos adaptando ao evoluir da situação… As jantaradas nos restaurantes de Bissau e festas para que sou convidado fazem esquecer… minimizam este ambiente tenso. (…)
E assim, vou encerrar a publicação dos extractos que dão uma ideia do livro que um dia poderá ser publicado. Extractos dos capítulos seguintes a este foram os primeiros a serem aqui publicados, descrevem o 25 de Abril e a situação que se viveu em Bissau em maio/junho de 1974.
Julgo, fui o único militar da tropa portuguesa (não originário da Guiné) que ficou em Bissau e lá viveu até 1975! Os meus camaradas militares cabo-verdianos todos regressaram.
Logo, a 2.ª Parte deste livro, é sobre chegada do PAIGC a Bissau, os acontecimentos antes e depois do dia 10 de Setembro de 1974, quando Portugal reconheceu o novo país… Ocorre então uma reviravolta na sociedade, acontecem coisas inimagináveis, reina um clima de incerteza e desconfiança no futuro.
Se houver um eventual interesse na 2.ª Parte do Livro, da parte dos leitores e da direcção desta página do Facebook "Tabanca Grande Luís Graça» e do blogue "Luís Graça & Camaradas da Guiné", então poderei iniciar a publicação de mais alguns extractos.
___________________
Notas do autor:
[#] No livro consta a entrevista com um dos participantes que explica, como decorreu essa acção; mas tratando-se de extractos, não poderei publicar tudo na integra agora. (….)
[##] Vários documentos, descrevem o problema de sobrevoos de aviões da Guiné-Conacri desde 1963 e “No dia 2 de Agosto de 1973, o jornal inglês Daily Telegraph dá conta de que o PAIGC está a treinar pilotos na União Soviética para usar aviões MiG, a partir da Guiné-Conakry, em possíveis ataques contra a colónia portuguesa.”
[###] Há mais depoimentos no livro, de militares e de pessoas que viviam em Bissau sobre este acontecimento. (…)
(Revisão / fixação de texto, itálicos, negritos,título: LG)
_______________