Blogue coletivo, criado por Luís Graça. Objetivo: ajudar os antigos combatentes a reconstituir o "puzzle" da memória da guerra colonial/guerra do ultramar (e da Guiné, em particular). Iniciado em 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência pessoal de uma guerra. Como camaradas que são, tratam-se por tu, e gostam de dizer: "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande". Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.
Pesquisar neste blogue
sexta-feira, 15 de julho de 2022
Guiné 61/74 - P23432: Notas de leitura (1464): “A primeira coluna de Napainor”, por António S. Viana; Editorial Caminho, 1994 (2) (Mário Beja Santos)
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 30 de Outubro de 2019:
Queridos amigos,
Dir-me-ão que "A primeira coluna de Napainor" tem qualidade, onda imaginativa, está muito bem organizado, mas não nos faz subir ao Sétimo Céu. Respondo que nos faz sempre bem ler romances-testemunho plenos de vibração, relevando aqueles aspetos da intelectualidade dos jovens da nossa geração que sobraçavam Camus à procura de soluções espirituais, isto numa atmosfera de caserna, subindo e descendo ravinas, em pleno Planalto dos Macondes. É um romance que vou guardar, até para homenagem que este alferes disfarçado de romancista presta aos seus soldados, a coragem em revelar-nos todas as suas dores, inquietações e medos. É uma muito boa literatura que vai ficar, tempos virão para joeirar o prestável do imprestável, na literatura da guerra colonial.
Um abraço do
Mário
A primeira coluna de Napainor, por António S. Viana (2)
Beja Santos
É com satisfação que vos venho falar de uma obra de ficção passada no teatro moçambicano, “A primeira coluna de Napainor”, por António S. Viana, Editorial Caminho, 1994. Um livro bem urdido, imaginativo na organização, homenageando um punhado de jovens oficiais milicianos, cúmplices nas leituras, alardeando experiência da teia de solidariedades próprias de quem anda pelo mato e convive com os horrores da guerra. É um processo de escrita onde se usa o difuso e o genérico, jamais saberemos qual a unidade militar a que eles pertencem, os locais que percorrem, os nomes dos quartéis por onde estacionam. Fazem operações, entram em aldeias, encontram uma velha esquálida, apanham animais, aqui surge a primeira metáfora do livro, Álvaro empunha a máquina fotográfica, é simbolicamente o guardador do tempo, um autoproposto cronista daquela unidade militar que anda pelo Planalto dos Macondes, surgem os nomes e as alcunhas, o Picareta, o Tristezas, o Padeiro, o Alminhas, o Risota, o Jigas, o Galego, o Pau de Burro. Um dos alferes escreve um diário, ele é adjunto do comandante de operações em Arduz, sabemos que a atividade da guerrilha se intensificou, a resposta é incendiar as palhotas em aldeias de duplo controlo. As relações com os missionários estrangeiros são tensas.
O leitor é facilmente capturado pela vivacidade das descrições:
“Um vulto passou a correr à frente da viatura, procurando desembaraçar-se da arma, praguejando e saltando como se estivesse no circo. Álvaro bateu no vidro e chamou mas o soldado desapareceu no mato. Um cortejo de abelhas seguia-lhe o rasto, como uma cauda monstruosa. Depois, dos lados do Unimog, apareceram mais soldados numa estranha dança sem sentido. Os que traziam panos de tenda ou capas de camuflado procuravam defender-se, embrulhando-se em gestos desajeitados.
Então Álvaro puxou da máquina e começou a disparar. Punha-se de pé, quase encostado ao teto, deitava-se no volante, encostava a objetiva ao vidro e ia disparando, procurando apanhar os homens nas posições mais insólitas, nos ângulos mais difíceis, encobertos, a agredirem-se a si próprios em esgares de dor, de cabeça perdida pedindo água, sumindo-se no mato”.
O sargento Leónidas é outra metáfora, um militarão que não se conforma com o “humanismo” do alferes, chamado Var. Há uma figura viscosa em Arduz, o tenente Baleia, compete-lhe fazer interrogatórios, tem gosto que saibam que é torcionário, diz a quem o quer ouvir que os pretos são preguiçosos, traiçoeiros e mal-agradecidos, só obedecem ao chicote. E chegamos à terceira metáfora, a estranhíssima deserção do alferes Caciz, anda fugitivo e quando é encontrado declama Camões, tudo num despropósito que torna todo aquele encontro e regresso ao quartel uma espantosa peça de absurdo, é um Camões que parece anunciar o todo e qualquer falta de sentido naquelas andanças da guerra. Há cortejos de leprosos, intermináveis deslocações, uma crescida tensão entre Leónidas e Var, cada vez mais dependente do álcool. Há cartas deixadas no mato por gente da Frelimo, continua-se a incendiar aldeamentos, surge um capelão lúbrico, os amigos alferes têm desavenças, trocam palavras ásperas, é numa delas que alguém clama: “Tu querias que um povo como nós, que fez da Índia, da África e do Brasil razões de sobrevivência no corpo e na alma, fechasse essa página da história sem que o absurdo, o sofrimento e até o ridículo se instalassem?”. Inevitavelmente, naquele fim do mundo há o administrador Fonseca que procura decidir a vida de toda a gente e não esconde o desprezo que sente pelos administrados. Anda-se a tentar recuperar populações, é essa a principal missão da Companhia 333, no intervalo faz operações, Var, que tem sonhos endemoninhados, acorda sempre aos gritos nas noites passadas no mato.
E é numa dessas operações que tem lugar um dos mais belos textos deste romance:
“Veio sorrateiro como um gato. Dobrou a beira da encosta para o planalto, escondeu-se atrás de um arbusto e abocanhou o cão, escapando-se ribanceira abaixo. Porém, o Picareta viu-o.
O soldado ouviu um restolhar no capim, logo seguido de um latido abafado. Era o cãozinho do capitão. O rafeiro instalara-se na mercedes à saída de Malavala, sem ninguém dar por ele, e viajara com o pelotão para Napainor. O soldado procurou-o entre os arbustos, intrigado com o que se passava.
Uma espécie de gato grande, com manchas, tinha filado o cão e começava a descer a ravina. O soldado aproximou-se o suficiente para apontar a arma e ferrar-lhe dois tiros. O rugido de dor surpreendeu-o. Mas o bicho desapareceu no horizonte, entre o mato cerrado e os arbustos de pequeno porte. ‘O sacana do gato estava mesmo a pedir’, pensou o Picareta, metendo-se encosta abaixo.
Via as marcas das patas desenhadas no chão molhado da chuva e seguiu-as, tentando enxergar para além da vegetação. O ar da manhã abrira-lhe o apetite, mas decidiu que não ia deixar o gato banquetear-se com o Dick. O capitão havia de lhe agradecer. Dobrou a curva da picada estreita por onde seguia e avistou-o de novo, uns trinta metros à frente, a olhar para trás, antes de desaparecer no mato.
Quando, momentos depois, o leopardo lhe saltou para cima, do meio de uns arbustos, foi apanhado de surpresa, a FN voou-lhe, com uma patada, para dez metros de distância e foi ao chão, empurrado pelo peso do felino. Agarrou-se-lhe ao pescoço com ambas as mãos e apertou quanto pôde, mas o bicho abocanhara-lhe o braço. Sentia-lhe os dentes a furarem-lhe a pele e as garras a arrancarem-lhe o couro-cabeludo. ‘Merda, anda um gajo na guerra para ser morto por um gato’. Conseguiu passar-lhe o braço à volta do pescoço e tentou voltar-se, espetando os seus próprios dentes no cachaço do bicho, enquanto procurava estrangulá-lo.
Já durava há um século aquele combate desigual, quando ouviu tiros mesmo ao pé. O 48 saltava desesperadamente, procurando uma aberta entre homem e leopardo para puxar o gatilho.
- Sai de cima do animal que eu quero disparar – gritou o cabo.
O Picareta ouviu-lhe os berros, mas não largou o pescoço do felino. O 48 já tinha despejado mais de metade do carregador da FN, mas nenhuma bala atingira pontos vitais e temia ficar sem munições antes de conseguir matar o leopardo. Continuou aos saltos e a disparar, sempre que conseguia fazê-lo sem perigo de atingir o companheiro. Conseguiu enfiar-lhe a última bala por entre as goelas. Então a fera largou a presa e levantou a cabeça em busca do novo inimigo antes de, com um rugido fraco, cair inanimado.
O Picareta, sem se aperceber de que o perigo passara, continuava agarrado ao leopardo. A pele da cabeça, ensanguentada, caía-lhe sobre os olhos. O braço direito tinha sulcos de centímetros de fundura, o ombro esquerdo estava descarnado e o camuflado rasgado em vários sítios.
- Era o que faltava que este cabrão deste gato me matasse – gritou para o outro, procurando afastar a cortina de pele e sangue que não o deixava ver”.
Aproxima-se o fim de um ano de comissão lá naquele duríssimo ponto do planalto. A obra terminará com a narrativa do que se supõe ter sido o drama dos últimos dias de José Bação Leal, morto por negligência médica. Manipulando um encadeamento entre os dramas pessoais que atravessavam aqueles jovens alferes, o desnudamento do inferno da guerra, há episódios coloridos de pincelada etnográfica e etnológica que tornam toda esta trama narrativa um regalo para os olhos. Por isso termina com a descrição de um batuque, primorosos parágrafos:
“Centenas de autóctones dividiam-se em duas filas, cujo vértice concentrava alguns tocadores com timbales, pauzinhos de madeira, tambores e outros instrumentos que, de vez em quando, percutiam. Um deles segurava um pequeno tambor, com uma ressonância aguda, que de vez em quando tocava energicamente, fazendo as filas moverem-se como a cauda de um lagarto.
As mulheres, vestidas com panos vistosos, e alguns homens, com campainhas nos tornozelos, turbantes na cabeça ou penas de aves enroladas nas pernas, coloriam este mapiko (dança maconde) a que os soldados em tronco nu davam um tom insólito. Perto dos tocadores, o barril de vinho era destapado, frequentemente, por dois sipaios, que davam a beber a ‘água de Lisboa’ em duas pequenas conchas. Aguardava-se a chegada do mascarado, que a determinada altura saiu do mato e entrou no meio das filas, correndo atrás das mulheres que fugiram espavoridas.
Vinha vestido com peças de tecido camuflado amarradas com cordas e, ao peito, trazia um conjunto de chocalhos. Da máscara pendiam peças de pano, de tal maneira que não era visível nenhuma parte do seu corpo. Depois de correr atrás das mulheres estacou, entre as duas filas, enquanto a assistência corria de um lado para o outro, gritando e rindo. Depois, subitamente, o tambor pequeno soou e o mascarado encetou uma dança rapidíssima, voltando a imobilizar-se. Fez isto mais quatro ou cinco vezes, antes de desaparecer de novo. Então as duas filas começaram a desfazer-se e toda a gente começou a dançar”.
Um belíssimo testemunho em literatura de guerra, a vibração de quem andou a combater no áspero Planalto dos Macondes.
____________
Nota do editor
Último poste da série de 11 DE JULHO DE 2022 > Guiné 61/74 - P23421: Notas de leitura (1463): “A primeira coluna de Napainor”, por António S. Viana; Editorial Caminho, 1994 (1) (Mário Beja Santos)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
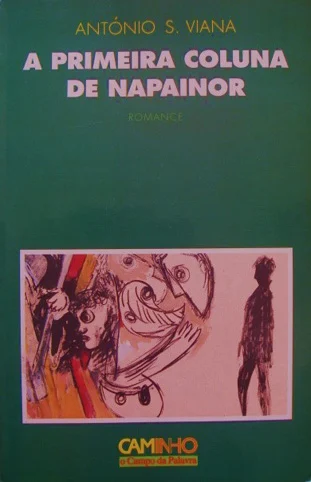


3 comentários:
Caro Fernando Ribeiro, tendo tu um ego, quanto a mim, demasiado alto para média dos antigos combatentes, continuas a cometer o pecado de classificar os teus camaradas pelo teu prisma.
Aqui há tempos classificaste no nosso Blogue um teu militar como atrasado mental irrecuperável, mais coisa menos coisa, com nome e tudo, texto que acabou felizmente por ser retirado.
Agora, cometes de novo o mesmo pecado neste comentário, onde insinuas que no teu batalhão, tirando tu e o senhor major que referes, eram todos uma camada de “porcos”, subentenda-se, iletrados, porque não leram nenhum dos livros que detectaste, talvez por “farejares” a cultura até nos sítios mais improváveis, como um armário fechado nos confins de Angola. Vais ainda mais longe e afirmas que “Dar livros a militares, quer fossem do quadro, quer fossem milicianos, era o mesmo que deitar pérolas a porcos. Só liam "A Bola" e fotonovelas do tipo "Simplesmente Maria". Um completo vazio espiritual.” Boa malha.
Estamos conversados, embora eu, com a 4.ª classe adiantada, tivesse comigo um ou outro livro que levei de casa e tivesse até comprado um outro livro em Bissau para ler antes do embarque para Lisboa. Por acaso não lia a Bola, acho que nunca li, mas segundo ouvia, jornalistas de referência assinavam os artigos ali publicados.
Finalmente, ficamos a saber, graças a ti, que no imenso mar de antigos combatentes, onde a valentia e o sentido de camaradagem não diferenciava intelectuais ou analfabetos, soldados ou oficiais subalternos, havia um completo vazio espiritual, onde tu eras uma raridade.
Duas perguntas aqui deixo.
Por acaso o acesso à “intelectualidade” dependia só de cada um de nós?
Por acaso um pastor de Freixo de Espada à Cinta, naquele tempo, tinha acesso à universidade ou até à escola básica da sua terra? Estou a lembrar-me do meu camarada A, básico da minha Companhia.
Um pouco de humildade é a maior prova da nossa superioridade intelectual.
Carlos Vinhal
Leça da Palmeira
A pseudo superioridade intelectual é uma merda.
Afirmar que dar livros a militares era dar pérolas a porcos,é um INSULTO grave,sem desculpa.Levei alguns livros para a Guiné,lembro-me de "A barca dos sete lemes" do Redol,"Na tua morte" do Palma Ferreira,e "Os médicos malditos" do Christian Bernadac.
Lembro-me começar a ler,quando apareceu,a "Afrique-Asie" enviada de Paris pela futura mulher do Carlos Clemente,comandante de uma Cª a que estive adido,e militar do QP.
Também conheci camaradas que liam a Seara Nova.
Subscrevo o comentário do Vinhal e espero não voltar a ser apelidado de suíno
Santiago
Enviar um comentário