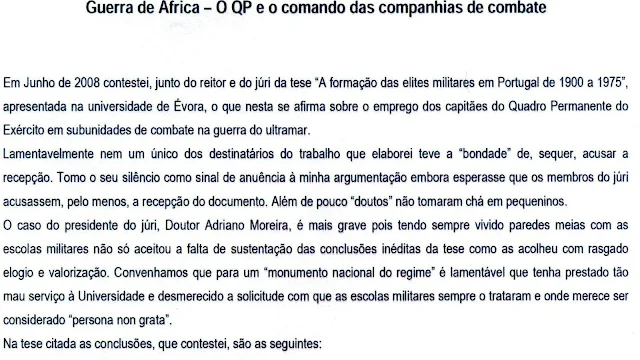1. Segunda parte da apresentação do próximo romance de Mário Beja Santos (ex-Alf Mil At Inf, Comandante do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), A Viagem de Tangomau:
A recepção no convento: passei a ser soldado recruta
O edifício, para se equilibrar, tem portas descomunais, aliás tudo emerge em desmesura, de qualquer ângulo que se aviste, tal o peso dos votos do rei magnânimo. Como se tivéssemos a inteligência das formigas, progredimos em fila para uma porta referenciada, mesmo à direita da escadaria que conduz ao templo. Havia a recordação, muito mais de 40 anos depois, que aquela porta abria para outra porta, também pintada de vermelho escuro, onde os esperava a praxe do comité de recepção. Aliás, tanto quanto ele se recordava, havia um claustro e até uma fonte cristalina, também mesmo ali perto funcionavam serviços públicos, a Câmara Municipal, as conservatórias, coisas assim. Essa recordação parecia-lhe tão decisiva que mais tarde, para deter com alguma precisão o particular e o geral, voltara ao convento, fizera-se convidado da Escola Prática de Infantaria, alegando razões de verosimilhança com tudo o que os cinco sentidos tinham captado. Na visita, o que estava difuso naturalmente ficou mais iluminado, até a lembrança dos sons pelos corredores com nomes alusivos à I Guerra Mundial, o cheiro dos materiais de limpeza nas arrecadações, as portas ao fundo, a ligar com a parada, para o ritual do princípio da instrução, em cada manhã da semana útil.
Quando lá esteve de visita, em Fevereiro de 2010, ainda trazia bem viva a lembrança daquele entardecer em que um senhor que lhe gritou: “Trate-me por nosso cabo!” e lhe disse com a malícia mal contida: “A menina vem com os caracóis muito grandes, isto aqui é uma casa de homens, aqui aprende-se a ser militar, ser militar é ter o cabelo aparado, a barba bem-feita, a farda irrepreensivelmente arranjada, a bota a brilhar. Vá já ali ao barbeiro, à tosquia. O recém-chegado aguentou o embate, resignou-se e foi cortar o resto do cabelo que lhe restava. E depois seguiu para a arrecadação, para receber o fardamento, mais outra peças, como uma arma. Uma voz dominadora, quando sairam todos da arrecadação com um capacete, um capote, uma Mauser com baioneta, fardas, botas e umas coisas que alguém chamou “arreios”, bradou: “Não perca tempo, não questionem, sigam por aquele corredor à direita!”. O Tangomau olhou à direita e à esquerda, era um corredor enorme, nunca mais o esquecerá, aqui vai desenvolver-se o umbigo da sua guerra: é o corredor La Couture.
Ainda hoje me sinto impressionado com esta extensão, a natureza do lajedo, a quase autonomia que as instalações davam a cada uma das companhias de instruendos. Ao fundo, a porta para a parada. Quando aqui voltei, em Fevereiro deste ano, contive a custo a emoção mas não cedi à curiosidade, queria ir às arrecadações, ao refeitório, em ambas as direcções havia o insólito das militares nos baterem a pala... era impensável imaginar-se mulheres naquele convento, dos anos 60.
Esmagado pela carga, segue docilmente outros que procuram a caserna que dá pelo nome de “a capela”. A subida não é fácil, são vários lanços de escadas, caem sacos, capacetes, desprendem-se capotes. Ouve-se o murmúrio da água, escorre em bica, alguém diz que é uma cisterna. Uma voz à frente exclama: “Olha, isto deve ter sido mesmo uma capela, tem altar e tudo!”. É neste instante que se ouve um carrilhão, parece uma saudação de boas vindas para tanta gente deslumbrada, surpresa. Cada um experimenta as fardas, as botas, faz as camas, assenhoreia-se do espaço, ouvem-se brados, pragas, interjeições de vária ordem: “Porra, que grandes cagadeiras, tudo de porta aberta!”, “Pedi botas 43, estas não me servem”, “Olha, as calças são enormes, é para levar a uma costureira, o que é que se deve fazer, será melhor trocar? Fazem-se camas, há gritaria pelos beliches, soam estrondos de armários a abrir e a fechar, estalos de loquetes, há quem suba e desça a pretexto de substituições, volta-se àquela arrecadação que alguém disse que corresponde à companhia (já explicaram que uma companhia tem quatro pelotões e cada pelotão cerca de trinta cadetes).
Um ingénuo perguntou se havia um plano do convento, um outro cabo quarteleiro olhou furioso, respondeu pedagógico e até sereno: “Isto não é turismo, estes lugares metem-se na cabeça, terá tempo de saber onde é o jardim do Cerco, a porta de armas, o salão Nuno Álvares, o jardim do Buxo, a capela dos Sete Altares, para já fixe o nome La Couture, olhe para o chão, são estas lajes brancas e pretas, a saída é sempre para a parada, é ali que começa e acaba o dia da instrução, com tempo habitua-se a tudo, a saber onde está o bar, os refeitórios, a sala Elíptica, depois descobre as correspondências entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pisos, quando se perder grita ou olha para as paredes, veja os nomes La Lys, Bussaco, Marracuene, Coollela, Chaimite, mais acima Ferme de Bois, Fauquissart, Neuve Chapelle, para já assine o recibo como vai receber um pré de um escudo e noventa centavos, que lhe entregaram lençóis, fronha e duas mantas, despache-se, a sua companhia daqui a um bocado vai formar, dali seguem para o jantar, hoje jantam naquele refeitório lá ao fundo, amanhã têm tempo de aprender mais, vão conhecer as divisas, a saber o nome do nosso comandante da unidade, em que pelotão vai ficar, esteja atento a tudo, se cometer faltas apanha logo detenção, tiram-lhe o fim-de-semana ou as saídas ao fim da tarde”.
O Tangomau capta cheiros que conservou até hoje: a humidade, manifesta nas bolhas e nas chagas do salitre, no negrume das paredes, no cheiro da eternidade de tanta água infiltrada; as massas lubrificantes na arrecadação, odores insubstituíveis, indubitáveis, que vão ficar ligados aos panos de lona, à limpeza da Mauser com um escovilhão e uns óleos estranhos, matéria ensebada; os do corpo, ao levantar e ao deitar, a camarata é enorme, mais enorme será quando, pela madrugada entrar um corneteiro a anunciar uma saída inusitada, a voz de um alferes em grande clamor exigindo “A pé, têm dez minutos para formar no corredor!”, são os odores de quem se levanta e vai aos sanitários a correr; a graxa, aquela película viscosa que ilustra a bota, lhe dá um tom envernizado, de azeviche esmaltado, sempre de curta duração, a bota engraxa-se ao fim do dia de instrução e para o início de fim-de-semana, obrigatoriamente, tão imperativamente quanto o corte de cabelo, a barba feita mesmo com lenhos ensanguentados, mesmo a dormir em pé, a remoer palavrões; o pesadelo dos refeitórios, são os odores indirectos das cozinhas onde se prepara o rancho, as mesas onde seguramente comeram frades, em tempos joaninos, a mistura de café, as fatias de pão e a marmelada, os odores do amanhecer, um pouco antes do início da instrução; o pó da História, circula ou prende-se às janelas, às lamparinas e lampiões, aos tectos monumentais, são odores que dão que pensar, dizem que há subterrâneos, com a Primavera rescende o jardim do Buxo, há plátanos por toda a parte, isto ainda não é nada, quando os soldados cadetes se familiarizarem com o jardim da Alameda, com a abertura do portão Norte, seguirem para o Pinhal da Vela, passarem pela agro-pecuária e chegarem ao Forte Juncal, de onde se desfruta uma vista soberba, seguindo daqui para uma carreira de tiro, ou até ao portão da Murgeira, ou mesmo ao Vale Escuro, teremos os cheiros da natureza, estes cheiros parecem convergir para aquele Jardim do Cerco, quando se está a preencher o teste, decisivo para obter um fim-de-semana.
Estamos a ir depressa demais, estes cheiros são uma camada cultural, sedimentada numa recruta e numa especialidade, fazem parte da floração dos cinco sentidos, impregnados, sem remissão, o que importa agora, e o Tangomau não esquece, é que o refeitório onde jantou pela primeira vez no convento é um espaço amplo, um género de arrecadação exterior, muito próximo de garagens de viaturas, dar-lhe-ão uma sopa de manga de capote olorosa e altamente comestível, a seguir apareceram umas sardas a nadar em banhos de fritura como se trouxessem restos de carvão, e batatas cozidas, apetecíveis, por sinal. Por razões do pudor, aceitou não trazer nada da caserna para comer à mesa. A sopa soube-lhe bem, o casqueiro era saboroso, recusou a sarda, esmagou as batatas, souberam-lhe bem logo à primeira garfada. Só que nada era singelo, linear, naquela refeição de estreia conventual. Como em todas as refeições há sempre um vigilante, pois teme-se pela indisciplina ou pelo motim, que nestas coisas da tropa dá pelo nome de levantamento de rancho, uma suprema blasfémia. É nisto, comia o Tangomau placidamente as batatas esmagadas, sonhando já com um pedacinho de proteína lá no armário, de fumeiro ou em lata de conserva, quando se aproximou o oficial vigilante: “O nosso cadete não tirou sarda, tem de comer, isto não é casa para gente caprichosa, aqui a gente da tropa come de tudo e não refila. Ó nosso soldado, traga cá a bandeja, ponha dois pedaços de sarda no prato do nosso cadete, regue as batatas com óleo!” O nosso cadete ainda olhou súplice para o nosso soldado em funções de criado de mesa, este dispunha do seu poder soberano que era ver o nosso cadete massacrado, de antemão agoniado, espetou-lhe com duas metades de sarda no prato, ambas com a cabeça calcinada, e ter-lhe-á dito ao ouvido: “O nosso cadete coma tudo, só deixe as espinhas, o nosso tenente se ficar zangado participa de si, adeus ao fim-de-semana!”. E comeu tudo, com o estômago revoltado, até foi ao bar dos cadetes emborcar um bagaço (aguardente 1920), coisa rara, hábito perdido de quem tinha andado dois anos a tratar de uma úlcera gastroduodenal, seguiram-se deambulações vadias com gente lá da caserna, tudo inquieto com a novidade, os tais odores, o feitiço da disciplina, da ordem unida, o mundo novo de um convento com gente exclusivamente fardada, toques de cornetim a mandar recolher, a vozearia impenitente das ordens, o ressoar das botas pelos corredores, tudo parecia uma agitação de almas penadas.
Um dos nossos refeitórios. Ninguém se sentava sem autorização superior, o mesmo para sair, depois das refeições. Comia-se melhor no convento que na Tapada ou nas marchas. Aqui, do que guardo mais saudade é das sopas. O meu ódio de estimação era a comida na carreira de tiro, nunca mais voltei a ver um arroz nauseabundo com patas de e as cabeças com as cristas, bicos e olhos. Julguei então que a instituição militar tinha atingido o grau zero da depravação gastronómica.
Nem o Tangomau sonha como todo este barroco medonho se irá tornar natural no seu quotidiano. Décadas mais tarde, é muito fácil rememorar e até sonhar que a gente se ajeita a tudo, nesta vida. Alguns farrapos desses locais aparecem como em fotografia. O jardim da Alameda, por onde começa o fim-de-semana, por aqui também se entra quando se regressa ao domingo à noite, ou depois do passeio à tarde. Tem plátanos lindíssimos, desconformes com a paisagem militar que se vive lá dentro. O jardim da Alameda situa-se na ala Sul, é o mundo de Nuno Álvares, o patrono da Infantaria: ali fala-se em Valverde, Atoleiros e Aljubarrota, imprevistamente menciona-se Ceuta. Não haverá soldado cadete que ignore ser aqui o território do oficial de dia e do sargento da guarda. É uma entrada carregada de símbolos, placas comemorativas, quem não tem orgulho em ser infante aqui o descobre, estão aqui referentes para esse novo estado de alma. Mais adiante temos o salão Nuno Álvares, a escada La Lys, majestosa para quem gosta do classicismo, feito da imponência de alturas. A estátua de D. Nuno Álvares Pereira vigia quem por ali passa. Não foi por aqui, repete-se, que entrou o Tangomau, este entardecer; foi pela fachada principal, hoje tudo mudou, até lá instalaram um museu, um posto de turismo. As mudanças são muitas, passados estes anos todos. Aquela arrecadação que era o centro nervoso da logística, desde o fuzil alemão ao pano de tenda, transformou-se numa arrecadação de transmissões, por toda a parte há mulheres fardadas a fazer continência, quando o Tangomau se lembra do caminho para a capela, o seu acompanhante, em 2010, logo previne que lá para cima, no espaço das casernas, o visitante sentirá um choque, logo a seguir ao que era a enfermaria dos feridos graves, depois de se passar pela sala de ensaios da banda de música. É neste tropel de recordações que se corre o risco de perder o fio à meada. Retornemos onde se estava, depois do bagaço para esquecer duas sardas de vómito. Para se saber da boa saúde do Tangomau, certifica-se que se despiu numa caserna aos berros, entre arrotos e peidos. Com uma toalha no braço, levou pasta e escova de dentes até uma inacreditável casa de banho, depois das abluções e demais higiene se deitou, confiou-se a Deus e teve um sono de pedra. A manhã sim, essa foi inacreditável, todo aquele maralhal aos palavrões, seguiu-se o frenesim das lavagens matinais, a correria para o pequeno-almoço, alguém gritou: “Sentido, firme, podem sentar!”, o pão era apetecível, tudo limpo mesmo com os odores intensos a vacaria, oriundos da cozinha. Subiram-se a correr as escadas, alguém avisou que aquele primeiro dia era muito administrativo, apaziguado. Aliás, este maralhal já sabia da sua sina quando formados no refeitório, no corredor La Couture: pertenciam à 5ª companhia.
Os recrutas ou cadetes formaram à ordem de alguém a quem se ouviu chamar “o nosso furriel” que por sua vez apresentou aquele grupo vestido de um verde intenso, a cheirar a novo imaculado, a alguém a que chamaram “meu capitão” (e pediram licença, ao apresentar a formatura), secundado por outros que, veio-se a saber, eram dois tenentes e dois alferes, a imporem-se pelo olhar de quem sabe que vai mandar sem ser contestado. E em marcha semi-ordeira, o contingente partiu para a parada, saiu pelo portão Norte, assentou no tal jardim tão importante para as suas vidas, quem fazia os testes nas manhãs de sábado e tinha positiva partia para fim-de-semana. Alguém informou: “Ali é o portão do CMEFD, faz-se ali equitação, iremos fazer instrução por aquela porta à direita, já me disse um meu irmão que temos uma linha de plátanos e castanheiros, ali é o nosso caminho para muita ginástica e dar tiros”.
Aqui a memória é difusa, falava-se de horários, de semanas de instrução, de responsabilidades na manutenção do equipamento, esvoaçavam recomendações sobre a muita prudência no relacionamento com os instrutores e a exaltação dos primores da disciplina; exibiram-se quadros para se saber diferenciar, mesmo nesse dia, o que difere, em cima dos ombros, entre ser soldado, cabo, furriel, segundo e primeiro-sargento, depois aspirante, alferes, capitão até chegar a coronel, quem comandava aquela escola era alguém naquele posto, indispensável será conhecê-lo desde este preciso instante. Falou-se pois de horários, de alguma substância da instrução, suavemente se chegou aos porquês da guerra em que, com muita probabilidade, quase todos os cadetes iriam ser envolvidos. Tal como estava noticiado, grupos terroristas, gente a soldo de interesses vermelhos, tinham invadido parcelas de Portugal, trucidado gente, aniquilado bens, dificultando as comunicações e os transportes., em diferentes locais remotos, para lá do oceano. Os cadetes iriam ser instruídos para agirem como contra-guerrilheiros, repor a ordem, reordenar as populações, fazer desfraldar a bandeira das quinas. Havia muito a saber, e convinha desde já pôr a conversa em dia sobre o jogo diabólico que nos estava reservado, na Guiné, em Angola ou em Moçambique: emboscadas, minas, flagelações. Devíamos sair dali preparados para combater em clima tórrido um inimigo por vezes muito bem equipado, intoxicado com ideias do demónio, mente sã em corpo são, era uma frase muito antiga com aplicação contemporânea ao que o futuro reservava a todo aquele que recebesse a bênção de ser infante, artilheiro, cavaleiro, mesmo fuzileiro, pára-quedista, comando ou pouco menos, das minas e armadilhas até amanuense. Instrução para o corpo: ginástica apurada para os patrulhamentos e operações; caminhadas de imitação às realidades da guerra para se perceber que é muito pior dentro da floresta galeria ou a atravessar os pântanos; endurecimento e conhecimento, montar e desmontar armas, não ter medo das alturas, caminhar de dia e de noite, com sol abrasador ou chuva, instrução não faltaria; aprender pois a táctica e ganhar aos poucos noções sobre a realidade da guerra, o papel das forças armadas, a diferença entre um regimento e um batalhão, etc., havia até um livro chamado “Manuel do Oficial Miliciano” que seria divulgado para se aprenderem coisas importantes. Por exemplo, a infantaria é a arma mais poderosa das forças terrestres, é essencialmente a arma do combate próximo, todas as outras armas deverão actuar em seu proveito; a artilharia é a arma que actua principalmente pelo fogo, havendo a considerar a artilharia de campanha, a artilharia anti-aérea e a artilharia de costa, certamente os cadetes iriam ouvir falar em obuses e morteiros, armas prendadas para afugentar terroristas; a cavalaria é a arma da rapidez, usa pelotões de reconhecimento, carros de combate e até canhões anti-carro; a engenharia é essencialmente a arma do trabalho especializado, tem sapadores, peritos em comunicações e até reabastecimentos; no extremo, os serviços, gente dos transportes, dos serviços gerais ou de manutenção, serviços tão diversos como o correio, a justiça militar, a cartografia, a contabilidade e pagadoria, até a assistência religiosa. Acima de toda esta gente, os comandos, é sempre necessário que haja alguém que superiormente conceba, prepare e conduza a acção. Que todos se habituassem a saber que quem comanda tem uma equipa auxiliar, o Estado Maior.
Pelo meio de toda esta longa e acutilante peroração, os nossos cadetes almoçaram num refeitório vasto, de tecto abobadado, muito lá no alto, comeram em mesas de mármore, tiveram direito a uma sopa adubada com feijão e macarronete, com olhinhos de gordura, uns bifinhos espalmados com arroz de cenoura e depois uma fruta da época, havia jarros de água e até um vinho de mesa, lotado corrente, relativamente tragável, dava um copinho para cada um. Repasto excessivo, havia gente a dormitar, encostada ao cano da arma, alheia a informações tão importantes e à notícia que muitas outras se seguiriam, sobretudo sobre táctica, não se pode ser oficial sem se saber o que é a ofensiva e a defensiva, o princípio de manobra, como se usam as transmissões, como se marcha para o contacto, o que é a manobra para o ataque, até a retirada. Porque a táctica é uma das chaves mestras da guerra, como é evidente não se iria combater numa guerra convencional, em África era tudo diferente, dada a natureza do inimigo, acantonado no mato como bichos, a natureza do relevo, toda essa história da guerrilha, que devia pôr os cadetes a reflectir sobre colunas, nomadizações, vida dentro dos quartéis no ventre da floresta.
É a única fotografia que possuo de ambiente de caserna. Lamento ter esquecido os nomes dos dois camaradas à esquerda e à direita. Foi tirada no beliche de cima da nossa caserna conhecida por “a capela”. Uns preparavam-se para sair, alguém mostra a meia rota, eu e o Paulo estamos em farda de trabalho, havia que estudar as matérias da táctica, que eu odiava, tanto como desmanchar a arma e limpar a Mauser.
Não parece mas esta fotografia tirada pelo Ruy Cinatti mostra uma paisagem perto da Ericeira. Logo a seguir, fomos tomar uma banhoca, penso que foi na Praia dos Pescadores, era uma tarde magnífica de Junho, em 1967. Tudo acabou com peixinho frito na vila da Ericeira. A seguir, fomos depositados no convento, a instrução prosseguia, implacavelmente.
O instrutor, um homem de estatura meã, de olhos azuis metalizados, ergueu o dedo indicador da mão direita e apontou: “Contem com muita preparação, contem com o meu entusiasmo, logo de manhã, e muitas vezes ao anoitecer, porque nos serão reservadas marchas nocturnas, sairemos aqui pelo portão Norte, não se esqueçam que esta é a casa da infantaria, aqui a nossa divisa é “saber fazer”, estamos cercados do que há de melhor da história de Portugal, os vossos corpos serão preparados nos crosses que faremos até à Ericeira, nos exercícios no Alto da Vela, ao pé do pinhal do mesmo nome, ireis aprender a técnica individual de combate, a tapada é o vosso espaço de instrução, teremos aqui carreiras de tiro, o Vale Escuro, há um campo de lançamento de granadas, ireis receber aulas de táctica lá para os 4 Caminhos, aprendereis a bivacar; saireis daqui atléticos e com saudades da Aldeia dos Macacos, da Lagoa do Meio, do Muro das Osgas e do Pórtico. Hoje aprenderam muito. Amanhã ganhareis confiança nas vossas capacidades, no brio, na disciplina, sereis dóceis à voz do comando. Vamos regressar, engraxar as botas, mudar de farda, conhecer Mafra.”
Um dia combinei com o Ruy Cinatti que ele viria com a minha mãe para jantarmos na Ericeira. Ele trouxe-me os “Sete Septetos”, escreveu “Exemplar nº 2”, milagrosamente não foi para a Guiné. Veio munido da sua Hasselblad, era uma máquina espantosa, tenho tirado com esta máquina uma fotografia do régulo de Baucau, que vou quase todos os dias espreitar. A minha mãe era muito brincalhona e estava muito feliz. Fizemos um número para a câmara de dois VIP que queríamos passar incógnitos. O Paulo, padrinho de baptismo da Joana, também foi connosco. Que tarde inesquecível!
__________
Nota de CV:
Vd. poste anterior de 31 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6504: A viagem de Tangomau, o meu próximo romance (I) (Mário Beja Santos)
Blogue coletivo, criado por Luís Graça. Objetivo: ajudar os antigos combatentes a reconstituir o "puzzle" da memória da guerra colonial/guerra do ultramar (e da Guiné, em particular). Iniciado em 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência pessoal de uma guerra. Como camaradas que são, tratam-se por tu, e gostam de dizer: "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande". Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.
Pesquisar neste blogue
terça-feira, 1 de junho de 2010
Guiné 63/74 - P6511: Álbum fotográfico de Jorge Rosales, ex-Alf Mil da 1.ª CCAÇ, Porto Gole, 1964/66 - II (Jorge Rosales)
1. Continuação da apresentação do Álbum fotográfico do nosso camarada Jorge Rosales*, ex-Alf Mil da 1.ª CCAÇ, Porto Gole, 1964/66.
Foto 8 > Em Bissau, Novembro de 1965, com o Alf Mil Maldonado, meu camarada desde Mafra e meu substitulo em Porto Gole. O Maldonado faleceu em Marçio de 1966, em consequência do rebentamento de uma morteirada IN que o atingiu em cheio, no aquartelamento de Porto Gole.
Nota de CV:
Vd. poste anterior de 30 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6501: Álbum fotográfico de Jorge Rosales, ex-Alf Mil da 1.ª CCAÇ, Porto Gole, 1964/66 - I (Jorge Rosales)
Foto 7 > Em Bissau, Novembro de 1965. A foto foi tirada pelo infeliz Maldonado.
Foto 8 > Em Bissau, Novembro de 1965, com o Alf Mil Maldonado, meu camarada desde Mafra e meu substitulo em Porto Gole. O Maldonado faleceu em Marçio de 1966, em consequência do rebentamento de uma morteirada IN que o atingiu em cheio, no aquartelamento de Porto Gole.
Foto 9 > Janeiro de 1966 > Junto ao famoso Hotel Bolama
Foto 10 > Maio de 1966 > Na viagem de Bissau para Bolama pescava-se bom peixe.
Foto 11 > O pelotão de recrutas africanos em Bolama, em Junho de 1966.
Foto 12 > Julho de 1966 > Ilha das Cobras
__________Nota de CV:
Vd. poste anterior de 30 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6501: Álbum fotográfico de Jorge Rosales, ex-Alf Mil da 1.ª CCAÇ, Porto Gole, 1964/66 - I (Jorge Rosales)
Guiné 63/74 - P6510: Controvérsias (82): A (im)preparação dos oficiais milicianos na guerra subversiva (Luís Dias, ex-Alf Mil, CCAÇ 3491, Dulombi, 1971/74)
Guiné > Zona Leste > Galomaro > Dulombi > CCAÇ 3491 (1971/74) > O Alf Mil Luís Dias, empunhando
a famosa AK 47 (ou Kalash).
Foto: Cortesia de Luís Dias (2010). Fonte: Blogue Histórias da Guiné 71/74 - A CCAÇ 3491, Dulombi
1. Comentário do Luís Dias ao Poste P 6488:
Caro Mário Pinto
Ainda tenho os célebres manuais militares que nos eram fornecidos para estudo: Manual do Oficial Miliciano-Parte Geral , 1º e 2º Volumes, e o "famoso" O Exército na Guerra Subversiva, Operações contra Bandos Armados e Guerrilhas.
No entanto e de facto o que nos acontecia era um aprender rapidamente que tudo aquilo que nos ensinavam, com certeza de boa fé, não servia no teatro de guerra em que nos envolveram.
No primeiro contacto com o IN, em que 2 Gr Comb da minha companhia, por mim comandados, se viram debaixo de fogo intenso, ao cair da noite, no dia a seguir à partida dos velhinhos, eu vi de imediato os erros que tinha cometido, por não saber estar/abordar uma zona de mato cerrado, em formação deficiente, com grandes dificuldades de ripostar com morteiros, LGF e Dilagramas, numa primeira fase e que só nos correu a contento devido a uma grande dose de sorte e a um soldado africano, muito experiente (ex-guerrilheiro, que conseguiu sair da zona cerrada, obter uma clareira e com o morteiro 60 colocado à barriga - parece incrível mas foi verdade - lançou duas ou três granadas que atingiram os guerrilheiros pondo-os em retirada.
Foi ainda importante que o IN foi detectado primeiramente por 2 elementos nossos, tendo um deles aberto fogo de HK21 sobre um guerrilheiro, o que desencadeou a emboscada que estava a ser montada.
Esta primeira acção, aliada a outras que encontrei no início da comissão, levaram-me também a tomar outras opções tácticas, mais de acordo com o que estávamos a enfrentar no terreno.
No armamento também deixámos a bazuca em casa, só a levando em colunas (também chegámos a usar um RPG2 apreeendido). Largámos as granadas defensivas, ficando unicamente com as granadas ofensivas. Aumentámos os elementos com dilagramas e também usávamos 2 HK 21. Em determinadas zonas mais cerradas o homem da frente levava uma caçadeira calibre 12 com zagalotes. Recorremos a armas do IN para efectuar fogo contra os mesmos (Kalash AK-47 e PPSH 41).
É como tu dizes, tivemos de efectuar uma revolução do que aprenderamos na metrópole.
Um abraço
Luís Dias
Guiné 63/74 - P6509: Controvérsias (81): As urnas de chumbo: "Os restos mortais do José António jazem finalmente na sua Terra Natal" (Alvorada, Lourinhã, 23/5/1965) (Luís Graça)
Notícia, que eu próprio elaborei (tinha 18 anos...) sobre a morte e o funeral do Sold Apont Morteiro José António Canoa Nogueira. E que vem a propósito das "urnas de cumbo com pedras e areia" (*)
Alvorada. (Lourinhã). 23 de Maio de 1965
Os restos mortais do José António jazem finalmente na sua Terra Natal.
Depois de transportados da Guiné para a Metrópole a expensas dos seus companheiros de campanha que lhe votavam particular estima e amizade, os restos mortais do soldado José António Canoa Nogueira repousam finalmente no cemitério da sua terra natal.
O funeral, realizado no segundo domingo do corrente, constituiu uma homenagem pública à memória daquele de cuja presença e convívio a morte irremediavelmente nos separou, e um testemunho de apreço pelo sacrifício da sua vida. Nele se incorporaram, além da multidão anónima e inumerável, o sr. Presidente do Conselho, outras autoridades civis e militares e os Bombeiros Voluntários.
À chegada do auto-fúnebre militar, com a urna, os clarins dos Soldados da Paz tocaram a silêncio. E o préstito atravessou a Vila, sob uma impressionante atmosfera de recolhimento e dor.
Antes da urna ser depositada no jazigo, os Bombeiros tocaram a continência, num último adeus e derradeiro tributo de homenagem ao Soldado e Jovem Lourinhanense.
O jornal publicava também, a seguir à notícia, uma carta, datada de 10 de Janeiro, endereçada ao director, e que fazia parte do espólio do malogrado José António (o jornal não chegara a recebê-la, fora-me entregue pelo seu pai).
Em comentário introdutório dizia-se que a carta se revelava “a alma simples e transparente do José António, e da sua sensibilidade fina, delicada, capaz de descobrir motivos de beleza numa bandeira que flutua perdida no mato ou numa improvisada e fraterna refeição de campanha. Tinha razão o filósofo e ensaísta brasileiro Tristão de Ataíde quando disse: 'No fundo de cada homem dorme um poeta desconhecido'.
E acrescentava-se:
Depois de transportados da Guiné para a Metrópole a expensas dos seus companheiros de campanha que lhe votavam particular estima e amizade, os restos mortais do soldado José António Canoa Nogueira repousam finalmente no cemitério da sua terra natal.
O funeral, realizado no segundo domingo do corrente, constituiu uma homenagem pública à memória daquele de cuja presença e convívio a morte irremediavelmente nos separou, e um testemunho de apreço pelo sacrifício da sua vida. Nele se incorporaram, além da multidão anónima e inumerável, o sr. Presidente do Conselho, outras autoridades civis e militares e os Bombeiros Voluntários.
À chegada do auto-fúnebre militar, com a urna, os clarins dos Soldados da Paz tocaram a silêncio. E o préstito atravessou a Vila, sob uma impressionante atmosfera de recolhimento e dor.
Antes da urna ser depositada no jazigo, os Bombeiros tocaram a continência, num último adeus e derradeiro tributo de homenagem ao Soldado e Jovem Lourinhanense.
O jornal publicava também, a seguir à notícia, uma carta, datada de 10 de Janeiro, endereçada ao director, e que fazia parte do espólio do malogrado José António (o jornal não chegara a recebê-la, fora-me entregue pelo seu pai).
Em comentário introdutório dizia-se que a carta se revelava “a alma simples e transparente do José António, e da sua sensibilidade fina, delicada, capaz de descobrir motivos de beleza numa bandeira que flutua perdida no mato ou numa improvisada e fraterna refeição de campanha. Tinha razão o filósofo e ensaísta brasileiro Tristão de Ataíde quando disse: 'No fundo de cada homem dorme um poeta desconhecido'.
E acrescentava-se:
"Por ser , pois, a última ou uma das últimas cartas que escreveu para a Metrópole, e um apontamento breve mas sugestivo de expedicionário, aqui a publicamos"- acrescentava a notícia do jornal da terra.
Foto: © Luís Graça (2005). Direittos reservados
1. José António Canoa Nogueira, o primeiro combatente da guerra do ultramar, natural da Lourinhã, a morrer na Guiné. Em 23 de Janeiro de 1965. Ia eu fazer os meus dezoito anos e, por isso, já tinha dado (ou ia dar) o nome para as sortes.
A pacata vilória (naquele tempo) do oeste estremenho foi sacudida pela notícia da morte do Nogueira. Claro que ninguém soube exactamente onde nem em que circunstâncias. Sabia-se apenas que tinha sido algures na Guiné. As Forças Armadas não davam explicações dessas. Um telegrama, seco e brutal, chegava normalmente a casa do pai e/ou mãe, uns dias depois, anunciando a funesta notícia: “As Forças Armadas cumprem o doloroso dever de o(a) informar que o seu filho morreu no campo da honra, servindo a Pátria”. Imagino que o teor do telegrama fosse esse...
Sei (ou melhor, vim a saber através da Internet, através da página sobre a Guerra do Ultramar, do nosso camarada António Pires) que o soldado Nogueira era apontador de morteiro, tinha o nº 2955/63, pertencia ao Pel Mort 942 / BCAÇ 619, morreu em em combate. Sei também, por uma carta que publiquei a título póstumo, que ele estava em Ganjolá, Catió, SPM 2058.
O funeral do Nogueira, quatro meses depois (em Maio de 1965), foi uma impressionante manifestação de dor. Lembro-me da urna, selada, em chumbo. Dos soldados fardados e aprumados, vindos de Mafra, da Escola Prática de Infantaria. Da salva de tiros. Do luto carregado. Da emoção no ar. De uma família destroçada. De uma comunidade comovida. Dos boatos: "Se calhar o caixão vem é cheio de pedras". Da estupefacção e do medo dos mancebos que estavam na lista para a tropa, como eu. Lembro-me sobretudo do silêncio do cemitério. Do calor, abrasador, do dia.
Nasci e vivi os meus primeiros anos, a 100 metros de um cemitério. Era incapaz de lá passar à noite quando puto. A paz do cemitério num país em guerra... a milhares de quilómetros das portas de cada um de nós.
O Nogueira era meu primo, embora em 3º grau. Não tínhamos grande convívio, mas os nossos pais (o pai dele e a minha mãe) eram primos direitos. As nossas avós maternas eram irmãs. Todavia, a sua morte tocou-me. A morte aproxima sempre os grupos, as famílias. Fiz-lhe uma singela (e creio que sentida) homenagem no jornal da terra, com direito a caixa alta. O seu pai nunca mais foi o mesmo. Passou a ser, doravante, um homem destroçado. Tinha uma irmã, líndissima, a Esmeralda, de olhos cor de esmeralda, que acabou por emigrar para o Canadá, se não me engano.
Na altura eu ainda era o chefe de redacção e o repórter principal do quinzenário regionalista "Alvorada". Um facto, desconhecido e insólito para mim, mas ao tempo revelador da grande solidariedade entre os camaradas de guerra: na época os restos mortais dos nossos soldados não eram embarcados para a Metrópole, a expensas do Estado. No caso do Nogueira, foram os seus camaradas (do Pelotão de Morteiros e possivelmente também do Batalhã) que se quotizaram para pagar, do seu bolso, o transporte por via marítima da urna...(E, se calhar, a própria urna). Creio que custava,. o transporte por via marítima, qualquer coisa como 11 contos (equivalente hoje a cerca de 5 mil euros.!..), o que era muito dinheiro para a época. De resto, entre a morte em Ganjola e o funeral na Lourinhã passaram-se cerca de quatro meses...
Fica aqui a minha homenagem a esses bravos anónimos de Ganjolá. E mais uma vez aqui deixo também a saudosa recordação do meu conterrâneo e parente, reproduzindo uma das suas últimas cartas em que relatava, para os leitores do jornal da terra, um pacato domingo no mato!
Não sei se foi depois disso (da notícia do funeral e dos meus comentários) que o director, o Padre António Escudeiro, recebeu um ofício do Ministério do Interior a perguntar por que é que o jornal já não ia à censura há mais de um ano. Duas linhas, secas, burocráticas, impessoais. Em baixo, ocupando mais de metade da folha, a assinatura, em letra garrafal, mais arrogante e intimadatória que eu jamais vi em toda a minha vida… (Se o fascismo alguma vez existiu na minha terra, na nossa terra, então essa assinatura do censor-mor, ou de algum dos seus esbirros, era fascismo, puro e duro).
2. Um domingo do mato
por José António Canoa Nogueira
Aqui, Ganjolá, Guiné, 10-1-1965
Mesmo no sul da Guiné, pequeno destacamento militar presta continência à Bandeira Verde-Rubra que sobre o mastro fica brilhando ao sol. E que linda que é a nossa bandeira; e é tão alegre, tão garrida, só olhá-la nos faz sentir alegria e também emoção; alegria de sermos portugueses e emoção por estarmos cá longe para a defender. Embora assim perdida no mato, a bandeira, brilhando, afirma que aqui também é Portugal.
Em volta, meia dúzia de barracas verdes, o nosso aquartelamento, a única nota de civilização nesta imensa planície. Muito ao longe, quase perdidas no mato e no capim, algumas palhotas indígenas; de resto, tudo é solidão. Somos soldados de Infantaria e por isso o nosso trabalho é fazer operações em qualquer parte do mato.
Aqui não há escolas e as igrejas não têm paredes; o tecto é o céu. Em toda a parte se reza e tudo nos incita à oração. Deus está em toda a parte e ouve-nos.
Hoje é domingo, dia de descanso, não se trabalha, mas distracções também não há. Alguns vão à pesca ou à caça; outros, deitados debaixo das enormes árvores, dormem e pensam nas suas terras e famílias distantes, mas pertinho do coração. Como são diferentes aqui os divertimentos nos domingos.
Dois soldados vão todos os dias à caça; por isso, fome não há. Temos carne com abundância, mas falta tanta coisa!... Ei-los que chegam com tenros cabritos e gazelas e logo enorme fogueira crepita alegremente. Esfolam-se os animais e lava-se a carne; a água não falta, embora para se beber seja preciso enorme cuidado. Prepara-se um espeto para se assar a carne. Espalha-se então o cheiro da carne assada pelo pequeno acampamento. Está a refeição preparada; troncos de árvores, caixotes vazios, servem de mesa e de cadeiras.
Todos se servem. A refeição é pouco variada: apenas carne assada e pão. O vinho também é pouco, mas dividido irmãmente dá para todos; que bem que sabe uma pinguita com este almoço!...
Bebi-se mais mas não há, paciência… O improvisado cozinheiro faz enormes quantidades de café. Todos enchemos os copos de alumínio e bebemos alegremente. Acaba a refeição; por fim, alguns macacos, meio domesticados, que por aqui andam, aproximam-se e reclamam a sua parte.
É assim um domingo no mato. Depois de explanar esta ideia, termino. Despeço-me com o mais ardente desejo de a todos vós abraçar brevemente, fazendo preces ao Senhor para que tenhais saúde e boa sorte. Vosso amigo que respeitosamente se subscreve, todo vosso.
José António Canoa Nogueira.
Soldado nº 2955/63
SPM 2058.
_______________
Nota de L.G.:
(*) Vd. poste de 27 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6481: (Ex)citações (60): Urnas com pedras e areia (Eduardo Ferreira Campos & Manuel José Ribeiro Agostinho)
(...) Comentário de Luís Graça:
Temos tendência para reagir "emocionalmente" (isto é, com o coração, não com a cabeça), quando se toca nos nossos mortos... Mas vamos por partes: também aqui deve respeitar-se o princípio "in dubio pro reo", isto é, o princípio da presunção de inocência...
Na maior parte das situações de morte no TO da Guiné (por combate, minas & armadilhas, acidente, doença...), os corpos recuperavam-se e eram identificáveis (mesmo mutilados, como eu próprio recuperei ou observei alguns)...
Nunca assisti à preparação de nenhum corpo para efeito de exéquias... Levei no entanto à sua tabanca natal o primeiro morto da CCAÇ 12, o Iero Jaló... Não me lembro se foi em caixão de chumbo. Sei que foi transportado, em Unimog, em caixão de madeira, coberto com a bandeira nacional, e que teve direito a honras militares (o que na altura me chocou)... A família acabou por fazer-lhe um enterro segundo os usos e costumes locais (tradição africana e muçulmana)...
A preparação do morto - se bem me lembro - deve ter sido entregue aos seus próprios camaradas, fulas...
No caso dos militares metropolitanos, vinha sempre um cangalheiro de Bissau... Não sei exactamente a que serviço pertencia.
Não há razões para pensar que as urnas, com os nossos mortos, transportadas para a metrópole, viessem por sistema cheias de areia e pedras... Casos como o que foi relatado nos jornais, passado no concelho de Peniche, devem ter sido raros ou excepcionais... No caso de afogamentos, quando não havia corpo, o militar era dado como "desaparecido"... Em caso do corpo ser levado pelo IN (houve casos), ou o militar ser feito prisioneiro, creio que se usava a expressão "retido pelo IN"... Devia haver legislação ou regulamentação clara sobre estas diversas situações... Talvez alguém nos possa esclarecer...
Em todo o caso o Exército (que deve ser visto como um pessoa de bem, como uma instituição) bem poderia fazer um relato mais circunstanciado e digno relativamente à morte dos nossos combatentes, em vez se limitar a mandar, à família, o telegrama seco e brutal com a funesta notícia... Não sei como se procede hoje. Mas, durante a guerra colonial, não havia essa sensibilidade, essa cultura... (É a minha percepção, também me assaltou a dúvida quando eu próprio, jovem jornalista, fiz a reportagem do 1º morto da guerra colonial na Guiné, natural da minha terra, e por sinal, meu primo). (...)
Na maior parte das situações de morte no TO da Guiné (por combate, minas & armadilhas, acidente, doença...), os corpos recuperavam-se e eram identificáveis (mesmo mutilados, como eu próprio recuperei ou observei alguns)...
Nunca assisti à preparação de nenhum corpo para efeito de exéquias... Levei no entanto à sua tabanca natal o primeiro morto da CCAÇ 12, o Iero Jaló... Não me lembro se foi em caixão de chumbo. Sei que foi transportado, em Unimog, em caixão de madeira, coberto com a bandeira nacional, e que teve direito a honras militares (o que na altura me chocou)... A família acabou por fazer-lhe um enterro segundo os usos e costumes locais (tradição africana e muçulmana)...
A preparação do morto - se bem me lembro - deve ter sido entregue aos seus próprios camaradas, fulas...
No caso dos militares metropolitanos, vinha sempre um cangalheiro de Bissau... Não sei exactamente a que serviço pertencia.
Não há razões para pensar que as urnas, com os nossos mortos, transportadas para a metrópole, viessem por sistema cheias de areia e pedras... Casos como o que foi relatado nos jornais, passado no concelho de Peniche, devem ter sido raros ou excepcionais... No caso de afogamentos, quando não havia corpo, o militar era dado como "desaparecido"... Em caso do corpo ser levado pelo IN (houve casos), ou o militar ser feito prisioneiro, creio que se usava a expressão "retido pelo IN"... Devia haver legislação ou regulamentação clara sobre estas diversas situações... Talvez alguém nos possa esclarecer...
Em todo o caso o Exército (que deve ser visto como um pessoa de bem, como uma instituição) bem poderia fazer um relato mais circunstanciado e digno relativamente à morte dos nossos combatentes, em vez se limitar a mandar, à família, o telegrama seco e brutal com a funesta notícia... Não sei como se procede hoje. Mas, durante a guerra colonial, não havia essa sensibilidade, essa cultura... (É a minha percepção, também me assaltou a dúvida quando eu próprio, jovem jornalista, fiz a reportagem do 1º morto da guerra colonial na Guiné, natural da minha terra, e por sinal, meu primo). (...)
Guiné 63/74 - P6508: Convívios (246): Convívio Anual do Batalhão de Cavalaria 490, realizado em 29 de Maio de 2010, Coimbra (Valentim Oliveira)

 1. Do nosso Camarada Valentim Oliveira, que foi Soldado Condutor Auto da CCAV 489 / BCAV 490, Como, Guidage e Farim, 1963/65, recebemos a seguinte mensagem, dando-nos conta da confraternização anual do seu batalhão:
1. Do nosso Camarada Valentim Oliveira, que foi Soldado Condutor Auto da CCAV 489 / BCAV 490, Como, Guidage e Farim, 1963/65, recebemos a seguinte mensagem, dando-nos conta da confraternização anual do seu batalhão:
Convívio Anual do Batalhão de Cavalaria 490
Camaradas,

Mais uma vez me dirijo à Tabanca Grande, para comunicar que o Convívio Anual do Batalhão de Cavalaria 490 se realizou ontem, 29 de Maio de 2010, em Coimbra, no Hotel Dona Inês (propriedade do nosso camarada Belfo).
Foi um convívio feliz, pelo encontro de velhos
Camaradas que, na quase totalidade só se encontra nestas alturas.
 É de lamentar que, ano após ano, o número de convivas é cada vez mais reduzido, mas como diz o velho ditado os anos não perdoam e nós lá vamos “indo” uns atrás dos outros.
É de lamentar que, ano após ano, o número de convivas é cada vez mais reduzido, mas como diz o velho ditado os anos não perdoam e nós lá vamos “indo” uns atrás dos outros.
É a Lei da vida.
Um Abraço da grandeza da Guiné para os Editores, para o nosso Comandante Luís Graça, bem assim como para todos os Tertulianos com “assento” neata Tabanca.
Até breve,
Valentim Oliveira
Sold Condutor Auto da CCAV 489/BCAV 490
____________
Nota de M.R.:
Vd. último poste da série em:
30 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6495: Convívios (160): 7.º Encontro da 2.ª CCAÇ/BCAÇ 4610, dia 5 de Junho de 2010 em Fátima (Manuel Maia)
segunda-feira, 31 de maio de 2010
Guiné 63/74 - P6507: Estudos (1): Guerra de África - O QP e o Comando das Companhias de Combate (António Carlos Morais da Silva, Cor Art Ref) (I Parte)
.
(Continua) (*)
_______________
Nota de L.G.:
(*) O Cor Art Ref António Carlos Morais da Silva é professor do ensino superior universitário, foi docente da Academia Militar, do Instituto Superior de Gestão e da Universidade Autónoma de Lisboa, sendo especialista em Investigação Operacional. Também passou pelo TO da Guiné como oficial do QP.
O Morais da Silva teve a gentileza de nos facultar, em pdf e em word, um exemplar do seu estudo, de 30 pp., sobre a "Guerra de África - O QP e o Comando das Companhias de Combate" (Março de 2010), que circulou internamente, na nossa Tabanca Grande, através da nossa rede de emails. Queremos agora que chegue a um público mais vasto, através do nosso blogue.
A existência de um elevado número de gráficos e quadros obrigou-nos a digitalizar todo o relatório que será publicado, no nosso blogue, sob a forma de imagens, em três ou quatro partes. O nosso camarada Jorge Canhão (ex-Fur Mil da 3ª Companhia do BCAÇ 4612/72, Mansoa, 1972/74) encarregou-se dessa diligente tarefa. Temos que lhe agradecer o empenho e a competência com que levou a cabo a digitalização do documento.
Guiné 63/74 - P6506: Blogoterapia (151): Senti que já era o tipo que podia ter uma conversa séria com o velhote (João Santiago)
 1. No passado dia 26 de Maio de 2010, o João Santiago, filho do nosso Camarada Paulo Santiago, festejou mais um aniversário, tendo o Carlos Vinhal, em nome dos editores e demais elementos da Tabanca dedicado, no poste P6472, os nossos melhores e mais amigáveis parabéns e felicitações.
1. No passado dia 26 de Maio de 2010, o João Santiago, filho do nosso Camarada Paulo Santiago, festejou mais um aniversário, tendo o Carlos Vinhal, em nome dos editores e demais elementos da Tabanca dedicado, no poste P6472, os nossos melhores e mais amigáveis parabéns e felicitações. 2. O João não ficou insensível à mensagem que lhe foi dedicada e deixou um comentário de agradecimento, no dito poste, que pela sua agradável simplicidade e frontalidade, que obviamente nos tocou, resolvemos passar a publicar para conhecimento geral:
"... Senti que já era o tipo que podia ter uma conversa seria com o velhote... "
“Olá muito boa tarde, desde mais quero dizer, que não estava mesmo nada a espera... Depois quero agradecer às pessoas (ou pessoa( que se lembraram da minha pessoa... Um Grande Abraço do fundo do coração...
Por fim quero dizer que ter feito essa viagem com o meu Pai fez com que a relação pai filho ficasse mais madura. Senti que já era o tipo que podia ter uma conversa séria com o velhote... foi lá que puxei do meu primeiro cigarro em frente ao meu Pai...
Ser reconhecido neste dia por "Camaradas" do meu Pai foi muito bom... Quero também dizer que a Viagem a Guiné com o meu Pai foi uma das experiências mais impecáveis que já vi neste 1/4 de século, fez-me encarar a vida de outra maneira, reflectir ainda mais sobre o quanto vocês todos foram importantes (sempre gostei de saber das "histórias" da Guiné que o meu Pai e os amigos falavam, achava fascinante, eram putos mais novos do que a idade que tenho quando os mandaram para a guerra, e lá criaram as maiores amizades)... Enfim, pisar aquela terra vermelha e estar naquele clima naquele país com aquelas pessoas, faz-nos simples e cria um sentimento de liberdade brutal.
Por fim quero dizer que ter feito essa viagem com o meu Pai fez com que a relação pai filho ficasse mais madura. Senti que já era o tipo que podia ter uma conversa séria com o velhote... foi lá que puxei do meu primeiro cigarro em frente ao meu Pai...
Vocês todos sabem melhor do que eu, de certeza, o que eu estou para aqui tentar explicar...
Acho que é tudo...
UM GRANDE ABRAÇO... para quem se lembrou de mim desta maneira neste dia...
UM MUITO OBRIGADO!!
P.S: Quando estava a fotografar a GMC, naquele momento existia ali um silêncio... inquietante e que ao mesmo tempo acalmava...
João Santiago”
__________
__________
Nota de M.R.:
Vd. último poste desta série em:
31 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6502: Blogoterapia (150): Rosa, esta Tabanca tem a particularidade de sarar as feridas que mais ninguém quer tratar (Jorge Félix)
Guiné 63/74 - P6505: As Nossas Queridas Enfermeiras Pára-quedistas (16): As primeiras mulheres portuguesas equiparadas a militares (3): Maria Zulmira (Rosa Serra)
Enfermeira Pára-quedista Maria Zulmira
As Primeiras mulheres portuguesas equiparadas a militares - III
Enf.ª Pára-quedista Zulmira
Agora o meu olhar vai para a Enfermeira Zulmira que esteve tanto tempo na Guiné e de quem, com certeza, muita gente conhece. Não me vou referir ao seu desempenho como enfermeira, mas apenas ao seu perfil humano e de certeza que todos concluirão como era ela como enfermeira pára-quedista.
Falar da Zulmira é como falar de um ser especial. Eu acho mesmo que ela é um anjo disfarçado em gente da Terra. Ela é compreensiva como poucos, apaziguadora como ninguém, fala com as mãos e vê com olhos de raio X o que se passa na alma do ser humano.
Se não estivesse a trabalhar era distraída e fazia coisas que nos fazia rir. Nas horas de descontracção alinhava sempre nas brincadeiras, mesmo se fardada e em ambiente militar.
Na Guiné, na hora do almoço e se não estivéssemos no ar, geralmente íamos as duas almoçar ao BCP12. Púnhamos a boina no cocuruto da cabeça e riamos como colegiais pelas diversas reacções dos páras que se cruzavam connosco.
Um dia resolvi “roubar” uma bicicleta que andava por lá pelo BCP12, não sei bem a quem pertencia, penso mesmo, que era usada por quase todos. A Zulmira ficou de atalaia para ver a reacção da pessoa que a deixou à porta da messe enquanto almoçava, acaso saísse e não a encontrasse, enquanto eu fui dar uma volta com ela pela unidade observando o ar de quem presenciava a cena. Alguém tirou uma fotografia e me ofereceu para imortalizar o momento.
Divertíamo-nos com essas pequenas provocações, diria mesmo parvoíces infantis que se calhar ninguém ligava, mas que a nós nos fazia rir e nos punha bem dispostas com vontade de dar uma cambalhota se houvesse uma nesga de relva por perto. O certo é que estas pequenas brincadeiras suavizavam alguns dos momentos mais dolorosos vividos e nos davam alegria.
A Zulmira hoje, a esta distância da juventude de então, continua a ser um Ser Humano ainda mais maravilhoso, de sentimentos puros, que escuta as lamentações dos outros, mima a alma ferida de quem sofre, apazigua quando as emoções se revelam agitadas dos magoados pelas amarguras inesperadas da vida e sem se aperceber o quanto faz bem aos outros, continua a ser aquele anjo feito gente que se projecta no outro acreditando no ser humano, desculpando comportamentos e levando-nos a saber perdoar a quem nos ofende, de uma forma tão generosa e solidária que chega a ser comovente.
Tem uma fé inabalável, que não impõe a ninguém, limita-se quando fala dela a dizer que Deus é seu amigo e que lhe pede para quando fizer a travessia (palavra dela) Ele esteja lá, para lhe dar a mão e que também gostava que a mãe e avó estivessem presentes para a acolher.
Com perfeita noção que a morte é inevitável, não a incomoda falar dela, no entanto há pouco tempo passou mal e quando nos encontrámos após a crise, disse-me com o ar mais normal da vida e sem qualquer ar de lamechice: “hoje estou aqui, mas há dias atrás, pensei que tinha chegado a hora da travessia e ainda por cima tive medo.”
Situações houve em que todas nós fizemos preces por aqueles que sofreram os horrores da guerra, naturalmente umas mais que outras, mas eu tenho quase a certeza que a Zulmira, com essa intimidade que tem com Deus, deve estar em n.º 1 pela sensibilidade que tem com o sofrimento dos outros. As pessoas que a conhecem bem, sabem que ela é assim, mas sem ponta de “beatice” supérflua ou inútil.
Tenho muita pena das minhas capacidades literárias serem diminutas o que me impede de descrever como é a minha amiga Zulmira como ser humano, pois merecia uma narração mais elaborada pois ela é um poema em forma de mulher.
Rosa Serra
Ex-Enfermeira Pára-quedista
Rosa Serra (à esquerda) e Zulmira (à direita) entre camaradas pára-quedistas na mata da Guiné em operação onde ambas participaram o dia inteiro.
No dia anterior também a enfermeira Manuela e a Enfermeira Rosa Exposto acompanharam os mesmos militares. Que eu saiba fomos os único caso, de enfermeiras andarem mesmo em terra, durante todo o dia. Se alguém tiver interesse em saber porquê, explicarei noutra oportunidade.
__________
Nota de CV:
Vd.último poste da série de 29 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6489: As Nossas Queridas Enfermeiras Pára-quedistas (15): A minha homenagem à enfermeira pára-quedista Ivone Reis que ficou em Contabane a cuidar dos feridos graves (Carlos Nery)
Guiné 63/74 - P6504: A viagem de Tangomau, o meu próximo romance (I) (Mário Beja Santos)
1. Mensagem de Mário Beja Santos* (ex-Alf Mil At Inf, Comandante do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), hoje de parabéns por completar 65 anos, com data de 26 de Maio de 2010:
Caríssimo Carlos,
É minha intenção oferecer a todos os nossos camaradas no dia em que faço 65 anos uma lembrança exclusiva: o arranque do romance em que estou presentemente a trabalhar.
O Tangomau é o branco que se africaniza, é lançado no mato, será absorvido pelos usos e costumes, atraído pela natureza e pelas gentes. A expressão foi usada sobretudo nos séculos XVII e XVIII, depois caiu em desuso. De algum modo, eu sou um Tangomau, mesmo quando fingia que África estava distante de mim, longe das minhas precedências. Afinal, como se comprova e escreve, não é assim.
O livro começa com a minha entrada em Mafra, dali seguirei para a ilha de S. Miguel, vou formar batalhão na Amadora, acusado de ser “ideologicamente inapto para a guerra de contra-guerrilha, mormente no Ultramar português”passei à rendição individual, em Lisboa tinham-me advertido: “Ali ao menos vai infectar os pretos”. Infectar, entenda-se seria manifestar repúdio por práticas bestiais muito em voga de oficiais do quadro permanente.
Quem me infectou foram as populações e os soldados, nunca mais os esqueci. A viagem é a minha vida, sempre à procura daquele povo em reconciliação consigo mesmo e eu com ele. Estou em fase de preparativos para ver se passo 15 dias na região de Bambadinca e do Xime, onde combati e ganhei raízes para o que sou hoje.
Nada melhor que dar em primeira mão conta das minhas memórias a quem lá combateu e com quem me correspondo regularmente.
Grato pelo acolhimento, recebe um abraço de amizade do Mário
Mário Beja Santos
A VIAGEM DO TANGOMAU
Eu jogo, eu juro.
Era uma casinfância.
Sei como era uma casa louca.
Eu metia as mãos na água: adormecia,
relembrava.
Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade.
Apalpo agora o girar das brutais,
líricas rodas da vida.
Há no meu esquecimento, ou na lembrança
total das coisas,
uma rosa como um alta cabeça,
um peixe como um movimento
rápido e severo.
Uma rosapeixe dentro da minha ideia
desvairada.
Há copos, garfos inebriados dentro de mim.
– Porque o amor das coisas no seu
tempo futuro
é terrivelmente profundo, é suave
devastador.
Herberto Helder
O poeta desloca-se desabridamente pela sala, na mão direita agita um punhado de folhas esverdeadas, há nelas dizeres dactilografados, o Tangomau limita-se a seguir-lhe os movimentos, o poeta está em transe, não há nada de parecido com a pose de retrato em hieratismo como será pintado pela Maluda, para o visitante é tudo inesperado para este seu último dia de civil pois que amanhã se transfigurará em militar aprendiz, tem um documento no bolso para se apresentar em Mafra, exactamente dentro do convento. Mais convidativa homenagem a este ritual de mudança de estado não se afigurava possível. O poeta garante que lhe vai oferecer em primeiríssima mão a leitura dos seus poemas mais recentes, tudo safra do ano em curso. O poeta resfolega, momentos há em que parece que está a sofrer de rinite alérgica, num compasso metódico ergue o braço de onde lhe sai um pulso frágil com os dedos finos, delicados, quase em corola, abrindo ou fechando. Desloca-se na transversal, em helicóide, estaca subitamente, subitamente arranca, prossegue a melopeia, galvanizado, os olhos como azeitonas pretas cada vez mais líquidos. O que mais impressiona o ouvinte (o convidado, ou seja o Tangomau) não são os requebros do corpo do poeta, são, de facto, os olhos, sabe-se lá se transfigurados ou em hipnose; o que se retém é aquele adejar como se fosse em levitação, o poeta viaja por longe, parece encastelado numa nuvem, trouxe incumbências, parece, dos grandes mestres do vudu., ou visitou Deus.Momentos há em que o Tangomau se alheia, desatendido de um título enorme de um dos poemas, do género “Excerto de Uma Carta-Meditação para uma Amizade Ausente na qual se Insere o Poema que lhe Deu Motivo: «Mon Coeur Mis A Nu»”. O alheamento é compreensível, houve festa de despedida lá onde trabalhava, num mister de serviços mecanográficos, discursos, abraços, o Tangomau recebeu lembranças, sinais de conforto, estamos em Abril de 1967, com aquele tamanho, o vigor notório das articulações, aquele arcaboiço, ninguém o vai subtrair da guerra, África espreita. Até comida deram ao Tangomau, lá no mister de serviços mecanográficos, houve quem vaticinasse que nos meses de preparação há provações a curtir, sem apelo e cheias de agravos, dentro das provações há as da comida, sempre mazinha nos quartéis, por isso lhe deram conservas e outras vitualhas, entra-se sempre no baptismo da tropa com farnéis de queijo e fumeiro, um vinho, tudo para aconchegar. Nada se estraga, com tanta caminhada, exercício, preparativos bélicos, há sempre escape para comes e bebes, acresce que nas casernas a tendência é repartir - foi o que disseram. Estava-se, pois, num dia de emoções. O visitante distrai-se olhando uma imagem de S. João Baptista e, ao fundo, junto à porta, um quadro a óleo de António Dacosta, muito perto do gira-discos, onde já soaram acordes do concerto para violoncelo de Robert Schumann, não muito conhecido mas muito belo. Como num filme, o visitante recorda como chegou a esta casa, vai para dois anos, incumbido de pedir poemas para serem publicados, como foram, num jornal de nome Encontro, periódico de estudantes católicos, onde antes, ou depois, apareceram poemas de Ruy Belo, Sophia ou Pedro Tamen.
Mas agora o poeta arrebata-o, o corpo desceu à terra, a voz arrepia, tem estridência mineral, depois torna-se dolente, pesarosa, clama de um estranho altar:
“Timor! Que paciência eterna!
Vinte anos de paciência.
Ilha de mistérios densa
e gente de tez morena.
Timor, minha ilha querida.
Minha verdade. Falida?...
Ó minha causa perdida!
Senhora, tem piedade.
Tem piedade, Senhora.
Tem piedade.
Olha-me por esta gente
portuguesa,
que te ergueu um trono, uma pedra.
Um sacrário de inocência.”
Ruy Cinatti pintado pela Maluda. A pintora, que ganhou grande notoriedade nos anos 60 e 70, era vizinha do Cinatti na Travessa da Palmeira. Lembro-me uma tarde em que o fui visitar, ele estava exasperado, tinha estado a posar durante duas horas, queixava-se de dores no pescoço, a Maluda gritava-lhe quando ele começava a fazer momices ou a gesticular. Para mim, é o Cinatti no apogeu das suas faculdades, é o tempo de grande poesia e de alguns de seus melhores trabalhos de antropólogo.
O recitativo prossegue. Já se falou de uma alucinação em dia de Natal em que o poeta foi visitado por um diabo incorpóreo. Seguiu-se um estranho poema dedicado a um médico que viveu em Timor, de nome Joaquim de Almeida Gomes, falava-se muito nessa prosa lírica em Sartre, o ouvinte, ausente, sorumbático, olhava a luz coada pela única janela daquela sala, debruçada sobre o Tejo, com o olhar sempre entretido em tanto artefacto timorense, bronze, cesto ou pano. Foi então que aquele poema “Ante – Manhã” o recuperou para o tangível. Depois, em marcação cerrada, o poeta mudou de tom, temos agora a sua mão orientada para a estátua de S. João Baptista, a narrativa fala de um tomahawak, artesanato dos índios Cherokee. Num quase lusco-fusco (estamos em Abril, mais propriamente no dia 10, é um anoitecer que recorda a fome que ronda o jantar), os olhos do poeta voltam a chispar palavras soltas, a voz espevita interjeições, há águias a voar, sons de flauta, até cavalos verdes em estradas desertas. O poeta suspira de cansaço, finda tão longa peroração em diferentes espaços etéreos. E esclarece o seu ouvinte: “Goste-se ou não, estes quatro textos poéticos têm a sua unidade. Ou os publico assim ou queimo-os. A minha vida mudou neste meu reencontro com Deus. Continuo pávido perante este Deus que me resgatou a fé. E para lhe agradecer a sua paciência em assim me aturar e para comemorar a tropa que há-de vir, proponho o bife do Avis, nos Restauradores, depois deixo-o em casa, é uma boa despedida, parece-me, neste rito de passagem”
À porta do Avis, ocorreu algo de bizarro que o Tangomau jamais esqueceria. Do que se conversava até lá chegar não ficou memória, impressionante foi aquele homem de cabelo branco, espetado, sobrancelhas espessas, de azeviche, olhos agitados, que, em tom áspero, mas também ansioso, questionou o poeta, à queima-roupa, saindo do breu do desvão da escada para a porta iluminada: “Diz-me uma coisa, ó Cinatti, o Salazar já morreu? Tens a certeza?”. Creio que resposta não houve, ou não se pôde ouvir por gente desacautelada, o poeta pôs-lhe a mão no ombro, seguiu-se um vozear ameno e depois uma despedida sem frases ríspidas, como se toda a harmonia fosse previsível na comunicação daqueles dois homens, a qualquer hora. Seguindo o poeta, estarrecido por este encontro inesperado, por aquele insólito linguajar num país de pides e informadores, o Tangomau olhou o interior do café, subiram até à mezanina, o poeta explicava que lá em baixo, em grupos separados, havia gente apoiante do regime, outros desafiando-o, outros, indiferentes, em tertúlia quase neutra, porventura artística, como em muitos cafés das redondezas, sobretudo no Rossio. O vozear chegava rebaixado, um pouco difuso, como se toda aquela gente convivesse num fosso de orquestra. Antes de pedir o tal bife cuja acrisolada fama provinha do molho, o poeta dá explicações: “Não esteja tão interrogativo, não ligue, há mistérios maiores. Aquele senhor é o Tomaz de Figueiredo, um dos maiores escritores portugueses, quando voltar a Lisboa e passar lá por casa empresto-lhe uma das suas preciosidades, é conservador e monárquico, mas, que quer, tem um ódio de morte ao Salazar, é coisa confusa”. Quando volta a falar em Timor, tema de um trabalho de etnógrafo, outro vozeirão se levanta, desta vez de um corpo maciço, um rosto quase quadrado, lábios grossos, esse alguém avança sobre a mesa e clama: “Ó Cinatti, não me digas que não me ofereces um vinho Gatão!”. O poeta levanta-se e apresenta o recém-chegado: “Não sei se se conhecem, é o Amândio César, jornalista, poeta e grande contista. Senta-te, bebe connosco, este amanhã vai para a tropa”. Desinteressaram-se de mim, falaram de África (Angola e Guiné) e de Timor, de guerras por ganhar, falaram de literatura, o poeta deu conta dos seus trabalhos mais recentes e dos que hão-de vir, o jornalista disserta sobre as suas reportagens, não se coibindo de se queixar da modorra nacional, incompatível com o Império em luta. Teve lugar o jantar, as garrafas de vinho Gatão sucederam-se, estão ali quatro vazias no pano da mesa, os sons abaixo da mezanina reduziram de volume. É nisto que o poeta nos desafia: “Bom, regressemos a minha casa, vou mostrar-te os meus cadernos daquele cruzeiro a África, vais conhecer o ossobó, o conto que escrevi em jovem, em 1936”. O serão prosseguiu na Travessa da Palmeira, nº 12, 3º Dto., o Amândio César tomou conta da conversa, falou-se de literatura africana, de forma subliminar as guerras de África apareciam como o futuro suspenso de Portugal. O visitante surpreso por aqueles sons tonitruantes, aquele homem que gritava pelo Ultramar em perigo e referia uma retaguarda cheia de cobardes ou gente acomodada, discurso assim nunca ouvira. E assim se passaram as horas, até ao alvorecer. O Tangomau sentia-se prostrar, até medo teve de entrar derreado, de ali a poucas horas, no convento. Então, aquela gente crescida, entusiasta e vociferante, apiedou-se, o poeta avisou que ia levar as visitas a casa. Na Avenida Infante Santo, sempre com o vozeirão timbrado, Amândio César deu a saber: “Olha miúdo, falei-te do tal livro do Malaparte que eu traduzi. Não acredito que sobre a guerra se volte a escrever coisa tão importante. Vou lá acima buscar um exemplar, ficas obrigado, quando nos voltarmos a encontrar, a dares-me a tua opinião”. E voltou com o livro, o título impressionou o Tangomau: “Kaputt”. Foi para a cama, com uma faca de cortar papel abriu as primeiras páginas, apercebeu-se das vicissitudes com que Curzio Malaparte (aliás, Kurt Suckert) preparou o seu livro, entre 1941 e 1943. Sente-se exausto, quer dormir algumas horas, almoçará em casa com a mãe e com o seu maior amigo, depois seguirá para o novo estado. Mas fixa o importante da história do manuscrito contada por Malaparte: “Kaputt é um livro horrivelmente cruel e divertido. A alegria cruel é a mais extraordinária experiência que tirei do espectáculo Europa no decorrer destes anos de guerra. Entre os protagonistas deste livro a guerra nem por isso tem menos o papel de uma personagem secundária. Se os pretextos inevitáveis não pertencessem à ordem da fatalidade, poderia dizer-se que não teve outro valor que não fosse o de um pretexto. A guerra é a paisagem objectiva deste livro. O herói principal é Kaputt, monstro divertido e cruel. Nenhuma palavra melhor que esta e quase misteriosa expressão alemã: «Kaputt, que significa literalmente: estilhaçado, acabado, reduzido a pedaços, perdido», que estaria indicada para definir o que nós somos, o que é, presentemente, a Europa: um amontoado de detritos. Mas que fique bem entendido que eu prefiro esta Europa kaputt à Europa de ontem e àquela de há vinte ou trinta anos. Prefiro que seja necessário refazer tudo a ser obrigado a aceitar tudo como uma herança imutável”. Por acaso inexplicável, a leitura do livro só teve sequência algum tempo mais tarde, de Agosto para Setembro de 1968, no regulado do Cuor, no Leste da Guiné. Nem Malaparte ou mesmo Amândio Césa poderiam ter sonhado como aquele livro iria ser importante na formação do Tangomau, até para a compreensão daquela guerra em África em que ele, dentro de horas, iria conhecer as primícias. Assim adormeceu, rodeado dos seus livros tão caros, dos seus objectos tão amados. Acordou sereno mas meditabundo, arranjou os haveres para a partida. Insensível ao que o espera, ensaca livros para ler por vários meses.
Tomaz de Figueiredo foi indiscutivelmente um dos grandes prosadores portugueses do castiço. “A Toca do Lobo”, “Dom Tanas de Barbatanas” e “Tiros de Espingarda” são obras de um grande mestre da língua. Vim mais tarde a confirmar que havia de facto um ódio do escritor a Salazar, creio mesmo que quando estava a morrer perguntava ansiosamente se o ditador já tinha morrido...
Amândio César foi um poeta, jornalista e contista de grandes méritos. Veio do neo-realismo, fixou-se nas reportagens ultramarinas, depois da guerra colonial, dedicou dois livros à Guiné. Ofereceu-me com uma bonita dedicatória o “Kaputt”, de Curzio Malaparte, que ele traduzira. É ainda hoje o meu livro de referência sobre os horrores da guerra, uns pontos acima de Norman Mailer
Respira-se à mesa, durante o almoço, a tensão da despedida. A mãe vestiu-se de preto, faz recomendações, apela ao respeito e à disciplina, recorda a capacidade de aceitação, as orações nocturnas sempre orientadas para aqueles que já partiram e que merecem ser gratificados nas nossas recordações, as orações diurnas para aqueles a quem devemos o amor e o incentivo para o dia que vai começar. O maior amigo do Tangomau está silencioso, terá fundadas razões para isso. Nesse dia se interrompe um diálogo constante, as conversas quase diárias havidas lá para a Praça Pasteur, num quarto coberto de telas e desenhos do pintor Fausto Sampaio. Chegou a hora de partir, a mãe passa em revista os objectos pessoais indispensáveis, faz exclamação quando vê um saco com conservas, queijos e produtos de fumeiro, mais exclamação quando vê os livros e frascos com produtos ditos dietéticos. Suspirando, diz-lhe: “Volta bem depressa, fico praticamente sozinha”. O filho responde: “Voltarei no fim-de-semana, espero, não a esqueço, muito menos a educação que me deu, esta alegria de viver”.
A partida para Mafra, por pura ignorância do Tangomau, que confiava cegamente na guia de marcha que lhe entregaram, falava em comboios, e na estação do Rossio. É para lá que os dois amigos se dirigem, no cais se despedem com um abraço e é nessa altura que o amigo, sempre com a mesma expressão tímida, com o seu olhar azul muito vivo lhe entrega um livro sobre pintura grega, uma edição de Lausanne, escreveu a dedicatória com a sua letra verde, cuidada e apõe a data: 11 de Abril de 1967, do teu amigo sempre grato, com votos de rápido regresso. É no comboio, rodeado doutros mancebos, que o Tangomau se apercebe que não existe um comboio para Mafra, aquela linha do Oeste vai despejá-los na Malveira, daqui seguirão de autocarro até ao convento construído das promessas do rei D. João V. Nada prevendo de aliciante naquele troço da viagem, dá consigo absorvido no livro “Um Realismo Sem Fronteiras”, de um tal Roger Garaudy, que o seu amigo livreiro, o senhor Barata, lhe assegurou ser um marxista não dogmático. É uma análise das obras de Picasso, Saint-John Perse e Kafka. Saint-John Perse é o poeta que o Tangomau presentemente mais aprecia, aliás aquele poeta da véspera já lhe oferecera um livro chamado “L’Anabase”, uma poesia cheia de mar e de todos os outros elementos da natureza, com muita evocação do passado mas igualmente com muitas promessas de futuro. Naquele comboio, por vezes distraído pela paisagem e pelas conversas envolventes, agita-o aquela fé tão plena no homem, aquele ritmo jubiloso, arquejante e musical de combate: “Que desvenda em sonho muitas outras leis de transumância e de derivação; o que busca, por meio de sonda, o barro vermelho dos grandes fundos para modelar a face do seu sonho” ou, ainda: “Aqueles que pressentem a ideia nova nas frescuras do abismo, aqueles que sopram nas tubas às portas do futuro”. Destes três livros agora referidos, “Kaputt”, a pintura grega, numa linda edição de La Guilde du Livre e “Um Realismo Sem Fronteiras” só subsistiu a prenda do seu maior amigo, nunca se saberá porque é que esta doce lembrança não integrará o espólio constante de duas caixas de madeira, feitas à medida, por um carpinteiro do Regimento de Infantaria nº 1, na Amadora. Como haverá circunstância para descrever, todo este espólio ficará reduzido a cinzas, em meados de Março de 1969.
Enquanto se espera o autocarro, toda aquela gente jovem, ajoujada de malas, sacos e até instrumentos musicais, mete conversa desopilante, a apreensão fica assim mais submersa, já se está muito perto do primeiro destino que a vida militar reserva. Entardece enquanto o autocarro pejado de recrutas, camponeses e outros habitantes locais, após uma estrada sinuosa, cercada de matas e fraguedos, com uma nesga de mar ao fundo, se imobiliza em frente ao convento. Uma voz álacre ressoa, ufana,categórica, no interior do transporte público: “Malta, chegámos a casa!”.
(Continua)
__________
Nota de CV:
(*) Vd. poste de hoje, 31 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6503: Parabéns a você (117): Mário, para ti, neste dia, aqui vai uma doce lembrança da tua menina, da tua Glorinha (Os Editores)
Caríssimo Carlos,
É minha intenção oferecer a todos os nossos camaradas no dia em que faço 65 anos uma lembrança exclusiva: o arranque do romance em que estou presentemente a trabalhar.
O Tangomau é o branco que se africaniza, é lançado no mato, será absorvido pelos usos e costumes, atraído pela natureza e pelas gentes. A expressão foi usada sobretudo nos séculos XVII e XVIII, depois caiu em desuso. De algum modo, eu sou um Tangomau, mesmo quando fingia que África estava distante de mim, longe das minhas precedências. Afinal, como se comprova e escreve, não é assim.
O livro começa com a minha entrada em Mafra, dali seguirei para a ilha de S. Miguel, vou formar batalhão na Amadora, acusado de ser “ideologicamente inapto para a guerra de contra-guerrilha, mormente no Ultramar português”passei à rendição individual, em Lisboa tinham-me advertido: “Ali ao menos vai infectar os pretos”. Infectar, entenda-se seria manifestar repúdio por práticas bestiais muito em voga de oficiais do quadro permanente.
Quem me infectou foram as populações e os soldados, nunca mais os esqueci. A viagem é a minha vida, sempre à procura daquele povo em reconciliação consigo mesmo e eu com ele. Estou em fase de preparativos para ver se passo 15 dias na região de Bambadinca e do Xime, onde combati e ganhei raízes para o que sou hoje.
Nada melhor que dar em primeira mão conta das minhas memórias a quem lá combateu e com quem me correspondo regularmente.
Grato pelo acolhimento, recebe um abraço de amizade do Mário
Mário Beja Santos
A VIAGEM DO TANGOMAU
Eu jogo, eu juro.
Era uma casinfância.
Sei como era uma casa louca.
Eu metia as mãos na água: adormecia,
relembrava.
Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade.
Apalpo agora o girar das brutais,
líricas rodas da vida.
Há no meu esquecimento, ou na lembrança
total das coisas,
uma rosa como um alta cabeça,
um peixe como um movimento
rápido e severo.
Uma rosapeixe dentro da minha ideia
desvairada.
Há copos, garfos inebriados dentro de mim.
– Porque o amor das coisas no seu
tempo futuro
é terrivelmente profundo, é suave
devastador.
Herberto Helder
SORONDA*
Soronda, uma palavra do crioulo guineense que significa germinar, desabrochar, crescerO anúncio dos preparativos
Ante - Manhã
O poeta desloca-se desabridamente pela sala, na mão direita agita um punhado de folhas esverdeadas, há nelas dizeres dactilografados, o Tangomau limita-se a seguir-lhe os movimentos, o poeta está em transe, não há nada de parecido com a pose de retrato em hieratismo como será pintado pela Maluda, para o visitante é tudo inesperado para este seu último dia de civil pois que amanhã se transfigurará em militar aprendiz, tem um documento no bolso para se apresentar em Mafra, exactamente dentro do convento. Mais convidativa homenagem a este ritual de mudança de estado não se afigurava possível. O poeta garante que lhe vai oferecer em primeiríssima mão a leitura dos seus poemas mais recentes, tudo safra do ano em curso. O poeta resfolega, momentos há em que parece que está a sofrer de rinite alérgica, num compasso metódico ergue o braço de onde lhe sai um pulso frágil com os dedos finos, delicados, quase em corola, abrindo ou fechando. Desloca-se na transversal, em helicóide, estaca subitamente, subitamente arranca, prossegue a melopeia, galvanizado, os olhos como azeitonas pretas cada vez mais líquidos. O que mais impressiona o ouvinte (o convidado, ou seja o Tangomau) não são os requebros do corpo do poeta, são, de facto, os olhos, sabe-se lá se transfigurados ou em hipnose; o que se retém é aquele adejar como se fosse em levitação, o poeta viaja por longe, parece encastelado numa nuvem, trouxe incumbências, parece, dos grandes mestres do vudu., ou visitou Deus.Momentos há em que o Tangomau se alheia, desatendido de um título enorme de um dos poemas, do género “Excerto de Uma Carta-Meditação para uma Amizade Ausente na qual se Insere o Poema que lhe Deu Motivo: «Mon Coeur Mis A Nu»”. O alheamento é compreensível, houve festa de despedida lá onde trabalhava, num mister de serviços mecanográficos, discursos, abraços, o Tangomau recebeu lembranças, sinais de conforto, estamos em Abril de 1967, com aquele tamanho, o vigor notório das articulações, aquele arcaboiço, ninguém o vai subtrair da guerra, África espreita. Até comida deram ao Tangomau, lá no mister de serviços mecanográficos, houve quem vaticinasse que nos meses de preparação há provações a curtir, sem apelo e cheias de agravos, dentro das provações há as da comida, sempre mazinha nos quartéis, por isso lhe deram conservas e outras vitualhas, entra-se sempre no baptismo da tropa com farnéis de queijo e fumeiro, um vinho, tudo para aconchegar. Nada se estraga, com tanta caminhada, exercício, preparativos bélicos, há sempre escape para comes e bebes, acresce que nas casernas a tendência é repartir - foi o que disseram. Estava-se, pois, num dia de emoções. O visitante distrai-se olhando uma imagem de S. João Baptista e, ao fundo, junto à porta, um quadro a óleo de António Dacosta, muito perto do gira-discos, onde já soaram acordes do concerto para violoncelo de Robert Schumann, não muito conhecido mas muito belo. Como num filme, o visitante recorda como chegou a esta casa, vai para dois anos, incumbido de pedir poemas para serem publicados, como foram, num jornal de nome Encontro, periódico de estudantes católicos, onde antes, ou depois, apareceram poemas de Ruy Belo, Sophia ou Pedro Tamen.
Mas agora o poeta arrebata-o, o corpo desceu à terra, a voz arrepia, tem estridência mineral, depois torna-se dolente, pesarosa, clama de um estranho altar:
“Timor! Que paciência eterna!
Vinte anos de paciência.
Ilha de mistérios densa
e gente de tez morena.
Timor, minha ilha querida.
Minha verdade. Falida?...
Ó minha causa perdida!
Senhora, tem piedade.
Tem piedade, Senhora.
Tem piedade.
Olha-me por esta gente
portuguesa,
que te ergueu um trono, uma pedra.
Um sacrário de inocência.”
Ruy Cinatti pintado pela Maluda. A pintora, que ganhou grande notoriedade nos anos 60 e 70, era vizinha do Cinatti na Travessa da Palmeira. Lembro-me uma tarde em que o fui visitar, ele estava exasperado, tinha estado a posar durante duas horas, queixava-se de dores no pescoço, a Maluda gritava-lhe quando ele começava a fazer momices ou a gesticular. Para mim, é o Cinatti no apogeu das suas faculdades, é o tempo de grande poesia e de alguns de seus melhores trabalhos de antropólogo.
O recitativo prossegue. Já se falou de uma alucinação em dia de Natal em que o poeta foi visitado por um diabo incorpóreo. Seguiu-se um estranho poema dedicado a um médico que viveu em Timor, de nome Joaquim de Almeida Gomes, falava-se muito nessa prosa lírica em Sartre, o ouvinte, ausente, sorumbático, olhava a luz coada pela única janela daquela sala, debruçada sobre o Tejo, com o olhar sempre entretido em tanto artefacto timorense, bronze, cesto ou pano. Foi então que aquele poema “Ante – Manhã” o recuperou para o tangível. Depois, em marcação cerrada, o poeta mudou de tom, temos agora a sua mão orientada para a estátua de S. João Baptista, a narrativa fala de um tomahawak, artesanato dos índios Cherokee. Num quase lusco-fusco (estamos em Abril, mais propriamente no dia 10, é um anoitecer que recorda a fome que ronda o jantar), os olhos do poeta voltam a chispar palavras soltas, a voz espevita interjeições, há águias a voar, sons de flauta, até cavalos verdes em estradas desertas. O poeta suspira de cansaço, finda tão longa peroração em diferentes espaços etéreos. E esclarece o seu ouvinte: “Goste-se ou não, estes quatro textos poéticos têm a sua unidade. Ou os publico assim ou queimo-os. A minha vida mudou neste meu reencontro com Deus. Continuo pávido perante este Deus que me resgatou a fé. E para lhe agradecer a sua paciência em assim me aturar e para comemorar a tropa que há-de vir, proponho o bife do Avis, nos Restauradores, depois deixo-o em casa, é uma boa despedida, parece-me, neste rito de passagem”
À porta do Avis, ocorreu algo de bizarro que o Tangomau jamais esqueceria. Do que se conversava até lá chegar não ficou memória, impressionante foi aquele homem de cabelo branco, espetado, sobrancelhas espessas, de azeviche, olhos agitados, que, em tom áspero, mas também ansioso, questionou o poeta, à queima-roupa, saindo do breu do desvão da escada para a porta iluminada: “Diz-me uma coisa, ó Cinatti, o Salazar já morreu? Tens a certeza?”. Creio que resposta não houve, ou não se pôde ouvir por gente desacautelada, o poeta pôs-lhe a mão no ombro, seguiu-se um vozear ameno e depois uma despedida sem frases ríspidas, como se toda a harmonia fosse previsível na comunicação daqueles dois homens, a qualquer hora. Seguindo o poeta, estarrecido por este encontro inesperado, por aquele insólito linguajar num país de pides e informadores, o Tangomau olhou o interior do café, subiram até à mezanina, o poeta explicava que lá em baixo, em grupos separados, havia gente apoiante do regime, outros desafiando-o, outros, indiferentes, em tertúlia quase neutra, porventura artística, como em muitos cafés das redondezas, sobretudo no Rossio. O vozear chegava rebaixado, um pouco difuso, como se toda aquela gente convivesse num fosso de orquestra. Antes de pedir o tal bife cuja acrisolada fama provinha do molho, o poeta dá explicações: “Não esteja tão interrogativo, não ligue, há mistérios maiores. Aquele senhor é o Tomaz de Figueiredo, um dos maiores escritores portugueses, quando voltar a Lisboa e passar lá por casa empresto-lhe uma das suas preciosidades, é conservador e monárquico, mas, que quer, tem um ódio de morte ao Salazar, é coisa confusa”. Quando volta a falar em Timor, tema de um trabalho de etnógrafo, outro vozeirão se levanta, desta vez de um corpo maciço, um rosto quase quadrado, lábios grossos, esse alguém avança sobre a mesa e clama: “Ó Cinatti, não me digas que não me ofereces um vinho Gatão!”. O poeta levanta-se e apresenta o recém-chegado: “Não sei se se conhecem, é o Amândio César, jornalista, poeta e grande contista. Senta-te, bebe connosco, este amanhã vai para a tropa”. Desinteressaram-se de mim, falaram de África (Angola e Guiné) e de Timor, de guerras por ganhar, falaram de literatura, o poeta deu conta dos seus trabalhos mais recentes e dos que hão-de vir, o jornalista disserta sobre as suas reportagens, não se coibindo de se queixar da modorra nacional, incompatível com o Império em luta. Teve lugar o jantar, as garrafas de vinho Gatão sucederam-se, estão ali quatro vazias no pano da mesa, os sons abaixo da mezanina reduziram de volume. É nisto que o poeta nos desafia: “Bom, regressemos a minha casa, vou mostrar-te os meus cadernos daquele cruzeiro a África, vais conhecer o ossobó, o conto que escrevi em jovem, em 1936”. O serão prosseguiu na Travessa da Palmeira, nº 12, 3º Dto., o Amândio César tomou conta da conversa, falou-se de literatura africana, de forma subliminar as guerras de África apareciam como o futuro suspenso de Portugal. O visitante surpreso por aqueles sons tonitruantes, aquele homem que gritava pelo Ultramar em perigo e referia uma retaguarda cheia de cobardes ou gente acomodada, discurso assim nunca ouvira. E assim se passaram as horas, até ao alvorecer. O Tangomau sentia-se prostrar, até medo teve de entrar derreado, de ali a poucas horas, no convento. Então, aquela gente crescida, entusiasta e vociferante, apiedou-se, o poeta avisou que ia levar as visitas a casa. Na Avenida Infante Santo, sempre com o vozeirão timbrado, Amândio César deu a saber: “Olha miúdo, falei-te do tal livro do Malaparte que eu traduzi. Não acredito que sobre a guerra se volte a escrever coisa tão importante. Vou lá acima buscar um exemplar, ficas obrigado, quando nos voltarmos a encontrar, a dares-me a tua opinião”. E voltou com o livro, o título impressionou o Tangomau: “Kaputt”. Foi para a cama, com uma faca de cortar papel abriu as primeiras páginas, apercebeu-se das vicissitudes com que Curzio Malaparte (aliás, Kurt Suckert) preparou o seu livro, entre 1941 e 1943. Sente-se exausto, quer dormir algumas horas, almoçará em casa com a mãe e com o seu maior amigo, depois seguirá para o novo estado. Mas fixa o importante da história do manuscrito contada por Malaparte: “Kaputt é um livro horrivelmente cruel e divertido. A alegria cruel é a mais extraordinária experiência que tirei do espectáculo Europa no decorrer destes anos de guerra. Entre os protagonistas deste livro a guerra nem por isso tem menos o papel de uma personagem secundária. Se os pretextos inevitáveis não pertencessem à ordem da fatalidade, poderia dizer-se que não teve outro valor que não fosse o de um pretexto. A guerra é a paisagem objectiva deste livro. O herói principal é Kaputt, monstro divertido e cruel. Nenhuma palavra melhor que esta e quase misteriosa expressão alemã: «Kaputt, que significa literalmente: estilhaçado, acabado, reduzido a pedaços, perdido», que estaria indicada para definir o que nós somos, o que é, presentemente, a Europa: um amontoado de detritos. Mas que fique bem entendido que eu prefiro esta Europa kaputt à Europa de ontem e àquela de há vinte ou trinta anos. Prefiro que seja necessário refazer tudo a ser obrigado a aceitar tudo como uma herança imutável”. Por acaso inexplicável, a leitura do livro só teve sequência algum tempo mais tarde, de Agosto para Setembro de 1968, no regulado do Cuor, no Leste da Guiné. Nem Malaparte ou mesmo Amândio Césa poderiam ter sonhado como aquele livro iria ser importante na formação do Tangomau, até para a compreensão daquela guerra em África em que ele, dentro de horas, iria conhecer as primícias. Assim adormeceu, rodeado dos seus livros tão caros, dos seus objectos tão amados. Acordou sereno mas meditabundo, arranjou os haveres para a partida. Insensível ao que o espera, ensaca livros para ler por vários meses.
Tomaz de Figueiredo foi indiscutivelmente um dos grandes prosadores portugueses do castiço. “A Toca do Lobo”, “Dom Tanas de Barbatanas” e “Tiros de Espingarda” são obras de um grande mestre da língua. Vim mais tarde a confirmar que havia de facto um ódio do escritor a Salazar, creio mesmo que quando estava a morrer perguntava ansiosamente se o ditador já tinha morrido...
Amândio César foi um poeta, jornalista e contista de grandes méritos. Veio do neo-realismo, fixou-se nas reportagens ultramarinas, depois da guerra colonial, dedicou dois livros à Guiné. Ofereceu-me com uma bonita dedicatória o “Kaputt”, de Curzio Malaparte, que ele traduzira. É ainda hoje o meu livro de referência sobre os horrores da guerra, uns pontos acima de Norman Mailer
Respira-se à mesa, durante o almoço, a tensão da despedida. A mãe vestiu-se de preto, faz recomendações, apela ao respeito e à disciplina, recorda a capacidade de aceitação, as orações nocturnas sempre orientadas para aqueles que já partiram e que merecem ser gratificados nas nossas recordações, as orações diurnas para aqueles a quem devemos o amor e o incentivo para o dia que vai começar. O maior amigo do Tangomau está silencioso, terá fundadas razões para isso. Nesse dia se interrompe um diálogo constante, as conversas quase diárias havidas lá para a Praça Pasteur, num quarto coberto de telas e desenhos do pintor Fausto Sampaio. Chegou a hora de partir, a mãe passa em revista os objectos pessoais indispensáveis, faz exclamação quando vê um saco com conservas, queijos e produtos de fumeiro, mais exclamação quando vê os livros e frascos com produtos ditos dietéticos. Suspirando, diz-lhe: “Volta bem depressa, fico praticamente sozinha”. O filho responde: “Voltarei no fim-de-semana, espero, não a esqueço, muito menos a educação que me deu, esta alegria de viver”.
A partida para Mafra, por pura ignorância do Tangomau, que confiava cegamente na guia de marcha que lhe entregaram, falava em comboios, e na estação do Rossio. É para lá que os dois amigos se dirigem, no cais se despedem com um abraço e é nessa altura que o amigo, sempre com a mesma expressão tímida, com o seu olhar azul muito vivo lhe entrega um livro sobre pintura grega, uma edição de Lausanne, escreveu a dedicatória com a sua letra verde, cuidada e apõe a data: 11 de Abril de 1967, do teu amigo sempre grato, com votos de rápido regresso. É no comboio, rodeado doutros mancebos, que o Tangomau se apercebe que não existe um comboio para Mafra, aquela linha do Oeste vai despejá-los na Malveira, daqui seguirão de autocarro até ao convento construído das promessas do rei D. João V. Nada prevendo de aliciante naquele troço da viagem, dá consigo absorvido no livro “Um Realismo Sem Fronteiras”, de um tal Roger Garaudy, que o seu amigo livreiro, o senhor Barata, lhe assegurou ser um marxista não dogmático. É uma análise das obras de Picasso, Saint-John Perse e Kafka. Saint-John Perse é o poeta que o Tangomau presentemente mais aprecia, aliás aquele poeta da véspera já lhe oferecera um livro chamado “L’Anabase”, uma poesia cheia de mar e de todos os outros elementos da natureza, com muita evocação do passado mas igualmente com muitas promessas de futuro. Naquele comboio, por vezes distraído pela paisagem e pelas conversas envolventes, agita-o aquela fé tão plena no homem, aquele ritmo jubiloso, arquejante e musical de combate: “Que desvenda em sonho muitas outras leis de transumância e de derivação; o que busca, por meio de sonda, o barro vermelho dos grandes fundos para modelar a face do seu sonho” ou, ainda: “Aqueles que pressentem a ideia nova nas frescuras do abismo, aqueles que sopram nas tubas às portas do futuro”. Destes três livros agora referidos, “Kaputt”, a pintura grega, numa linda edição de La Guilde du Livre e “Um Realismo Sem Fronteiras” só subsistiu a prenda do seu maior amigo, nunca se saberá porque é que esta doce lembrança não integrará o espólio constante de duas caixas de madeira, feitas à medida, por um carpinteiro do Regimento de Infantaria nº 1, na Amadora. Como haverá circunstância para descrever, todo este espólio ficará reduzido a cinzas, em meados de Março de 1969.
Enquanto se espera o autocarro, toda aquela gente jovem, ajoujada de malas, sacos e até instrumentos musicais, mete conversa desopilante, a apreensão fica assim mais submersa, já se está muito perto do primeiro destino que a vida militar reserva. Entardece enquanto o autocarro pejado de recrutas, camponeses e outros habitantes locais, após uma estrada sinuosa, cercada de matas e fraguedos, com uma nesga de mar ao fundo, se imobiliza em frente ao convento. Uma voz álacre ressoa, ufana,categórica, no interior do transporte público: “Malta, chegámos a casa!”.
(Continua)
__________
Nota de CV:
(*) Vd. poste de hoje, 31 de Maio de 2010 > Guiné 63/74 - P6503: Parabéns a você (117): Mário, para ti, neste dia, aqui vai uma doce lembrança da tua menina, da tua Glorinha (Os Editores)
Subscrever:
Comentários (Atom)





.jpg)
.jpg)
.jpg)