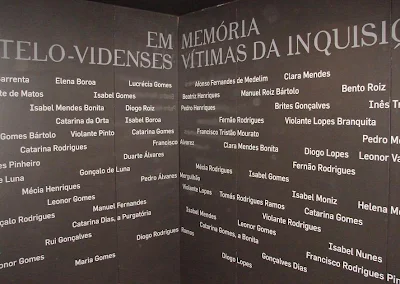1. Terceiro e último poste da 1.ª Fase - Bissau da série "Cartas" de Carlos Geraldes, ex-Alf Mil da CART 676,
Pirada, Bajocunda e
Paúnca, 1964/66.
1.ª Fase: Bissau
 Bissau, 06 Ago. 1964
Bissau, 06 Ago. 1964
Nos últimos três dias não estivemos em Bissau. Fomos para mais uma
perigosa operação.
O perigo é a minha profissão, como dizia o outro, mas acho que por aqui o perigo é ainda um bocado difícil de encontrar. Por enquanto corre tudo relativamente bem, sem sobressaltos. Esperemos que assim continue.
Nesta carta, como noutras anteriores, é evidente a preocupação de aligeirar a imagem da guerra, de mascarar a realidade, para não atormentar a família que lá longe na Metrópole, seguia angustiada as notícias que chegavam dos vários teatros da guerra colonial
Desta vez fomos para os lados de
Catió e
Bedanda, perto da fronteira Sul. Fomos e viemos a bordo de um contratorpedeiro, o “
Vouga”. Ficámos assim a conhecer uma série de oficiais da Marinha, extraordinariamente simpáticos. Ficámos todos entusiasmados com o nível de educação, camaradagem e cultura destes indivíduos. Trataram-nos muitíssimo bem, principalmente quando no regresso do mato aparecemos todos sujos e esfarrapados. Não se pouparam a esforços, arranjando-nos banho, roupas lavadas e comidas quentes, apesar de já passarem das duas horas da madrugada.
A operação tinha o nome de código, “
Broca”. Participaram, além de nós, várias Companhias de Infantaria, dois Destacamentos de Fuzileiros, dois Pelotões de Pára-quedistas, comandados por um amigo dos tempos da Universidade, o Mascarenhas. E ainda a Aviação, peças de Artilharia e, é claro, também a Marinha, com os barcos para o transporte de todo aquele pessoal.
A zona era território dominado pelo inimigo e há mais de um ano que ninguém se atrevia a ir lá. Os
turras, segundo se constava, tinham até campos de treino. A missão da nossa Companhia era bater a mata a noroeste da estrada que vai para Catió e depois limpar essa estrada. Não encontrámos resistência armada limitando-nos a destruir todas as tabancas que por ali existiam e que davam o sustento necessário ao inimigo, matando todo o gado, estragando as plantações de bananeiras e fazendo prisioneiros aqueles que não fugiam e se entregavam pois, caso contrário, eram mortos pelos nossos soldados que, desta vez, se comportaram com um sangue frio extraordinário e não dispararam um único tiro a mais.
Quem na realidade defrontou propriamente o inimigo foram os fuzileiros que tiveram cinco feridos e um morto. Como resposta mataram uma quantidade de
turras, apreenderam muito material e creio que por uns tempos aquela zona ficará controlada pelas nossas tropas. A estrada que tínhamos de percorrer estava toda semeada de enormes árvores abatidas e, de não passar lá ninguém, tinha capim com quase 3 metros de altura. Agora ficou totalmente desimpedida.
Estivemos naquela zona dois dias (segunda e terça) e nunca vi mato tão cerrado como aquele. Autêntica floresta virgem. De segunda para terça-feira, dormimos metidos em buracos, à chuva, comidos pelos mosquitos. Quando chegámos, às 6 horas da tarde de terça-feira, a Catió, demos um enorme suspiro de alívio. Ao tirar a mochila de cima dos ombros até me senti flutuar. Regressámos depois ao “
Vouga” em lanchas de desembarque e ia enjoando pois o mar estava picado e continuava a chover. O transbordo foi uma coisa de loucos. As ondas tanto levantavam a LDM acima do convés do “
Vouga” como nos precipitavam num abismo profundo quase até à quilha. Tínhamos que calcular o momento certo para saltar para bordo, arremessando primeiro as armas e as bagagens, para depois saltarmos nós próprios de qualquer maneira fechando os olhos ao perigo, numa confusão indescritível.
Chegados a Bissau às 13H30 da tarde do dia seguinte e, depois de lavados e vestidos de novo, corremos até à Baixa, para comer frangos de churrasco e beber muita cerveja. E à hora do jantar regressámos à Messe dos Oficiais para de novo encher o estômago, tal era a fome que sentíamos depois de dois dias alimentados apenas a rações de combate.
No dia seguinte convidámos os oficiais do “
Vouga” para uma jantarada, numa modesta retribuição pela forma magnífica como sempre nos têm tratado. No final acabámos todos a ouvir fados. Sim, porque aqui também se ouvem fados e dos mais castiços.
Juntou-se um grupo de sargentos e alferes, mais ou menos todos de Lisboa e foi uma noite de fados em cheio, até às cinco da madrugada a beber vinho e a comer anchovas (à falta de melhor) com queijo e pão. Garanto que ninguém ficou bêbado, mas fiquei um pouco farto de fados…
Os da Marinha gostaram tanto do convívio que agora são eles que nos querem convidar para bordo do “
Vouga” para outra confraternização.
Se entrássemos nesse ritmo o resto da comissão até que nem seria nada desagradável. Mas em Dezembro já se vão embora, deixando estes mares.
Bissau, 22 de Ago.1964
A operação “
Crato” demorou dois dias, 18 e 19 de Agosto. Choveu forte e sem parar.
Embarcámos na madrugada de terça-feira, às 04H00 num barquito de guerra que atravessou o rio Geba para sul e nos foi colocar na outra margem junto à região de
Tite (acima de Bolama), zona de forte implantação dos
turras, apesar de estar assim tão perto de Bissau. Às 06H00 e às 07H00 desembarcaram primeiro os fuzileiros enquanto do navio metralhavam a margem com balas tracejantes (era bonito, parecia fogo de artifício). Por volta das 08H00 desembarcámos nós na praia, tal como os aliados fizeram no dia D, na Normandia, com água pela cintura e com os pés a enterrarem-se no lodo. Mal chegávamos a terra firme, dispersávamos e corríamos a abrigarmo-nos atrás das árvores e nas depressões do terreno mais propícias. Mas não houve novidade alguma, pois também lá não havia os terroristas que, segundo as Informações, era costume estarem sempre por ali alvejando qualquer embarcação que se aproximasse. O local chama-se
Jabadá (Mafra no código da operação) e forma nessa zona uma espécie de promontório conhecido precisamente por Ponta de Jabadá.
Começamos então a penetrar para o interior, em manobra conjunta com mais quatro Companhias que vinham de sul e, com dois destacamentos de fuzileiros (o equivalente a duas Companhias de Infantaria) que progrediam paralelamente a nós. Por volta das 04H00 da tarde chegámos à tabanca que era o nosso primeiro objectivo, pois era lá que supostamente se refugiava um antigo grupo de
turras. Fizemos o envolvimento (a mim calhou-me o lado esquerdo) e, depois de termos disparado dois ou três tiros de bazooka como medida dissuasora, avançámos em pequenos grupos isolados. Mas não havia ninguém em toda a aldeia, tudo deserto, apenas porcos e galinhas que esvoaçavam assustadas. Cabras presas a estacas berravam desalmadamente. Os soldados atravessaram rapidamente as leiras à volta das palhotas, derrubando as cercas para mais facilmente poderem passar. Houve ainda quem chegasse a ser atacado por um enxame de abelhas, deixado ali, talvez de propósito, mas conseguiram evitá-las a tempo.
Não se tocou em nada e atravessando a aldeia chegámos a um descampado mesmo na margem da bolanha onde resolvemos acampar para passar a noite que se aproximava rapidamente (às 18 horas já é escuro). Formámos um círculo, aí com cem ou cento e cinquenta metros de diâmetro, e preparámo-nos para ali nos acomodarmos o melhor possível. Eu, o capitão e quase todo o grupo de comando reunimo-nos no centro, junto de uma árvore bem grossa. Escusado será dizer que estávamos ainda todos encharcados e não podíamos alimentar esperanças de secar a roupa durante a noite, pois a chuva continuava a cair.
Foi a maior noite da minha vida.
Cansados e cheios de frio, mesmo assim, quando já cabeceávamos de sono, os malditos mosquitos não nos deixavam dormir atacando-nos como loucos furiosos, entrando pelos ouvidos, nariz e boca! Nessa noite ninguém dormiu. E quase ia havendo uma desgraça, pois uma manada de vacas que por ali andava à solta, resolveu passar por cima de nós, procurando certamente o habitual local onde se recolhia à noite nas cercanias da aldeia. Inacreditavelmente ninguém entrou em pânico e eu lá andei a fazer de
cow-boy à força (sem cavalo) a assobiar baixinho para encaminhar as vacas o melhor que podia para fora do nosso acampamento. Houve ainda quem não resistisse a efectuar alguns tiros à toa, pretendendo ver alguns vultos suspeitos a rondar as palhotas. Provavelmente alguém que, a coberto da noite se arriscava a regressar à aldeia para recolher algumas coisas que não tinha podido levar na precipitação da fuga que, com certeza, antecedera a nossa chegada.
De manhã foi a destruição total da tabanca, deitando-se fogo a tudo, cortando as bananeiras e abatendo as perto de cem vacas, a tiro de G-3. As cabras e os porcos eram mortos mesmo à cacetada.
O resto do dia foi preenchido com o percurso de regresso ao ponto de partida. Encontrámos as Companhias que vieram do Sul e fez-se então uma grande batida a toda aquela zona. Soubemos depois que os nativos daquela região tinham ido entregar-se à protecção da guarnição de Tite, prometendo não auxiliar mais os
bandidos, como eles chamam aos
turras, tal o medo que esta concentração de tropas lhes causou.
O reembarque nas LDM’s é que foi demoradamente trágico, com toda a gente impaciente por regressar, mas sem encontrar maneira de sair dali. A maré tinha subido de tal modo, que só podíamos alcançar as lanchas com água pelo pescoço, pois as margens cobertas pela densa vegetação do
mangal não permitiam a suficiente aproximação. Alguns de nós tiveram mesmo de ir a nado.
E chovia sempre sem parar.
Regressámos a Bissau às 18H30 de quarta-feira, cansadíssimos (mais do que da outra vez), apesar de a operação ter durado menos tempo e ter tido menos perigos que as anteriores.
Tomei banho e o sabão até custava a fazer espuma. Jantei mesmo sem fazer a barba e caí na cama como um pedregulho de meia tonelada.
Bissau, 27 Ago. 1964
São nove horas da noite e vou ainda aproveitar para vos escrever, pois amanhã de manhã fecham as malas do Correio.
Já passaram quase quatro meses.
Sei que dentro em pouco direi que já passaram seis, depois dez… e, finalmente começarei a contar os meses que faltarão.
A guerra continua na mesma, fria e tensa. Não acredito que tenha alguma coisa de comum comigo. Apenas sei que a experiência que estou a viver será útil talvez para quando for velho ter muitas histórias de aventuras e guerreiros antigos para contar aos meus netos se os chegar a ter.
Ando um bocado falho de memória. Talvez seja da humidade que fez criar bolor no meu cérebro. Sabiam que aqui a percentagem de humidade do ar ronda os 96%?
As chuvas caem agora com mais intensidade e sempre que saio para o mato é rara a vez que não regresso todo encharcado, da cabeça aos pés. Mas mesmo assim, ainda não me constipei.
Bissau, 08 Set. 1964
Na tarde de quarta-feira partimos para mais uma operação. Esta chamava-se operação "
Dedal" e dela só regressámos no domingo seguinte no final do dia. Vim todo picado pelos mosquitos e tive de tomar dois comprimidos para a comichão que me fizeram muito sono.
A operação realizou-se de novo na outra margem do rio Gêba, mas agora mais para o interior, numa península defronte de
Porto Gole. Como de costume, foram connosco várias Companhias. A missão consistia em fazer uma batida a mais completa possível naquela zona, destruir todas as povoações e tentar capturar o maior número de elementos inimigos e material que encontrássemos. Tínhamos uma lista com mais de cinquenta nomes que, caso fossem feitos prisioneiros, nem era preciso interrogar, podiam ser logo abatidos ali mesmo no local.
Desta vez a minha Companhia dividiu-se e cada Pelotão (ou Grupo de Combate, como lhe chamam agora, por ter mais uma Secção de armas pesadas, com um morteiro de 60 mm e uma bazooka do tempo da
Maria-Caxuxa) progredia sozinho por sua conta e risco. A mim calhou-me a ala direita e tive mais sorte que os outros, pois desloquei-me muito menos e passei quase dois dias inteiros estacionado num local perto da margem do rio para impedir a fuga daqueles que, querendo escapar às nossas tropas, procurariam refúgio mais a Sul. A noite de quarta para quinta-feira foi dormida a bordo do navio que nos transportou. Desembarcámos às 09H00 da manhã de quinta-feira e logo depois cada qual foi para seu lado.
A primeira povoação que encontrámos estava abandonada, pois já nos tinham pressentido na noite anterior e tinham fugido. Queimámos tudo e matámos todo o gado que havia. Mais adiante encontrámos duas cabanas escondidas numa zona de mato mais cerrado e com indícios de servir para ponto de reunião ou para aquartelamento de algum pequeno grupo armado. Numa delas estava uma granada de mão colocada tão à vista que deu logo para desconfiar. Mandei que todos se afastassem e disse ao furriel especialista em minas e armadilhas que fosse investigar. Era de facto uma armadilha um pouco tosca mas para a qual teríamos de tomar muita atenção, pois a cavilha de segurança da granada estava presa a um fio que no outro extremo ia prender-se a um tronco espetado no chão da cabana. Assim se qualquer um de nós descuidadamente a agarrasse e levantasse do chão ela rebentaria imediatamente causando-nos graves danos certamente. Com o credo na boca rebuscámos tudo, o mais cuidadosamente possível e encontrámos, nas redondezas, uma caixa de madeira com mais de duzentas munições variadas e ainda três granadas de tipo desconhecido. Na caixa estavam pintadas várias palavras e indicações que pareciam ser russas ou checas.
Com a febril sensação de quem está na pista da
arca do tesouro dali para a frente esquadrinhámos palmo a palmo toda a mata à medida que progredíamos. Mas com muito pouco proveito com grande pena nossa. Só mais à frente, noutra povoação abandonada, é que se encontrou uma velha carabina de carregar pela boca, o vulgar
canhangulo deitado fora por alguém que não se queria comprometer, pela certa.
Quando chegou a noite (de quinta para sexta-feira) preparámo-nos para dormir uma noite mais descansada, na orla da mata que limitava a imensa bolanha que tínhamos vindo a rodear. No meio da escuridão tentando não dar a perceber a nossa presença, improvisámos o melhor que podíamos os locais para passar a noite. Mas um dos soldados, inadvertidamente, encostou-se a um pequeno montículo julgando ter achado ali um óptimo travesseiro mas que mais não era do que um morro de
bagabaga, formigueiro repleto de furiosos insectos que, perante o perigo iminente de uma invasão por um ser estranho, atacaram inesperadamente o intruso com todas as forças das suas mandíbulas. Quando todos nós já deslizávamos nas asas de Morfeu, acordámos de repente com uma barafunda e uma gritaria tais que mais parecia que o acampamento tinha sido atacado por inimigos sanguinários que a coberto da escuridão nos queriam degolar.
Quando consegui vislumbrar com a pouca luz que o reflexo da bolanha deixava chegar até nós, o corpo do soldado que desesperadamente se esfregava no chão arrancando toda a roupa para se poder ver livre daqueles furiosos insectos, não sabia se havia de rir ou ter um ataque de fúria perante aquela cena caricata que deitava abaixo todas as medidas de segurança que procurámos ter para não denunciarmos a nossa presença. Com vontade de lhe partir a cabeça à coronhada para o fazer calar, mesmo assim lá consegui acalmar os ânimos e aos poucos restabeleceu-se o silêncio. Dali para a frente a sorte estava lançada, só poderíamos beneficiar dela se o inimigo assim o permitisse.
Mais ninguém conseguiu voltar a dormir naquela noite, esquadrinhando as sombras reflectidas nas águas da bolanha, com medo de tudo e de nada.
Na manhã seguinte continuámos a progressão conforme estava planeado e no meio de um caminho largo e com aspecto de ser muito movimentado deparámos com uma pistola de fabrico checo ainda com quatro balas no carregador. Certamente mais uma que foi abandonada na precipitação da fuga. Foi talvez o nosso mais valioso achado, a que o capitão chamou logo seu…
Continuando sempre em ligação rádio com o comando da Companhia, acabei por me instalar num sítio à margem do rio Corubal (um afluente do Gêba), local onde aguardei até ao reembarque no domingo de manhã. Fiquei ali, portanto, também a proteger a retirada. Como não dormia há duas noites já adormecia de pé, encostado às árvores. Mas nessa noite dormi bem, pois até tivemos tempo para fazer camas com troncos cruzados, cobertos de capim e, com as capas impermeáveis (que desta vez não nos esquecêramos de levar) improvisar uns toldos para nos abrigar da chuva. Fizemos fogueiras e assámos galinhas que, temperadas com os caldos das sopas instantâneas das rações de combate, ficaram uma delícia. Os mosquitos, miraculosamente, resolveram não aparecer nessa noite e dormimos regaladamente, sem nos lembrarmos do inimigo, como se estivéssemos no Paraíso.
O sábado passou-se ali, parados sempre no mesmo sítio, enquanto aqueles que tinham ido pelo lado esquerdo, faziam batidas ao Norte para empurrarem os
turras, se os houvesse, para o nosso lado. Felizmente não demos pela presença de ninguém. Eu, também, tinha sempre o cuidado de mandar acender fogueiras para lhes assinalar a nossa presença e lhes dizer que era escusado virem por este lado…
Parece que me perceberam e não tive qualquer problema.
Os restantes pelotões foram chegando nos dias seguintes mais ou menos estafados e com mil histórias para contar, mas também de mãos a abanar. Apenas o último, encontrou uma Mauser e algumas munições diversas. E como também tinham encontrado, num acampamento abandonado, um grande barracão coberto de folhas de zinco, aproveitaram e carregaram esse material que ainda estava em bom estado, depois de destruírem todo o resto. Foi uma sensação curiosa e ao mesmo tempo hilariante, vê-los chegar, em fila indiana, carregando, cada soldado, uma folha de zinco à cabeça, como laboriosas formiguinhas a acartar mantimentos para o ninho.
Este último dia foi porém o mais movimentado e atrapalhado de todos.
Como de costume, pela manhã chegou a LDM dos fuzileiros que trazia de Bissau os abastecimentos. O oficial que a comandava, o Tenente Silva, meu conhecido de anteriores
passeios náuticos, veio logo ter comigo todo entusiasmado com uma ideia que tinha tido. Pouco antes de atracar avistara umas vacas a vaguear junto à margem, bem perto dali.
E a ideia era a seguinte: se pudesse meter algumas daquelas vacas dentro da LDM, podia levá-las para Bissau, onde, vendidas para a Messe, dariam de certeza bom lucro. Só que precisava que eu lhe emprestasse alguns homens, dois no mínimo, para o ajudar a metê-las dentro da LDM.
Embora eu estivesse alertado para não me movimentar fora das áreas que me estavam estipuladas no plano de acção, ingenuamente acreditei que nada de mal poderia acontecer e cedi dois homens que se ofereceram como voluntários, o José Figueiredo, de alcunha o
Braga-1 e o Alberto Carlos, o
Braga-2.
Só que, como sempre acontece, o que pode correr mal, acaba sempre por correr mal.
Quando a LDM encostou no local onde tinham sido vistas as vacas, em vez de vacas, do meio do capim, levantaram-se de súbito dois supostos
turras que desataram a fugir. Os nossos bravos soldadinhos vão logo a correr atrás deles, como loucos. Acontece que por acaso, estava mesmo a passar por ali um avião T6 que patrulhava a zona e detectou um movimento no solo que lhe pareceu suspeito. Tendo rapidamente entrado em contacto com a base, certificou-se que naquela zona não era previsto estar a nossa tropa, portanto só poderia ser o inimigo e, sem hesitar dispara dois rockets sobre o alvo.
Resultado: o inimigo desapareceu como fumo, deixando os meus dois soldados deitados no capim a gemer, feridos com estilhaços nas pernas.
Guardei sempre em meu poder uma cópia do relatório oficial desta operação que se tornou de bastante utilidade quando, muitos anos mais tarde, um desses soldados se lembrou de requerer do Exército uma pensão por ferimentos em combate. O que só conseguiu graças à existência daquele documento, única prova que restou para comprovar o acontecido. Nem no hospital de Bissau havia qualquer registo. Bom e, no relatório também não apareciam as vacas, felizmente
Depois foi a grande confusão. O capitão da nossa Companhia, alertado pela rádio, não sabia de nada e não compreendia como é que poderiam estar soldados dele naquela zona. Todos berravam, pedindo socorro para os feridos, os altos comandos exigiam relatórios e toda a gente julgava estar a ser submetida a uma grande ofensiva inimiga, indignada também pela incompetência da aviação que não sabia distinguir as nossas tropas, do IN.
Mas só eu e o oficial da Marinha sabíamos o que de facto se tinha passado por causa de duas vacas.
Quando as coisas se acalmaram e os feridos foram levados finalmente para o hospital de Bissau, ainda conseguimos esboçar um sorriso de alívio depois de tamanho susto. Os feridos não tinham sido atingidos com gravidade e o pior foi-se esvanecendo.
Mas o capitão preveniu-me logo: os altos comandos nunca poderiam vir a saber a verdade senão a confusão iria ser muito pior.
Desde aí, entre mim e o Tenente Silva, estabeleceu-se uma longa amizade, nascida de uma cumplicidade num delito, embora fortuito, do qual nos sentíamos igualmente culpados, sem no entanto sabermos quem era o mais culpado dos dois.
Apesar de pertencermos a ramos diferentes das Forças Armadas e, na Guiné nunca mais nos termos encontrado, mantivemos contacto por escrito durante largos anos, até que lhe perdi o rasto depois dele ter emigrado para França
Falta ainda referir que, na noite anterior, os fuzileiros tinham feito uma emboscada na outra margem do rio Corubal e tinham apanhado uma metralhadora pesada, duas metralhadoras ligeiras, várias espingardas e pistolas. Parece que um grupo
terrorista, pressentindo que havia barcos no rio, passou de Uána Porto para a outra margem para os flagelar de mais perto. Mas foram cair direitinhos na armadilha que os fuzileiros tinham armado.
Chegados a Bissau, no domingo à tarde, talvez até por isso, estava o cais cheio de gente para nos ver chegar. Foi um espectáculo inédito (quase surrealista) apreciar o nosso desfile que mais parecia uma parada de vagabundos sujos e famintos, sem qualquer ponta de brio militar. Mas até o Brigadeiro, Comandante Militar, apareceu para nos cumprimentar! Tudo fogo-de-vista, claro, para encher os olhos do Zé Pagode, pois no dia seguinte, surgiram no nosso aquartelamento uns capitães de outras unidades dizendo que tinham ordens para levar as tais chapas de zinco. Refilámos de tal maneira que foram constrangidos a retirar ordeiramente.
Existem sempre os eternos figurões que aproveitam todas as oportunidades para tentar enfiar o barrete ao próximo. Então aqui na tropa é demais. É ver quem mais se pode aproveitar.
O tempo continua de chuva, embora sejam só aguaceiros espaçados.
É a altura dos
tornados que provocam quase sempre estragos no porto de mar, afundando umas lanchas e avariando outras.
Comprei um rádio a pilhas. É um Sony com ondas médias e curtas que, por 1.450$00, me vai ajudar a passar o tempo entre as
guerras.
Bissau, 15 Set.1964
Não tenho saído para o mato pois o Cardoso é que o tem feito, com o meu Pelotão. Coisas do nosso Capitão que, é para o Cardoso se ir treinando…
Só no outro dia é que saí para ir prender, por ordem do Administrador do Concelho de Bissau, um sujeito que seria um
agente terrorista, escondido aqui numa tabanca perto. Creio que a tarefa dele era angariar adeptos e depois enviá-los para o mato.
Meteu-me pena, pois ele não nos esperava, quando entrámos rapidamente pela aldeia dentro. Ficou a tremer e só teve tempo de gaguejar qualquer coisa que, creio ter sido uma despedida para os outros.
Como vêem até isto nos obrigam a fazer, papéis de Pide! Não tive dificuldade nenhuma com ele, pois nem reagiu. E fui eu lá, com um jeep e uma camioneta carregada com 14 homens armados para trazermos mais um
borrego para a matança! Geralmente são raros que sobrevivem aos interrogatórios. É sempre a teoria do
mais um, menos um…
Só queria ver isto acabado!
Bissau, 23 Set. 1964
Chegámos no “
Vouga”, ontem à noite. Tudo ainda me parece um pesadelo que desejaria não ter vivido. A operação “
Tornado”, como se chamava, foi terrível. A região era a pior que já vi, toda semeada de bolhanhas, completamente alagada pela chuva que tem caído incessantemente. Não era terra nem água mas sim uma enorme região mergulhada em lama líquida. Uma lama viscosa que, nos prendia como tenazes. Quando algum de nós mergulhava até à cintura, eram precisos três a puxá-lo para ao fim de muitos esforços o arrancarem de lá sem botas e com as calças em farrapos.
Localização: zona Sul, entre
Cacine e a fronteira com a República da Guiné.
Saímos daqui no nosso habitual contratorpedeiro “
Vouga”. É o único navio grande que está cá, tendo chegado agora um outro que, o vem substituir, a fragata “
Diogo Gomes”.
Chegámos diante da famigerada
Ilha de Como, ao fim da tarde. Pelas nove da noite passámos para lanchas de desembarque. O Carvalho na mais pequena, a LDP 101 e eu e o Castro, o capitão e o grupo de comando da Companhia, na maior a LDM 202.
Subimos o rio Cumbijã e desembarcámos finalmente em terra, pelas seis da manhã do dia seguinte. Se é que aquilo se podia chamar terra. Era só água, lodo e o entrelaçado dos ramos do mangal que delimitava as margens. Atravessada essa primeira barreira, estendia-se à nossa frente um enorme arrozal, tendo como pano de fundo um formidável maciço de palmeiras e mato cerrado. Dispersámo-nos o mais possível e fomos avançando com todas as cautelas.
Desta vez foram alguns grupos pequenos que nos atacaram com tiros inofensivos, fugindo sempre quando tentávamos apanhá-los.
Já a uns 200 metros da mata ouvimos as primeiras rajadas de pistola-metralhadora, de um grupo de cinco ou seis que deviam estar empoleirados no cimo das palmeiras. Sempre o mais abaixados possível e fazendo fogo de vez em quando, para nos protegermos, lá nos fomos aproximando cada vez mais. Mandámos duas ou três granadas de morteiro e uma rebentou mesmo na orla das árvores. Após meia hora de tiroteio e vendo talvez que a nossa manobra de envolvimento os pudesse vir a dominar, fugiram e nunca mais ouvimos as famosas rajadas de pistola-metralhadora, a tão característica PPSH, a
costureira, pois faz um matraquear que lembra uma máquina de costura.
Depois deste primeiro incidente, continuámos a progressão atravessando a mata até encontrarmos uma estrada. Uns metros mais à frente fomos novamente alvejados por vários tiros que nem soubemos de onde vieram. Ninguém ficou ferido mas como não respondemos, tornaram a fugir, deixando-nos o caminho livre. A táctica deles foi sempre a de utilizar grupos pequenos de 5 ou 7 que, rapidamente se deslocam para qualquer lado, flagelando e fazendo parar Companhias inteiras. Como não os conseguimos ver, fogem sempre que lhes apetece. São extraordinariamente ágeis, pois por duas vezes, dois grupos deles (alguns até já usam farda camuflada) iam tropeçando nas nossas posições, mas logo que davam por isso, desapareciam com tal rapidez que pareciam eclipsar-se. Mesmo assim creio que matámos alguns.
Esta operação durou três dias, sábado, domingo e segunda-feira. O último dia foi o pior, pois choveu sempre, ininterruptamente. Actuaram mais de 900 homens e a missão que nos coube consistia em formar uma linha de cerco à volta de uma mata onde se acoitava o inimigo. Ali parados, enrolados nas capas impermeáveis que nos abrigavam da chuva que não parava de cair, por volta do meio-dia já tiritávamos de frio. Mas o pior, o que mais custou, foi o lodo e os pântanos intermináveis que tivemos de atravessar, sem qualquer esperança de amparo, sem qualquer protecção, receando a morte que nunca se faz anunciar.
Como consolo valeu-nos a habitual e sempre simpática recepção que tivemos no regresso, quando embarcámos no “
Vouga”, por parte dos nossos já conhecidos companheiros destas lutas, os oficiais, os sargentos e os marinheiros daquele barco de guerra.
Tendo regressado na terça-feira à noite, bastante cansado, isso não me impediu no entanto de, após um rápido banho, fazer a barba e vestir a roupa civil, ir com os outros a um restaurante da cidade, o “
Tropical”, comer a tradicional omeleta de camarão, o bife com batatas fritas e um ovo estrelado, tudo regado com a bela cerveja Sagres com que todos, Exército e Marinha, nos habituámos a confraternizar, cimentando amizades, tentando esquecer os horrores e os malefícios desta guerra.
Desta vez, quando caí na cama, parecia o rochedo de Gibraltar desabando no mar.
Descansámos dois dias, de licença e, só hoje é que fui ao Quartel ver como é que paravam as modas…
Comprei uns chinelos para a mãe e já os mandei pelo Correio. Oxalá goste! Ultimamente tem havido muita falta de aviões, de maneira que não sei quando é que receberão a encomenda.
__________
Nota de CV:
Vd. postes da série Cartas de:
14 de Agosto de 2009 >
Guiné 63/74 - P4821: Cartas (Carlos Geraldes) (1): Apresentação e Prólogo
e
21 de Agosto de 2009 >
Guiné 63/74 - P4848: Cartas (Carlos Geraldes) (2): 1.ª Fase - Maio a Julho de 1964