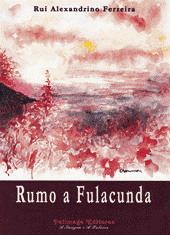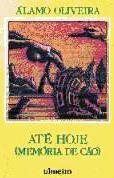1. Caros amigos:
Estou de regresso das minhas férias e tenho visto no blogue a excelente iniciativa do Jorge Santos em divulgar a bibliografia da guerra. Achei, por isso, que podia dar um contributo com mais uma achega para esta bibliografia: "Uma campanha na Guiné, 1965/67: hiatória de uma guerra", de Manuel Domingues.
Trata-se de uma edição do autor. Conheci-o quando ele teve a amabilidade de oferecer um exemplar da obra à biblioteca da Delegação do Norte da Associação 25 de Abril e nos enviou alguns exemplares para vendermos, com uma boa percentagem para os nossos fundos (sempre tão no fundo que mal se vêem...).
 Como ele próprio diz na "Apresentação", faz um historial do BCAÇ 1856, que esteve no Leste, Sector L3:
Como ele próprio diz na "Apresentação", faz um historial do BCAÇ 1856, que esteve no Leste, Sector L3:(i) o Comando e CCS sedeados em Nova Lamego [Gabu];
(ii) as companhias operacionais em Madina do Boé (CCAÇ 1416, com um destacamento em Béli)), em Bajocunda (CCAÇ 1417, com um destacamento em Copá) e em Buruntuma (CCAÇ 1418, com um destacamento em Ponte Caiúm).
Mas o que acho mais interessante é que ele dá, neste livro, voz a vários combatentes:
- "Diário de um combatente", por um desconhecido, que mostra ser poeta, da CCAÇ 1417;
- "Afinal o que é Madina do Boé?", por Jorge Monteiro, Cap Mil da CCAÇ 1416;
- "Agruras de um sapador", por João Silvestre Carvalho, Fur Mil sapador da CCS;
- "Retalhos de uma campanha", por António Sousa Madureira, Fur Mil da CCAÇ 1416;
- "Aconteceu em Madina do Boé", por José Miranda Alves, 1º Cabo da CCAÇ 1416;
- "Recordações", por António Manuel Santos Reis, radiomontador da CCS;
- "Aspectos caricatos de uma guerra", por António Araújo, da CCAÇ 1416;
- "Coisas que o capelão passou na Guiné", por Mota Tavares, capelão do BCAÇ 1856 (mais um a quem disseram: "Senhor capelão, o senhor sabe por que está aqui? Veja lá como me fala" - diz ele que "fiquei a saber que a PIDE e a minha história de revolta cristã tinham chegado ao Batalhão primeiro que eu");
- "Uma amizade que o tempo não apagou", por Fernando Pereira, Fur Mil da CCAÇ 1417 (o menino Óscar Baldé, que foi quando crescido lutador pela liberdade e que, alcançada esta, se licenciou e foi Director-Geral das Pescas da Guiné-Bissau);
- "Epílogo: valeu a pena?", pelo próprio Manuel Domingues, que voltou à Guiné em 1981, que sentiu a dor e o desencanto por aquele povo não estar agora como todos desejávamos, melhor e mais feliz.
Só por estes testemunhos directos e pessoais vale a pena ler.
2. Apresentação da obra pelo próprio autor (incluída na edição):
«A ideia deste trabalho surgiu perante a constatação de que, passadas três décadas e meia sobre o fim da comissão do BCAÇ 1856, os encontros de confraternização, que tiveram origem num despretensioso almoço levado a efeito em Luanda em 1972, onde o acaso nos juntou a meia dúzia de elementos da mesma Unidade, continuam a reunir cerca de duas centenas de pessoas, incluindo filhos e netos dos antigos Combatentes.
"Todos os anos muitos destes elementos fazem centenas de quilómetros para se encontrarem com antigos camaradas e recordar tempos idos. Este Encontro Geral é ainda completado por outros a nível de companhia ou de região, num exemplo notável de manutenção de laços adquiridos na flor da idade e que nenhum obstáculo tem conseguido quebrar.
"Nesses encontros, ao ouvir relatos e histórias, apercebemo-nos dos efeitos da erosão que o tempo decorrido provocou, tornando confusos e imprecisos os limites do contexto em que tiveram lugar.
"Assim entendemos que seria útil sistematizar aspectos desta experiência colectiva, referindo os factos principais ocorridos durante a existência do BCAÇ 1856, e sobretudo os acontecimentos que rodearam a Comissão de Serviço na Guiné Portuguesa, mediante uma inventariação rigorosa dos mesmos.
"No entanto, e porque que cada um viveu os acontecimentos de forma diferente, era importante que antigos componentes da nossa Unidade descrevessem as suas memórias face à vivência dessa situação de guerra e aos valores que os guiavam como jovens da década de sessenta, traçando desta forma um quadro das emoções e sentir humanos que uma simples cronologia dos factos não podia conseguir. Só com estes dois aspectos complementares se poderá reconstituir e interpretar o ambiente geral e o contexto em que decorreu aquele período tão marcante das nossas vidas.
"Os objectivos são simples e claros:
"1°- Facilitar o enquadramento das nossas memórias pessoais no trabalho colectivo desenvolvido pela Unidade de que fizemos parte, podendo explicar aos mais novos em que consistiu o esforço anónimo, e por vezes mal compreendido, de muitos da nossa geração para um período importante da história de Portugal;
"2°- Ressalvar a nossa própria vivência porque nem sempre nos identificamos com a generalização de factos reais ou imaginários contados por outros;
"3°- Recordar aqueles 12 companheiros que na flor da juventude pagaram com a vida o cumprimento da sua Missão na Guiné e mostrar a nossa solidariedade com os que foram marcados por traumas que os acompanharão durante a sua existência.
"Embora não seja nossa intenção analisar aqui as causas da guerra em que esta Campanha se inseriu, não podemos deixar de constatar que neste conflito a explicação assenta na clássica trilogia: cegueira, ou falta de visão estratégica, surdez ou insensibilidade à voz da razão e do bom senso, e mudez ou ausência de diálogo, como instrumento de resolução de divergências. Num ambiente de impreparação geral para o tipo de guerra em causa, emergia a única palavra de ordem possível: AGUENTAR.
"A nível da superstrutura político-militar era notória a falta de visão estratégica dos decisores acabando por arrastar a guerra durante treze longos anos e que culminou com a descolonização exemplar. Neste contexto a interrogação dos militares do BCAÇ 1856 no final da Comissão de Serviço, sobre a utilidade do seu esforço, fazia todo o sentido.
"Os protagonistas relatam dificuldades sentidas desde o início, não só devido à sua impreparação e desconhecimento da realidade, mas também à de muitos dos intervenientes no processo da guerra, e às falhas do sistema nos aspectos de programação, logística, meios disponibilizados e sensibilidade às condições existentes no terreno operacional. São referidos ainda conflitos que algumas hierarquias tentavam camuflar ou resolver através do RDM [Regulamento de Disciplina Militar].
"Igualmente somos levados a concluir que na fase pós-libertaçao tudo se resume na mesma trilogia. O processo de aprendizagem do uso da independência não tem sido fácil nem pacífico, quer nas antigas possessões portuguesas, quer na generalidade dos territórios descolonizados.
"A falta de preparação de elites e as interferências externas são duas das principais causas das dificuldades que afectam os novos países. No caso da Guiné as lutas internas e a ambição desmesurada dos dirigentes tem desbaratado o enorme potencial oferecido pela comunidade internacional, colocando as populações numa situação de extrema penúria e o País entre os dez mais pobres do Mundo. A inexistência de um sentimento geral de nação entre os vários grupos étnicos nunca foi resolvido pelo PAIGC, que tentou cativar os habitantes da Guiné para o conceito aglutinador de libertação .
"Obtida esta, os antigos combatentes instalam-se no poder e progressivamente vão-se afastando dos restantes grupos, que constituem a maioria da população.
"O regime torna-se autoritário, senão ditatorial, de partido único. Os benefícios da libertação só chegam a alguns, enquanto a grande maioria contínua a viver na mais extrema pobreza. A corrupção e o despotismo generalizaram-se. Foi esta realidade que pudemos constatar, que nos levou a referir o caso de alguém que, não pertencendo aos que utilizaram armas contra o colonizador, tem uma visão diferente da seguida pelos antigos guerrilheiros.
"O trabalho que a seguir se apresenta, não pode ser encarado como uma obra acabada, mas antes como um estímulo para que mais se decidam a compartilhar as suas memórias e vivências. A linguagem e os critérios de análise utilizados na descrição da Campanha basearam-se em parâmetros vigentes na época em que ocorreram e foram vividos, recusando-se qualquer avaliação fora desse contexto que ditou o comportamento dos mais de 670 combatentes que integraram o BCAÇ 1856. Não pretendemos justificar o que fizemos mas apenas relatar os factos e a forma como os vivemos. Temos direito à nossa memória, que não deve ser apropriada por ninguém.
"Assim, e em resumo, estruturamos o trabalho da seguinte forma:
"- Na 1ª Parte, da nossa inteira responsabilidade, enumeram-se, por ordem cronológica, e com o maior rigor possível, os factos mais importantes da existência do Batalhão, desde a sua constituição em 16 de Janeiro de 1965, até ao desembarque no cais de Alcântara, em Lisboa, em 21 de Abril de 1967, bem como dados informativos relativamente à Guiné, no período em que decorreu a Comissão de Serviço do BCAÇ 1856. Em cada fase importante do BCAÇ 1856 tentamos analisar alguns dos factores e condicionalismos que enquadraram a actividade operacional e comportamental dos elementos que o integraram.
"- Na 2ª Parte, os intervenientes na guerra evocam factos e emoções então vividos e que o decorrer do tempo não apagou. Inclui histórias relacionadas com o ambiente de guerra e memórias desde factos do dia a dia do combatente até pequenos incidentes que o tempo parece ter reduzido à insignificância ou tornado caricatos, mas que na altura apareciam como importantes a quem os viveu.
"Mantivemos, no essencial, a forma como cada um entendeu descrevê-los, pelo que a verdade pode coexistir com o imaginário e o rigor pode atenuar-se com o passar das décadas. No entanto, e também por isso, aquilo que é relembrado foi o mais importante para cada um.»
3. O autor, Manuel Domingues:
 (i) nasceu em Castro Laboreiro, em 1941;
(i) nasceu em Castro Laboreiro, em 1941;(ii) frequentou o Liceu da Póvoa de Varzim e o de Braga;
(iii) fez os estudos universitários e um curso de pós-graduação em gestão financeira na Universidade Técnica de Lisboa;
(iv) como bolseiro do Governo Francês realizou uma pós-graduação em Desenvolvimento Económico, em Paris;
(v) dirigiu um Centro de Formação Internacional da UNESCO.
(vi) Incorporado no serviço militar, frequentou o Curso de Rangers e integrou o BCAÇ 1856;
(vii) foi destacado para a Guiné, de 31/07/1965 até 15/04/1967;
(viii) como Alferes Mil foi Cmdt do Pel Rec e Informação e desempenhou as funções de oficial de Informações e, durante alguns meses, a de Oficial de Operações com louvor pelo seu desempenh
(ix) passa à disponibilidade em Maio de 1967 e integra a direcção de um grupo económico multinacional, realizando vários estudos e missões em diversos Países da CEE e no Ultramar Português;
(x) ingressou no Grupo CUF, onde foi consultor especializado em Planeamento a Longo Prazo, Gestão por Objectivos e Organização e Gestão de Empresas, tendo dirigido a reorganização e modernização de grandes empresas e serviços públicos;
(xi) coordenou o suplemento económico do jornal A Capital, as publicações da Associação Comercial de Lisboa - Câmara de Comércio e outras de carácter económico;
(xii) desempenhou vários cargos de Direcção Geral. Foi director do Desenvolvimento Organizacional de grandes empresas e Secretário Geral do Ministério da Agricultura durante 8 anos e da TAP durante 3 anos;
(xiii) conselheiro da Comissão Empresas Administração até à sua extinção em 1995 e expert independente da OCDE;
(xiv) foi Relator do 1° Congresso de Modernização Administrativa, docente universitário e Consultor de Formação durante cerca de 20 anos;
(xv) possui ainda o Curso de Auditor da Defesa Nacional;
(xvi) publicou vários livros e artigos sobre assuntos ligados ao Planeamento e Gestão Estratégica das organizações;
(xvii) está reformado.