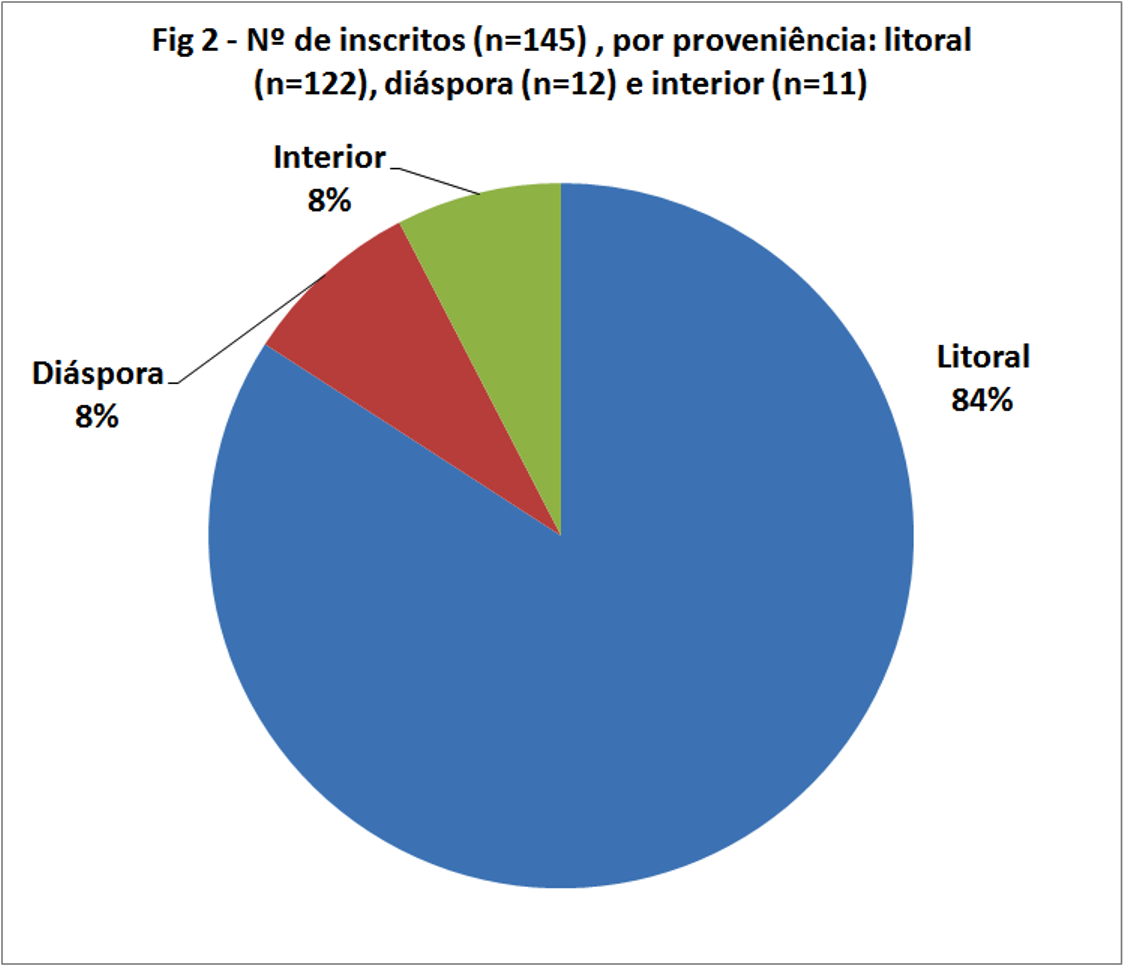1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 13 de Dezembro de 2013:
Queridos amigos,
O ensaio do autor de
“Nó Cego” abrange o passado, o durante e as sequelas da africanização da guerra. Sobretudo para efeitos da pacificação, o exército colonial contava os efetivos das forças amigas; depois a administração colonial contava com os seus regulares nativos e com a eclosão da luta armada, no caso da Guiné, acelerou-se o princípio de que era possível constituir um exército, a lógica de Spínola não excluía um exército “nacional”. A forma como combateu, com heroísmo e tenacidade, resistindo a uma guerrilha motivada e cada vez melhor apetrechada em termos de armamento, lega a compreender o processo de eliminação que se instituiu, e que deixou marcas profundíssimas, nos dois campos, feridas que ninguém sabe sarar.
Um abraço do
Mário
A africanização na guerra colonial:
O caso da Guiné
Beja Santos
O volume intitula-se
“As Guerras de Libertação e os Sonhos Coloniais – Alianças secretas, mapas imaginados”, Maria Paula Meneses e Bruno Sena Martins são os organizadores, o prefácio é de Boaventura de Sousa Santos, Edições Almedina e CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 2013. Na versatilidade dos assuntos tratados, desde o Exercício Alcora até à questão dos retornados, Carlos de Matos Gomes escreve sobre a africanização da guerra, questão de todos conhecida mas ainda com muitos claros-escuros e por vezes sem associação aos casos precedentes na administração colonial. Sobre esse passado, recorda o autor: “Quanto aos aparelhos militares, existia uma tradição de participação de africanos no Exército Colonial português desde a segunda metade do século XIX, para apoiar a penetração no interior de África. O Exército Colonial português estava organizado em unidades de primeira linha, constituídas por contingentes expedicionários enviados de Lisboa e por deportados, e por tropas de segunda linha, com soldados recrutados localmente. Em tempo de conflitos, eram constituídas forças nativas sob o comando de chefes locais fiéis. Estas tropas são a longínqua origem das forças africanas”.
Começou cedo a africanização das forças portuguesas e muito antes do início da guerra colonial. Ao sabor das crescentes dificuldades financeiras e na perceção da exaustão de recursos humanos metropolitanos, que chegara em 1973 aos limites da sua capacidade, acelerou-se a africanização da guerra. O soldado africano era mais barato, adaptava-se melhor que o europeu ao terreno e em muitos casos revelou-se mais produtivo na recolha de informações.
A hierarquia política e militar portuguesa mostraram ceticismo neste processo de africanização, como escreve o autor: “Os setores mais conservadores viam nos africanos potenciais terroristas e, antes de qualquer outra coisa, opuseram-se ou procuraram limitá-lo. Os comandantes militares encararam o processo de africanização das Forças Armadas cada um segundo a sua perspetiva de emprego no respetivo teatro de operações.

Vejamos agora a Guiné e em que se distinguiu o seu modelo de africanização. Enquanto Angola e Moçambique tinham Grupos Especiais e Grupos Especiais de Paraquedistas, Flechas da PIDE/DGS e houve até recurso a catangueses e zambianos, as unidades especiais guineenses eram os fuzileiros e os comandos, unidades de milícia, pelotões e companhias de caçadores, com o governador Schulz foi-se pondo termo às polícias móveis e acelerou-se a formação de milícias e de caçadores nativos como tropas regulares. No vasto contexto das forças africanas, também na Guiné se registou uma grande afinidade entre tais tropas com a identificação política/ideológica com a missão proposta pelo regime de Salazar e Caetano: das milícias aos Comandos Africanos estava-se em guerra contra o intruso, o bandido, o inimigo da etnia, entre outras considerações.
Qual a lógica deste dispositivo? O autor responde “A partir das milícias de autodefesa, foi desenvolvido pelo Estado-maior do general Spínola o conceito de grupos de intervenção de milícias (companhias e pelotões), já não ligados meramente à autodefesa das tabancas mas operando como força étnica de intervenção, enquadrada pelo Comando Geral de Milícias, que dispunha de um centro de instrução próprio.
As Forças Armadas dispunham, como forças especiais, de um Batalhão de Comandos Africanos (Exército), com três Companhias de Comandos, e de dois Destacamentos de Fuzileiros Especiais Africanos (Armada)”.
A africanização da guerra andou também a reboque de projetos políticos distintos, Spínola procurou criar um exército africano “nacional”, estruturado em companhias agrupadas em batalhões, e o autor observa: “A africanização da guerra na Guiné estava ao serviço do projeto político de Spínola de uma comunidade de países e de uma federação de Estados”.
Após a independência, os governantes procuraram desmantelar as unidades militares africanas que os combateram e a seguir eliminá-los. Carlos de Matos Gomes escreve: “A Guiné foi, dos três territórios, aquele em que o contexto se apresentava mais favorável aos vencedores, com o PAIGC vitorioso do ponto de vista militar, e portanto pouco aberto a negociações e compromissos. As forças portuguesas, após uma longa guerra travada em difíceis condições, queriam retirar rapidamente. Mas a Guiné era também o território onde as tropas especiais africanas mais haviam evoluído, a ponto de se constituírem um verdadeiro exército, com grande experiência de combate, representando uma verdadeira ameaça para o novo regime. Consequentemente, este foi impiedoso, localizando, prendendo e executando sumariamente a maior parte dos seus efetivos”.
E em que termos é possível ponderar a relação entre estes efetivos africanos e as forças de guerrilheiros? É esta a última questão vibrante do ensaio de Carlos de Matos Gomes. Os militares africanos na Guiné estariam em clara vantagem relativamente às forças dos guerrilheiros, teriam, pelo menos o dobro dos efetivos. E não há que negá-lo. Em termos de quantidade e até em qualidade (organização, treino, enquadramento, equipamento) eram manifestamente superiores e podiam, no plano puramente militar, ter negado a vitória aos guerrilheiros.
Só que a guerra é antes de mais uma questão política, e o autor tira as suas elações: “O resultado desta guerra é a demonstração eloquente de não haver lugar a vitórias militares na guerra. O resultado da Guerra Colonial portuguesa foi determinado pelas condições políticas em que ela foi travada. Condições políticas internas e externas. Internamente, a guerra tornara-se um fardo insuportável para sectores cada vez mais alargados e mais importantes da sociedade, que se conjugaram nos quadros intermédios das forças armadas, proporcionando-lhe o ambiente e as condições para derrubarem o governo que defendia o colonialismo através dela. Internacionalmente, o colonialismo era, no pós-II Guerra Mundial, uma situação política insustentável. Um continente derrotado e devastado, como era a Europa do pós-guerra, não podia manter colonias contra a vontade e os interesses das potências vencedoras, que apoiaram ativamente a emergência de líderes locais para substituírem os poderes coloniais, na convicção de que aqueles seriam mais fáceis de controlar e de, através deles, obterem maior controlo das riquezas (o que se veio a verificar) ou de ganharem vantagens estratégicas (caso da ex-URSS). Neste contexto, o colonialismo português era duplamente anacrónico”.
____________
Nota do editor
Último poste da série de 9 DE JUNHO DE 2014 >
Guiné 63/74 - P13261: Notas de leitura (599): Relendo um dos escritores obrigatórios da década de 1960: Álvaro Guerra e a Guiné (Mário Beja Santos)