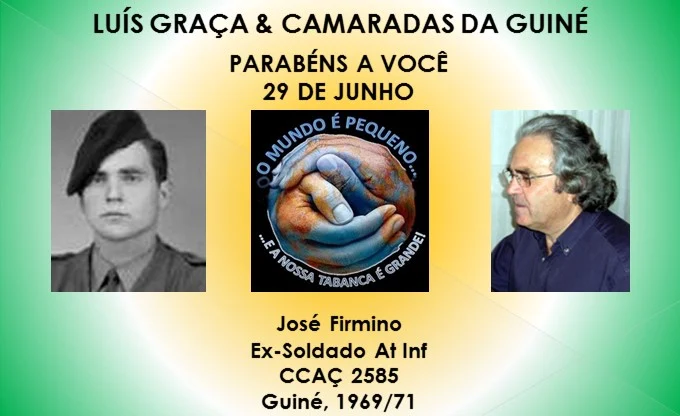1. Em mensagem de 28 de Junho de 2016, o nosso camarada António
José Pereira da Costa, Coronel de Art.ª Ref (ex-Alferes de Art.ª da CART
1692/BART 1914, Cacine, 1968/69; ex-Capitão de Art.ª e CMDT das CART 3494/BART 3873, Xime e Mansambo, e CART 3567, Mansabá,
1972/74), enviou-nos a sua apreciação/resposta ao texto do camarada Manuel Luís Lomba publicado no Poste 16243 para integrar a sua série: "A Minha Guerra a Petróleo".
A Minha Guerra Petróleo (18)
“Resposta ao Manuel Luís Lomba”
C
1. Em mensagem de 28 de Junho de 2016, o nosso camarada António
José Pereira da Costa, Coronel de Art.ª Ref (ex-Alferes de Art.ª da CART
1692/BART 1914, Cacine, 1968/69; ex-Capitão de Art.ª e CMDT das CART 3494/BART 3873, Xime e Mansambo, e CART 3567, Mansabá,
1972/74), enviou-nos a sua apreciação/resposta ao texto do camarada Manuel Luís Lomba publicado no Poste 16243 para integrar a sua série: "A Minha Guerra a Petróleo".
A Minha Guerra Petróleo (18)
“Resposta ao Manuel Luís Lomba”
Começo por informar que não li o livro do Cor. Golias. As considerações que vou fazer têm unicamente que ver com as afirmações do Luís Lomba no
post 16243.
Recordo ao camarada que a História demonstra que Portugal teve sempre dificuldade em se afirmar a no seu espaço geoestratégico e, por consequência, não é verdade que tenha descido da
“glória legada pela gente de rija têmpera de outras eras, a protectorado dos seus principais credores internacionais e que estes sobrepuseram a sua “troika” à governação nacional”. Basta recordar, entre outras, as sucessivas intervenções britânicas ao longo dos tempos, as invasões francesas, etc.
Em qualquer apreciação que se faça é irrelevante que
“Portugal seja o segundo país mais antigo da Europa, terceiro mais antigo do Mundo, todas as suas instituições creditadas de Direito e acreditadas em todas as instâncias internacionais”. Entre países, tamanho não é qualidade e idade não é posto.
Recordaria também que se
“de facto, nem o regime nem o governo eram sancionados pelo povo” haveria que fazer qualquer coisa… especialmente ao fim de 13 anos de “guerra”.
Não sei, ainda hoje, o que seja a
“corporação militar nacional, acusando a sua usura nas guerras de África, destituíra-os, com economia de sangue, de desordens, sem a vacatura nas nossas instâncias supremas e restabelecera de imediato a cadeia de comando das nossas FA”. O texto parece-me confuso e gostava de ser esclarecido neste ponto…
Ignoro a existência de um plano B, mas sempre considerei que se fosse realizada uma tentativa de cessar-fogo entre os beligerantes no terreno, as coisas iriam esclarecer-se a nível internacional, primeiro, e nacional, depois. Já disse, noutro local, que as conversações directas Spínola-Cabral poderiam ter poupado muitas vidas e recursos. Não concordo, portanto, com a ideia do PAIGC de só negociar com o governo português. Admito que eu não seja um português “de rija têmpera”, mas não vale a pena continuarmos no campo das hipóteses. De qualquer modo, há que ter em conta que o país era só um e que havia os antecedentes da revolta da Madeira/Guiné/Cabo Verde que seria uma hipótese a não descartar.
Ignoro, mas admito que o sob o
“impulso da arma de Transmissões da Guiné, os primeiros militares a tomar conhecimento do sucesso total, o MFA de Bissau executou esse golpe por conta própria, na manhã do dia 26, decapitando o alto comando militar, secando a sua fonte de informações, pela dissolução da PIDE/DGS, à revelia da orientação do MFA central e das ordens do seu supremo comando”. Para mim, o decapitar do comando militar, lá como cá, era intuitivo. Quanto à PIDE, não creio que ela tivesse campo político para tomar qualquer atitude de oposição, por falta de apoios no local, assim como também não estou a vê-la a pesquisar activamente informações junto do In ou ex-In e a ir diligentemente fornecê-las ao MFA.
O favorecimento do IN surgiria, mais tarde ou mais cedo com a independência – e não havia outra solução – a menos que as unidades estacionadas na PU pretendessem, pelo menos em grande parte, continuar com a luta. Não creio que as NT admitissem tal hipótese, não vejo a finalidade, nem as possibilidades de êxito, mas o camarada lá saberá no que se fundamenta.
É lapidar afirmar que
“a quebra do moral e da disciplina são recompensas ao IN e foi desde sempre comum ao soldado, profissional ou do contingente geral e que um golpe daquela natureza, em tão sensível teatro de guerra, seguramente não buscava o contrário”. Nem outra coisa era de esperar! Tem sido sempre assim em todos os países e guerras do mundo. Já afirmei que a tal “Descolonização Exemplar” foi a que foi possível no contexto nacional e internacional (este mais preponderante). Em política, como na guerra, faz-se o que se pode e os outros agentes envolvidos deixam e não o que queremos fazer. Treinadores de bancada, só à noite, na BolaTV.
No que respeita à
“desgraça dos povos colonizados, com os quais Portugal levava 500 anos de compromissos” quero recordar que a expressão colonizados fala por si e que não há ”compromissos” estabelecidos com aqueles a quem colonizamos. A colonização não assenta em compromissos, mas no domínio efectivo de outro povo. A situação actual do nosso país não é de compromisso, mas de domínio. O
“empobrecimento de todos, em favorecimento de terceiros, que nunca derramaram uma lágrima, uma gota de sangue ou de suor, nem pelas gentes nem por aquelas terras africanas” não é para mim, uma preocupação. É uma questão que diz respeito aos guineenses. Com efeito, se combatemos os movimentos independentistas era porque não queríamos “aquela” solução, ou alguém levou a que não a quiséssemos, porventura de modo fraudulento, o que é grave. Não tendo tido força para impor – especialmente a nível local e internacional – o nosso ponto de vista, só temos que aceitar os acontecimentos e actuar em conformidade.
Claro que nos (e a todos nós, penso eu)
“assiste o direito de o “escrutinar(?)” como uma desobediência grave aos seus supremos superiores hierárquicos, o Presidente da República e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, já então legitimados pela circunstância, pelo seu afã de obstar que a Descolonização da Guiné, e, por extensão, a do restante Ultramar”. É uma opinião como outra qualquer.
Os “partidos armados” eram, como é natural, os únicos merecedores de tentar a
“satisfação das utopias que povoavam a cabeça de minorias e das ideologias em moda”. Neste ponto, considero uma injustiça que os que se expuseram e esforçaram para atingir um objectivo (fosse ele qual fosse) tivessem de ser sujeitos a um sufrágio. Gerido e vigiado por quem? Nunca por Portugal que era parte interessada e cujas FA estavam cansadas da situação. Ou ainda haveria portugueses de “rija têmpera” prontos para essa tarefa? Uma tal solução é dar aos que nada fizeram, a possibilidade de participar em qualquer coisa que se obteve com esforço. Depois, com o evoluir da situação interna da Guiné, logo se veria. As maiorias raramente realizaram algo, em momentos difíceis de qualquer país, antes pelo contrário. Quanto à “realidade concreta”, se calhar, se bem observada, seria surpreendentemente diferente da que nos vendiam.
A caixa de Pandora abrir-se-ia sempre e não colou a “imagem de
“república das bananas a Portugal”. Se a Guiné-Bissau
“se transubstanciou em Estado falhado” não é da nossa responsabilidade. Se calhar “as maiorias”, mas de lá, têm uma palavra a dizer… Mas não os portugueses.
“São as nações que fazem os exércitos e não os exércitos que fazem nações. E, na realização dessa “Descolonização exemplar”, o MFA de Bissau apenas só teve ouvidos para os tiros e para os que os disparavam”. Mais duas verdades incontroversas. Uma é um tema vasto que nos levaria longe. Basta perguntar para onde queria ir a Nação Portuguesa com o Exército que ia produzindo, dia a dia. Quanto à segunda, basta recordar as razões porque estávamos ali. Se nunca tivesse havido tiros e quem os disparasse teríamos ficado cá, julgo eu. Não penso que se mobilizassem unidades militares para ir desenvolver o “TO daquela PU” ou doutra.
“Em 1974, o exército do PAIGC tinha tantos anos de vida (10) como de errância, indigente de massa territorial, e ousava-o disputar com o Exército Português, com os seus 900 anos de existência e de gloriosas armas, o seu currículo de conquistas territoriais e de gentes, à dimensão das margens do Atlântico e do Índico, que transformara num “lago português”. Calma, camarada! Estes arroubos de patriotismo carecem de fundamento. Se falamos de conquistas (territoriais e de gentes) estamos a admitir que atacámos e subjugámos e, nesse caso, seria bom sabermos porquê e para quê. Claro que há os contextos históricos, por isso uma certa moderação impõe-se especialmente nas margens dos oceanos… Se calhar, não foi bem assim. A História não é um desafio de futebol a contar para a “Taça dos Países com Guerra”. Os fenómenos são complexos e quando nos são apresentados assim devemos desconfiar. Quanto à tal
“errância, indigente de massa territorial” recordo que a vida de guerrilheiro é mesmo assim e, normalmente, só envereda por ela quem quer.
A retirada de Guileje,
“decidida sob a responsabilidade e comando de um oficial superior”, já foi aqui dissecada. Naquela posição havia apenas um obus de 14 cm operacional, e não 14,5 cm, com o alcance que o construtor britânico lhe deu e inferior ao das peças do inimigo. Para trás tinha ficado o Pel. Fox de Guileje e agora havia apenas uma viatura blindada. O camarada saberá como se reage com “morteiros de 81, canhões s/r 10,7”, ao fogo da artilharia do In, de alcance superior ao nosso. Por mim, confesso a minha ignorância. Os
“abrigos de betão armado, resistentes a granadas perfurantes, poderiam constituir “uma espécie de Termópilas para a sua guarnição, no entanto longe de idêntico e funéreo”. Não sei o que os que lá estiveram acham disto. Por mim, acho pobre uma comparação romântica e inútil o conceito táctico, uma vez que o importante é que uma missão é uma ou mais tarefas com uma ou mais finalidades. Ou seja, é importante o que se faz, mas mais importante para que se faz e o que vai fazer depois.
Nunca participei nas
“colunas de reabastecimento de ida e volta a Gadamael” e sempre achei absurdo que se fizessem
“colunas de ida e volta à água, a 4 km de distância”. Acho uma impiedade o comentário feito, mesmo que por alguém muito valente.
A “nomadização” é um tipo de operação de infantaria característica da guerra subversiva e que nada tem que ver com o abastecimento de água que se insere na área da Engenharia.
É óbvio que
“a população preferiu acompanhar a retirada da tropa e ficar ao seu lado, à libertação oferecida pelo PAIGC, não obstante patrocinada por todo o mundo - ONU, Organização da Unidade Africana, Blocos Ocidental, Comunista e Não-Alinhados...” Como o camarada sabe, em certos locais a separação das populações estava feita de tal modo que, quem não estava por nós (ou por eles) era contra nós (ou contra eles). Como reagiriam as NT se a população preferisse ficar? E como reagiria o In ao entrar no quartel e ver a população calmamente entregue às suas tarefas quotidianas ou arvorando bandeiras do Partido?
A crise de Gadamael,
“sequela da retirada de Guileje” também foi já bastamente discutida. Não acredito nos 30
“portugueses de rija têmpera” num universo de 400. Não estive lá e por isso acho que devo abster-me de comentários desagradáveis e avaliações abusivas. Tenho muita consideração por quem lá esteve e estarei disposto a ouvi-los, se alguma vez encontrar algum. Não sou capaz de criticar o
“esmorecimento moral com sentido a derrota e a contagiante quebra da disciplina” dos que ficaram. Julgo que só os que lá estiveram poderão fazê-lo, entre si.
Do mesmo modo não me pronuncio sobre a crise de Guidaje. Vi passar a 38.ª de Comandos, a coluna Bissau-Farim carregada de munições e torpedos bengalórios para abrir caminho a partir de Farim. Vi passar o Nord-Atlas, à vertical da estrada, carregado de munições para reabastecer os cercados e tive conhecimento de que a coluna de reabastecimento que foi montada não chegou ao objectivo e acabou bombardeada pela FAP. Não sei, por isso, se esta batalha foi a
“mãe de todas as batalhas” ou se teve com elas outro grau de parentesco. Talvez avó…
Não sei a que Guiné nos estamos a referir ao falar da obra
“que os nossos antepassados realizaram em 500 anos”. A nossa observação à chegada e os factos históricos que têm vindo a ser divulgados e estudados não corroboram esta tese. A História regista a
“Descolonização da Guiné”, com o seu efeito sistémico no restante Ultramar, como seria lógico. Obtida a independência pelo PAIGC, como visualizamos a situação nos outros TO? Será que as tropas estacionadas em Angola e Moçambique tinham um ataque de patriotismo e valentia e ganhavam a guerra em três tempos? Ou também optariam por
“um acto de irreverência com ou sem o apoio de um grupo de jovens oficiais, uns mais e outros menos contaminados pela ideologia em moda?” Nunca o saberemos, mas eu creio mais na segunda hipótese.
Estive na Guiné e não encontrei os tais
“tão seculares “compromissos” assumidos entre portugueses e guineenses”. Guineenses? Portugueses? Então não era tudo o mesmo país? Não vejo quais poderiam ser os diálogos mais
“alargados e abrangentes”, e com quem, para além dos
“monólogos impositivos dos camaradas José Araújo, Pedro Pires e até do Juvêncio Gomes”, tendo em conta a situação acumulada desde 1973.
Os
“indicadores estatísticos referidos às situações militar, económica, sociológica e histórica da Guiné” demonstram, quer se queira, quer se não queira,
“a iminência da nossa derrota no campo de batalha”, propalada pelos nossos militares profissionais, não desde 1974, mas em consequência de uma análise constante da situação. Esta análise não
“configura menos respeito pelos que deram a vida em combate e algo de menosprezo pelas centenas de milhares de portugueses que se entregaram ao serviço militar do seu país, sem nada pedir e sem perguntar se o país lhe daria alguma coisa”. Antes pelo contrário. O que fazer para parar com uma fenómeno sociológico que ninguém queria? Prolongar o sacrifício em nome de quê ou de quem? Infelizmente as coisas são como são e não como gostaríamos que fossem.
Na sua reincarnação(?) como idealistas pela autodeterminação e pela democracia dos povos em vias de colonização, o que é que os nossos corifeus do MFA/Descolonização viram de semelhante a esse ideal, na prática dos chamados Movimentos de libertação, para além de partidos-armadas, e não viram nos movimentos e correntes de opinião, que perseguiam os mesmo fins, mas sem derramamento de sangue - porque a civilização e a moral lhes ensinara que os fins não justificam os meios -, que justificasse o apressado abandono de territórios e gentes? Compadrio ideológico ou medo dos seus tiros? Eles eram formados, formatados, municiados, alimentados e patrocinados pelos países do Bloco Comunista e do Terceiro Mundo, plenos de ditaduras e de aversão aos direitos humanos. Duas perguntas longas e profundas! Por mim, não “reincarnei” em nada, nem em ninguém e já atrás falei sobre estes temas.
Os povos estavam colonizados e não em vias disso. Nunca tive ocasião de encontrar nenhum movimento ou corrente de opinião, que perseguia os mesmos fins dos movimentos guerrilheiros, mas sem derramamento de sangue e muito menos na Guiné. O camarada saberá melhor que eu o que fizeram, onde e quando.
Desconheço o compadrio ideológico a que o camarada se refere e quem foi formado, formatado, municiado, alimentado e patrocinado pelos países do Bloco Comunista e do Terceiro Mundo, plenos de ditaduras e de aversão aos direitos humanos. Não encontrei esta tendência num número significativo de portugueses.
Pois claro! O que o que havia a fazer era “consultar o Zé Povinho” que saberia discernir o que havia a fazer. Nunca tinha discernido, mas agora iria discernir. Ou prolongar a guerra ou a conceder a independência ou uma terceira solução: talvez a independência concedida aos bocadinhos… Não sei o que seria discernido, mas… era uma hipótese académica de trabalho.
Aparte a referência à idade dos países, sugiro ao camarada que verifique se Portugal foi “fundador da ONU e da NATO e de todas as suas instituições reconhecidas pela Comunidade internacional”, e das condições em que tal se verificou.
A autocrítica pública do General Spínola só a ele diz respeito, mas sei que o Brig. Spínola de 1968 não era o Gen. Spínola de 1973 e creio que o camarada deveria pensar nisto. É que as mentalidades mudam os modos de ver alteram-se e essa mudança é que é sinal de inteligência.
E sendo um “ex-combatente amador da Guerra da Guiné, faço uma achega à “profissional”: Não obstante os seus picos, com a crise dos 3 Gs, Canquelifá, Pirada, etc., a gradação da Guerra da Guiné não ultrapassou a fasquia da “baixa densidade”. Esclareço que os conflitos são de baixa intensidade e não de menor densidade. E, mesmo assim, não quer dizer que se ganhem, ou melhor que se resolvam com maior facilidade. Está mais que dito e redito quais eram as características deste conflito de baixa intensidade.
À sua afirmação de que “desde 1128 que o Exército Português vinha sendo glorioso em guerras de “média e alta densidade”… quero recordar que em 1128 não havia Portugal, que conviria que desse uma volta pela História de Portugal para saber exactamente o que se ganhou e onde e o que se perdeu e porquê. Regresse ao passado fique-se e fixe-se nele, sem ideias feitas e com a necessária abertura para reconhecer onde estivemos bem, menos bem e até mal ou muito mal, sendo certo que as causas em História são remotas, próximas e pretexto para a ocorrência dos factos.
“O comunismo e o seu bloco implodiram, mas Portugal preservou-se(?) comunista, pela partilha da sua Língua com os povos que beneficiaram/sofreram a sua Colonização”. Sobre a língua portuguesa falada pelos tais povos de que o camarada fala recordo os longos diálogos de português camiliano que eu tive com as minhas lavadeiras e os debates literários que sustentei com os militares do recrutamento local. E, ainda hoje, ao entrar num comboio da linha de Sintra, fico pasmado com a fluidez do diálogo em português literário dos fulas que por aqui habitam. Que riqueza de vocabulário! Que exactidão nas expressões!
As minhas desculpas e um Abraço ao Camarada Manuel Luís Lomba
António J. P. Costa
____________
Nota do editor
Último poste da série de 29 de fevereiro de 2016 >
Guiné 63/74 - P15809: A minha guerra a petróleo (ex-Cap Art Pereira da Costa) (17): O Moral das Tropas é Bom!