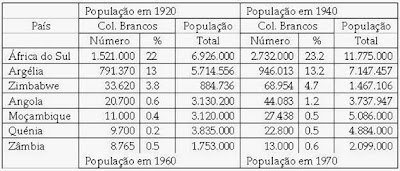Guiné > Bolama > Agosto de 1935 > "Guarda do Palácio do Governador. Foto de Manuel Emídio da Silva, no âmbito do 1º Cruzeiro de Férias às Colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Princípe e Angola, uma inciativa da revista O Mundo Português, que juntou cerca de duas centenas de "estudantes, professores, médicos, engenheiros, advogados, artistas, escritores, industriais e comeriantes"... O Director Cultural do Cruzeiro foi o Dr. Marcelo Caetano. Esta "revista de cultura e propaganda, arte e literatura coloniais", era dirigida pro Augusto Cunha, sendo propriedade da Agência Geral das Colónias e do Secretariado da Propaganda Nacional.
Guiné > Bolama > Agosto de 1935 > A chegada do vapor Moçambique, com os participantes do 1º Cruzeiro dee Férias às Colónias.
Fonte: O Mundo Português, Vol II, nºs 21-22, Setembro-Outubro de 1935 (Exemplar oferecido ao nosso blogue por Mário Beja Santos; fotos digitalizadas e editadas por L.G.; reproduzidas com a devida vénia).
 1.
1. Pré-publicação de excertos do próximo livro do nosso amigo e camarada Mário Beja Santos, Mulher Grande. Trata-se da terceira parte do Capº III(*):
por Mário Beja Santos
[III. 5] Décimo terceiro solilóquio
Sinto-me um pouco mal com tantas interrupções que introduzo na narrativa da Benedita (**). Caí na asneira de lhe dizer que os poucos relatos que encontrei na Net são discordantes quanto ao número de feridos, até mesmo quanto à natureza dos estragos daquele ataque. Ficou furiosa, como se todos os outros pudessem duvidar da tragédia daquela noite e das suas implicações. Devem ter sido noites horríveis. É nestas descrições que eu mais aprecio o seu fio de memória, como narra os acontecimentos que a mais afectaram, a descrição que faz sobre a luz apagada à noite, o desaparecimento das pessoas, a chegada de uma tropa que vinha pouco convencida da possibilidade de um ataque.
O Albano procurava sacudir a pressão bebendo uísque, fumando e trabalhando naquelas questões da habitação que tanto o interessava. A Benedita também não esqueceu que acabou por ser influenciada pelos interesses do Albano e deu consigo a ler um calhamaço intitulado “A habitação indígena na Guiné Portuguesa” que lhe fora oferecido por um colega do Albano, Amadeu Nogueira. É preciso estar à beira de uma guerra, disse-me ela em tom trocista, para ler atentamente coisas como a casa dos Felupes e Baiotes, considerados em S. Domingos como os melhores construtores de casas em taipa, trabalhando para outras etnias como verdadeiros construtores.
A Benedita mostra-me uns papéis desbotados onde ela transcreveu o que lhe pareceu mais relevante. Leio o seguinte: as casas rectangulares são mais frequentes; a cobertura de todas as casas é feita sempre com palha; todas as casas possuem a sua varanda, cuja largura varia entre 1,50 e 2 metros, mas só na traseira; serve de sala de jantar para a mulher, de cozinha e de depósito de lenha; é aqui que se encontram os cachos de chabéu, cujo óleo há-de condimentar o arroz; a casa de Felupes e Baiotes dura uma vida e é demolida quando o seu proprietário morre; algumas casas apresentam exteriormente pinturas murais, geralmente zoomórficas e a tinta preta.
Estas palhotas têm portas fabricadas de uma só peça, geralmente em madeira de poilão, com 60 cm de largura, sendo sinal de grande desconsideração arrancá-las, indicando que os restantes elementos da povoação pretendem expulsar o proprietário; as janelas, quando as há, são pequenos rectângulos de cerca de 40 cm de cumprimento por 20 cm de largura, defendidos por pau de grossura de uma polegada; a iluminação é dada pela lenha que acendem no chão; o mobiliário reduz-se a uma cama que existe em cada quarto dos adultos, é nestes quartos que se podem encontrar bancos conhecidos por tripeças; as prateleiras são orifícios cavados, de cerca de 60 cm de cumprimento.
É espantoso como o ser humano descarrega a sua tensão transcrevendo num papel as suas impressões sobre as casas dos Felupes e dos Banhuns que ele vê todos os dias!
Interrompo a leitura destas folhas descoloridas para perguntar à Benedita se antes deste tiroteio de madrugada não houvera quaisquer outros sinais de agressão. Ela respondeu-me que sim, tinha havido uma tentativa de incendiar pontões entre S. Domingos e Bissau (havia 18). Tinha-se descoberto uma tentativa de incêndio de 2 pontões só que a chuva apagou o fogo.
Quando olhei, surpreso, a Benedita ela disse-me com a maior das naturalidades: “Não se esqueça que estávamos em Julho, naquela região Norte chove intensamente nesse tempo. Aproveitou para me recordar que havia uma grande lealdade das populações de S. Domingos com o Albano, ele era querido por todos, os seus próprios colaboradores da administração encarregavam-se de divulgar como ele era incorrupto, incapaz de uma maldade ou brutalidade.
Depois da sua vinda de Ziguinchor, onde assistiu à manifestação contra a política colonial portuguesa, o Albano reuniu-se com as famílias dos chamados
civilizados, a todos contou que estava iminente um ataque. Reuniu também com a secção da tropa branca que fora mandada apresentar-se em S. Domingos depois do incêndio dos 2 pontões. A Benedita não recorda o nome de ninguém, lembra-se que havia um Alferes, que a tropa dizia muitos palavrões, era muito ruidosa, levantou muitos problemas no contacto com a população civil. Não resisto, peço-lhe todos os pormenores daquela noite do ataque, a noite que anunciou o princípio das hostilidades na Guiné.
Mais recordações da Benedita (décimo terceiro trabalho de casa)
Há 3 meses atrás, o assunto da Guiné era para mim um dossiê completamente arrumado, não me passaria pela cabeça partilhar com quem quer que fosse recordações tão queridas, íntimas e intensas, como o dia do meu casamento, o prazer que tive em viver em Bissorã, a admiração progressiva que fui ganhando ao Albano, ele foi um funcionário colonial exemplar, também considerava que era tabu o que eu vi em brutalidade no tratamento dos nativos.
Aprendi muito quando voltei a Lisboa, em 1963, apercebi-me que as pessoas só me ouviam porque tudo era exótico, mas era-lhes indiferente o modo como os guineenses viviam, a sua cultura, os seus costumes. Nunca me atrevi a contar a ninguém os comentários dos soldados brancos em S. Domingos, referindo-se àquelas gentes como se fossem uns atrasados.
Admiradora que sou da obra de Salazar, naquele tempo comecei a perceber que a revolta que veio depois tinha a ver com a necessidade de justiça e mais bem-estar. Tive o privilégio de conviver com Amílcar Cabral, era um homem de cultura superior, conhecia a literatura portuguesa como eu não conhecia, houve um serão em que falou de José Régio e de Miguel Torga, fiquei impressionada com os seus conhecimentos, a sua estatura moral.
Continuo indecisa acerca da utilidade deste relato. Eu fechei o dossiê da Guiné, é-me indiferente que tenha sido a FLING ou o PAIGC a atacar S. Domingos. Nunca tinha sentido qualquer tensão, qualquer comentário hostil à nossa presença na Guiné. É claro que vi muitos maus-tratos, havia claramente racismo, julguei que fosse tudo uma questão de tempo, a nova geração de brancos viria com outros sentimentos e certamente com muito mais amor cristão. O Albano e tantos outros funcionários exaltavam o trabalho do comandante Sarmento Rodrigues que eles consideravam o grande Governador da Guiné do século XX. Só vim a conhecer o Sarmento Rodrigues quando o Albano teve o primeiro ataque de coração e ele nos veio imprevistamente visitar. Fiquei com a noção de que se tratava de um homem superior, uma alma de eleição e que merecia os elogios do Albano.
Perdi todas as minhas memórias daquele tempo, os cadernos, os livros, as fotografias, tudo desapareceu. É a minha memória que esvoaça numa tremenda escuridão. Aquela noite do ataque alterou tudo, sobretudo o Albano tornou-se noutra pessoa, irei ouvi-lo vezes sem conta: “É o princípio do fim, Benedita, não tenho coragem de mudar de profissão, já me ofereceram lugares em Angola e S. Tomé, cheguei aqui imberbe, aprendi línguas, todos os rudimentos da administração colonial desde a tarimba, conheci homens muito estudiosos da mesma maneira que convivi com exploradores miseráveis, alguma da gente mais sórdida que há ao cimo da Terra. Não sei o que é que vou fazer deste amor que tenho pela Guiné. Talvez o melhor seja refazer a nossa vida na Europa”.
A doença acelerou esta previsão amarga. Em 1963, regressámos de armas e bagagens, o Albano doentíssimo, eu sem saber se não era necessário trabalhar, sabíamos que a pensão dele iria ser baixíssima. De 1961 a 1963, vi todos os dias o Albano, amargurado, a despedir-se da Guiné, a obra da sua vida.
E começa o ataque!
Não sei se já lhe disse, eu recusei partir com os
civilizados, pedi mesmo ao Albano que a tropa branca recém-chegada ficasse a viver na administração, ficaram aquartelados em instalações improvisadas e combinou-se que, no caso de um ataque ao edifício da administração, nós iríamos pedir a protecção a esta tropa. Tínhamos 2 pistolas e havia na administração umas armas do tempo da 1ª Guerra, umas armas de repetição que já ninguém utilizava. Penso que foi na tarde de 20 de Julho que chegaram 2 funcionários para fazer o recenseamento, mas que logo ficaram contagiados pela grande tensão que havia entre nós. Mal sabiam eles o que os esperava!
Recordo que cerca de um mês antes do ataque tinha lá estado um dos administradores da Casa Gouveia, um tal engenheiro Norberto Velez, que olhou para as nossas coisas, os nossos haveres na casa e fez o seguinte reparo: “ Vocês não podem ter todos estes objectos à mostra, pode ser mais uma razão para eles vos assaltarem e esquartejarem!”. O Albano replicou que não queria mostrar medo, não aceitava mexer em nada. Mas, tempos depois da partida deste engenheiro Velez, ele reconsiderou e enviou encaixotados muitos dos nossos objectos pessoais para Bissau. Então, senti uma grande angústia. Fiquei despojada de muitos dos meus objectos, que me faziam tanta companhia, sentia-me praticamente uma reclusa.
Bom, vou voltar ao princípio do ataque, escusa de voltar a perguntar quem era o grupo, quem estava por detrás deles, eu não sabia, ninguém me deu informações, em Bissau, como verá mais adiante, ninguém me falou nessa FLING, falavam sempre em terroristas.
O Albano tinha combinado connosco como se iria organizar a defesa, cada um de nós tinha sempre a roupa à mão, a arma ao pé. O Albano não aceitava as instruções dos militares, isto é, de irmos a correr até ao aquartelamento deles, logo que começasse o tiroteio. Dizia-me frequentemente: “Estão doidos, fazem contas de cabeça, julgam que isto é aritmética, imaginam um pequeno grupo de selvagens, mal equipados e armados a dar uns tirinhos, quem sabe se não aparece aí um grupo bem armado que nos vai dizimar ou esquartejar. Não, Benedita, nós iremos a correr para o mato, conheço tudo como as minhas próprias mãos, ali não nos apanham”.
Eu ouvia isto tudo e estremecia, a pensar nas cobras e andar aos tropeções dentro da mata, a imaginar uma perseguição e ser morta à catanada. Mas eu confiava absolutamente no Albano e não me atrevia a pôr objecções. Então, pelas 2 da manhã, mais ou menos ouvi o primeiro tiro, partiu da mata em direcção à nossa casa, o Albano deu o grito: “Eles aqui estão!”, eu sei que isto não tem pés nem cabeça mas senti uma sensação de alívio, fomos todos até à varanda, de pistola em punho, quando digo nós incluo todo o pessoal da administração.
Continuo sem saber os termos militares, só posso contar aquilo que vivi, com os meus conhecimentos. Eles atiravam da mata para casa, senti as balas perfurar as paredes, a partir as telhas, a desfazer os vidros. Eu olhava na varanda a saída do fogo, o Albano ordenou que devíamos ir para a casa da alfândega, ali, como só havia uma varanda à frente, era mais fácil responder ao fogo deles. Um dos funcionários da administração gritou que estava ferido, caiu no chão. Juro-lhe que eu estava muito calma, o homem parecia desmaiado, tirámos-lhe as calças, estava bastante ferido numa das virilhas, fora um puro acidente, a pistola dispara-se quando ele escorregara. Alguém lhe deu uma injecção de morfina, lá o arrastámos para a casa da alfândega. Como não havia fogo sobre a casa da alfândega, procurámos ir até ao aquartelamento e aí disseram-nos que já havia 5 feridos. É nisto que damos conta que as luzes ali estavam todas acesas, foram então apagadas e começámos a transportar os feridos para este edifício onde o enfermeiro tinha mais meios.
Não sei quanto tempo depois voltou o silêncio total, tinham acabado os tiros. O Albano sentou-se a uma secretária e escreveu um relatório e disse-me: “Benedita, não sei se estou a proceder bem, peço-lhe que leve esta carta a Bissau, ao amanhecer tenho que dirigir a evacuação das mulheres e das crianças, vai com uma escolta militar, fico à espera que mandem mais reforços, ninguém pode adivinhar quando será o próximo ataque”.
Sentia-me embrutecida e distante, eu tinha uma outra ferida, muitíssimo profunda, não sei com que coragem lhe vou agora contar o que me atormentava. Durante aquele tempo que precedeu ao ataque, todas as noites ouvíamos a rádio Dakar, era ali que se referia sem nenhuma discrição que em breve as povoações com colonialistas, junto à fronteira com o Senegal, iam ser atacadas.
Uma noite ouvi mesmo dizer que onde o Albano estivesse (nunca referiram S. Domingos, só falaram no nome dele) eles fariam o menor número possível de mortos porque ele tinha sido sempre humano para os africanos. Uma noite fiquei gelada quando eles disseram num francês impecável: “Lembra-te Albano Toscano que já tiveste filhos africanos!”. Não foi uma sensação de traição que eu senti, o Albano tinha-me dito que não havia outra mulher na sua vida, o que eu verdadeiramente senti é que devia ter partilhado aquela informação, não era agora que ia perguntar ao meu marido se ele tinha filhos de outras mulheres, se estavam vivos ou mortos, aquela omissão recebi-a como uma bofetada, não era agora que eu ia perguntar ao meu marido se era verdade ou se era mentira, ele estava ao meu lado a ouvir a rádio Dakar, fez que não ouviu, senti-me maltratada, eu merecia uma explicação.
Sentia-me aturdida, aceitei partir para Bissau, vi à minha volta toda a gente a trabalhar, o Albano a içar a bandeira portuguesa e depois a liderar os preparativos para que todas as mulheres e crianças fossem retiradas de S. Domingos, nem todas aceitaram partir, mas muita gente foi de barco para Cacheu. Da janela do edifício da administração assisti àquela debandada., todos partiam com os olhos postos no chão.
Ao amanhecer, uma avioneta veio-me buscar, parti cheia de sofrimento, deixando ali o Albano, não tenho a menor recordação daquela viagem, só sei que quando cheguei a Bissalanca desmaiei. Lá me recuperei e segui para o Palácio do Governador. Acompanhada pelo comandante militar, fui prontamente recebida pelo Governador (****), leram os dois o relatório do Albano, disse-lhes que ele pedia sacos para fazer barreiras de protecção, tinha extrema necessidade de enfermeiros e, se possível, pedia mais reforços. É nisto que o governador me pergunta: “Onde é que a senhora quer que eu vá arranjar estes sacos?”. Respondi-lhe: “Não tem dificuldade, basta chamar o Turco, aquele comerciante que trabalha com o Pintosinho, ele vai falar com os arrozeiros, é um instante enquanto se arranjam os sacos, depois em S. Domingos é só enchê-los”.
Nesse mesmo dia, as autoridades enviaram para S. Domingos um pelotão para reforço daquele contingente que ficara tão combalido com o ataque da madrugada. Não me recordo bem, já disse várias vezes que todos estes papéis se perderam nas malas que vieram de S. Domingos para Bissau e que desapareceram sem deixar rasto, mas o Albano enviara no seu relatório a informação de que os atacantes só tinham utilizado armas de repetição entre as 2 e as 6.30 da manhã, hora em que tudo acabou.
Ah, espere, temos que voltar aos sacos. Depois de uma grande correria, lá se encontraram sacos, cerca de 600, e o Governador perguntou aos comerciantes como é que eles iam fazer chegar os sacos a S. Domingos. Eu estava com a cabeça tonta, meio adormecida, sedada por um tranquilizante que me tinham dado, olhava para aquilo tudo e perguntava-me qual a capacidade de resposta daqueles políticos perante uma emergência, se não eram capazes de encontrar uma solução apropriada para enviar 600 sacos vazios para S. Domingos.
Fiquei em casa da Ivone Leal, mulher de um advogado, lembro-me que dormi muito mal, foi um sono sobressaltado, sempre a pensar num próximo ataque, e eu longe do Albano., numa atmosfera de segurança. Na manhã seguinte, alugou-se uma avioneta que foi a S. Domingos levar mantimentos e os sacos, o Turco esteve a conversar uma hora com o Albano, as notícias que trouxe eram tranquilizadoras, tinha-lhe chegado informação que as dezenas de atacantes regressaram à região de Kolda.
Nessa noite voltei ao palácio do Governador onde me foi anunciado que este decidira que eu durante um mês não voltaria a S. Domingos, a justificação era que tinha a casa cheia de tropa. Só espero até morrer não voltar a viver um tempo de tanta ansiedade como aquele, a Ivone Leal e marido, os Nobre Lemos e outros casais tudo fizeram para eu me sentir bem, deram-me amparo e carinho, serenaram-me como puderam. Felizmente que o Governador dera ordens para que sempre que uma avioneta fosse a S. Domingos me levasse e trouxesse. Não imagina as peripécias que eu vivi! Oiça algumas.
Houve um piloto aviador que me deu uma palmada nas costas, em pleno aeroporto e à vista de toda a gente, eram um miúdo simpático, tratava-me por mana e bonitona, eu não sabia se me havia de rir ou zangar. Uma vez um outro piloto largou-me no Ingoré, disse-me que tinha de ir levar correio a Camamudo, vim numa carripana velha até S. Domingos, apareceu-me na estrada o Albano, afogueado, com uma escolta militar, o louco do piloto enviara uma mensagem a dizer que vira grupos estranhos à saída de Ingoré, talvez fossem salteadores, o melhor era protegerem-me. Na segunda visita ao Albano apercebi-me de grandes mudanças, as famílias brancas e até as de comerciantes mestiços consideravam o ataque a S. Domingos como o princípio da insurreição, anunciavam que iam partir, não queriam ser mortos à catanada.
Desculpe-me, começo agora a ter consciência que este relato é confuso, estou a misturar coisas, até escrevi aqui no meu caderno: “Dizer ao Mário que ao lado do nosso quarto, em S. Domingos, estavam 10 soldados e o rádio das transmissões. Quando voltei, estive quase um mês sem dormir a ouvir aquele besoiro, era uma gritaria em que o soldado no quarto ao lado usava uma linguagem codificada que me dava vontade de rir”.
Também escrevi no meu caderno: “Na mesma noite que os guerrilheiros atacaram S. Domingos igualmente flagelaram Suzana e o Albano mandou chamar o chefe de posto para S. Domingos, ele ficou aqui mas a mulher foi para Cacheu. Varela foi atacada mais duramente cerca de um mês depois, a bonita estância turística ficou completamente desmantelada, as casas turísticas desapareceram”. Agora peço-lhe que paremos, não pode imaginar a comoção que tive quando voltei a Varela e vi desaparecidos objectos pessoais que tinham para mim elevadíssimo valor estimativo. Quando vemos a nossa casa em derrocada, sentimos uma devassa incontrolável ao nosso património, ao mais nosso íntimo do nosso ser.
Décimo quarto solilóquio
Há qualquer coisa de patético neste funcionário colonial cujos avisos são ignorados em Bissau, impotente e talvez resignado com a incapacidade de resposta dos políticos, indiferentes à insurreição iminente. No último almoço, a Benedita contou-me que o Albano tivera a informação de que Varela iria ser destruída, nessa altura ela já tinha regressado a S. Domingos. Com o zelo de sempre, ele apelara para que houvesse movimentação de tropas para Varela, não houve, aquela linda praia que dispunha de um casario moderno ficou irreconhecível depois da depredação dos assaltantes.
Continuo a entusiasmar-me com os relatos da Benedita. As suas viagens da avioneta de Bissau a S. Domingos tiveram momentos delirantes, aquela história de um piloto que queria que ela visse os crocodilos e que baixou o aparelho até quase à linha de água, foi um dos maiores sustos da sua vida; e também aquela história em que viajou com um leitão destinado a S. Domingos, entretanto foi necessário ir a Cacheu de emergência e o funcionário local mal a viu desatou a chorar, agradeceu-lhe a amabilidade de ter trazido um leitão, ela nem teve coragem de lhe contar a verdade...
Nesse almoço com a Benedita também ficou claro que no círculo íntimo do Governador havia também quem, perversamente, insinuasse que o Albano estava feito com os africanos, seria um pro-independentista. Tomei igualmente nota das peripécias vividas em S. Domingos, com a tropa à volta. Por exemplo, estava a Benedita a dar aulas, rebentou um tiroteio, ela atirou-se para debaixo da secretária, afinal era um exercício na carreira de tiro, ninguém a avisara de nada.
Três semanas depois de estar em Bissau, o Governador autorizou que ela voltasse para o pé do Albano. Quando ela ali chegou já S. Domingos vivia um simulacro de estado de sítio, a tropa a circular permanentemente de Bula para cá e de cá para Bula, as ruas rasgadas por trincheiras, o Albano furioso sabendo que aquelas valas iam ficar cheias de água e inúteis, mal surgisse a época das chuvas. Acho que chegou o momento de registar esta coabitação com a tropa, as questiúnculas entre a tropa brancas e os Felupes, o fim das idas a Ziguinchor, quando o Senegal cortou relações com Portugal.
"Jangada no Rio Geba. Passagem entre Bafatá e Contuboel"... Imagem reproduzida em
O Missionário Católico, Boletim mensal dos Colégios das Missões Religiosas Ultramarinas dos Padres Seculares Portugueses, Ano VIII, nº 81, Abril de 1931, p. 169 (Exemplar oferecido ao nosso blogue por Mário Beja Santos).
Imagem digitalizada e editada por L.G.
Em S. Domingos, à espera de uma guerra que não veio
Tudo mudou quando cheguei a S. Domingos, sabia perfeitamente que o meu idílio com a região acabara. Cercada pela tropa, a viver com a tropa em casa, a ouvir permanentemente os palavrões, com Varela destruída, com as medidas de segurança que nos obrigavam a circular com todas as cautelas, sem poder ir a Ziguinchor, refugiei-me na escola, nos livros, nos arranjos da casa, às vezes com a cabeça à razão de juros com aquele infortúnio, para mim incompreensível. Desforrei-me na cozinha, o Omaia foi dispensado de muitas actividades (é nesta altura, creio eu, que se descobriu que ele tinha lepra, antes de regressar a Portugal ainda o fui visitar à leprosaria, em Cumura), aprendi a fazer compota de caju e, pasme-se, atirei-me à jardinagem.
Eu nunca experimentara viver rodeada de arame farpado, agora estava a acontecer, tinha a tropa em casa, aquela convivência de caserna, os palavrões e o sargento a pedir-me desculpa pelos palavrões dizendo também mais palavrões...Embora isto pareça desusado, digo com toda a convicção que foi a fé que me valeu, eu escorregava naquela falta de valores, via o Albano triste e sobretudo muito doente, estava a sofrer muito de cálculo renal, houve momentos em que desesperei e, Deus me perdoe, cheguei a desejar um novo ataque para sairmos dali.
Pois bem, em Julho de 1962, depois de pedidos insistentes com relatórios médicos a comprovar o débil estado de saúde do Albano, ele recebeu autorização para irmos a Bissau. É precisamente na viagem de S. Domingos para Bissau que ele teve um aperto, saiu aos tombos do carro, ouviu-o dar um grito medonho dentro da mata, fui a correr em seu auxílio, ele disse-me com uma expressão aliviada, quando me aproximei ofegante: “Ai, Benedita, estou muito melhor, o cálculo renal já saiu!”.
Olhando para trás, posso dizer que vivi um tempo muito acinzentado. Depois de termos saído de S. Domingos, constou-nos que mataram um capitão num ataque àquela estrada e que continuaram de vez em quando a tentar destruir os pontões (havia na região de S. Domingos/Ingoré 18 pontões até Bissau como já lhe disse).
Agora apetece-me sorrir e até ser brincalhona no comentário que vou fazer: assentei praça em S. Domingos com a idade major e nem a cabo fui promovida, a recruta era de 3 meses, a minha excedeu um ano e meio.
Quando me vim embora, os soldados da companhia de S. Domingos colectaram-se para me dar um boné camuflado como presente. Até essa lembrança desapareceu naquelas malditas malas que se extraviaram, foi assim que perdi doces recordações.
O Albano fez tratamentos em Bissau, pela primeira vez senti que ele era um homem com o coração irremediavelmente destroçado e com a saúde arrasada e com cada vez menos sonhos. Quando comparo as fotografias que ele me enviou em solteiro, as que tirámos em Bissorã, em Teixeira Pinto ou no Gabu, com aquelas que guardámos dos últimos meses, em Bissau, que diferença! Ainda voltámos a S. Domingos, o Albano foi fazer a entrega oficial da administração ao seu substituto.
A despedida deixou-me debulhada em lágrimas. O aeroporto de S. Domingos, como em tantas outras pequenas localidades, limitava-se a uma pequena faixa de centenas de metros de terreno saibroso para o aterrar e o levantar voo das avionetas. Tínhamos uma multidão à volta da pista, os nossos criados com a tristeza estampada na cara, não sabiam quando voltariam a ver os seus patrões, vários régulos Felupes, Brames, Manjacos, trouxeram as suas numerosas famílias, o Albano e eu tínhamos um cortejo de afilhados com flores e outros presentes, não houve comerciante que não tivesse comparecido para nos ver partir. Guardo na retina aquela avioneta que deslizava aos roncos e os jovens a correr, com grande sorriso, e a saudar-nos entusiasticamente. Não aguentei, chorei muito.
Quero voltar à minha mágoa das malas desaparecidas. Tínhamos malas de porão, ali guardei a nossa roupa e os nossos haveres mais importantes. E foi graças a esta estúpida classificação que metemos em malas ligeiras as fotografias, os documentos, os livros e os mapas. Pedi ao condutor para entregar tudo (eram aí umas 5 ou 6 malas) em casa da Ivone Leal, dois dias depois de chegarmos a Bissau apurámos que as malas não apareciam, procurámos o condutor, ele garantiu a pés juntos que deixara tudo à entrada, ninguém assaltava as casas, naquele tempo. A verdade é que as malas nunca mais voltaram a aparecer, deve ter sido alguém que supôs que andavam por ali pratas e jóias, eu perdi coisas muito importantes para a minha memória, desapareceu a preciosa escultura dos Nalus, os panos Manjacos, os arcos de caça dos Felupes, lindos panos da Gâmbia, desenhos e aguarelas oferecidos por artistas locais.
Olhe à minha volta, está aqui tudo que testemunha o mundo em que nasci, bisavós, avós, pais e o Toninho, veja-me aqui no dia do casamento, ali com o Albano em cima de um hipopótamo morto, em plena ria de Cacheu (sempre lhe chamei ria, o Teixeira da Mota dizia mesmo que a Guiné só tinha um rio, o Geba). Tenho aqui os álbuns organizados, naquelas caixas de sapatos estão as fotografias que entraram nos livros do Albano ou ilustraram os seus artigos, guardo memórias de quase tudo, pode imaginar a falta que me faz o extravio daquelas malas. Felizmente, que muitos dos livros voltaram a ser comprados ou oferecidos, já lhe disse que nos primeiros tempos não me sentia atraída por todas aquelas histórias e por aquela diversidade cultural. Tudo mudou quando fui para o Gabu, agarrei-me aos livros, procurei compreender.
Num dos nossos próximos encontros até lhe queria falar dos artigos que o Albano escreveu no
Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, os objectos que ele ofereceu ao museu, este funcionava no edifício do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa onde o Mário esteve tantas vezes, como observei na leitura dos seus livros, estudiosos como o Armando Cortesão, o Teixeira da Mota, o Rogado Quintino pediram ao Albano para comprar artesanato, ele comprava e não foram poucas as vezes que comprou com dinheiro do seu bolso objectos que iam para o Museu. Eu sei que sou muito má «aluna», registo caoticamente as minhas lembranças, ando permanentemente para trás e para a frente, mas tomei ainda nota de duas coisas que ainda lhe queria falar, depois paramos, estou muito cansada.
Tenho aqui escrito: jantar no palácio, em minha honra. Houve um ror de brindes, toda a gente queria discursar, o reitor do liceu comparou-me com a D. Filipa de Vilhena, desta vez ia desmaiando de riso; o Albano era tido por “trouxa” porque não fazia negociatas, punha na rua todos aqueles que lhe vinham propor negócios escuros ou procurar envolvê-lo em corrupção.
Deixe-me contar mais uma história. Nos últimos tempos de S. Domingos, foi lá almoçar um funcionário de Bissau que passava criminosamente cartas de condução. Alguns dos soldados vieram pedir-me para meter uma cunha a este senhor para lhes emitir carta, eles explicaram-me que não tinham dinheiro. Em pouco mais de duas horas ele passou para cima de 30 cartas de condução. No final, voltou-se para mim e perguntou-me se eu também não queria uma carta. É nisto que chega o Albano, tinha ido à povoação de Barro, por cauda das obras da estrada. Vendo-me aflita, perguntou-me o que se estava a passar e eu respondi que me estava a ser oferecida uma carta de condução. Olhou furioso aquele funcionário de Bissau e disse-lhe sem papas na língua: “Já chega de asneiras! Espero que durma mal a pensar nos desastres que vai provocar com a sua irresponsabilidade».
Verá mais adiante que o Albano me trouxe dissabores e grandes desgostos. Eu prefiro exaltar o funcionário incorruptível que tratou sempre correctamente os nativos e cuidou dos interesses da Guiné, nunca pactuando com qualquer tipo de crime. Só casei duas vezes, foram amores distintos, talvez a idade pese no juízo que fazemos dos homens que amamos, mas eu tive muito orgulho neste marido que desde que me conheceu me disse a verdade sobre a Guiné, foi bondoso e carinhoso comigo, tudo fazia para me ver feliz.
Bom, estou quase a sair da Guiné, agora preciso de descansar, ainda há alguns episódios que lhe quero contar, prometa-me que só vai escrever 2 ou 3 histórias se acaso vai publicar algum livro com esta maçadoria, é para mim mistério insondável o Mário encontrar algum encanto ou pitoresco nestes episódios que têm quase 50 anos e que estão definitivamente perdidos no tempo., dispensados pela História. Ou não estão?
(Continua)
[ Revisão / fixação de texto / título: L.G.]
_____________
Notas de L.G.:
(*) Vd. postes anteriores da série:
31 de Janeiro de 2010 >
Guiné 63/74 - P5737: Pré-publicação de Mulher Grande, de Mário Beja Santos (1): Um Gabu de poucas e fracas recordações
2 de Fevereiro de 2010 >
Guiné 63/74 - P5747: Pré-publicação de Mulher Grande, de Mário Beja Santos (2): Da Guerra do Turu-Ban ao Tubabo Tiló, passando pelo deslumbrante Corubal
4 de Fevereiro de 2010 >
Guiné 63/74 - P5758: Pré-publicação de Mulher Grande, de Mário Beja Santos (3): Dois anos maravilhosos: S. Domingos, Varela, Ziguinchor, antes da guerra...
9 de Fevereiro de 2010 >
Guiné 63/74 - P5793: Pré-publicação de Mulher Grande, de Mário Beja Santos (4): S. Domingos, 21 de Julho de 1961: Benedita, eles já aqui estão!
(**) Sobre o processo narrativo, explicou o autor:
"Queridos amigos, o livro 'Mulher Grande' é uma narrativa ficcionada, um relato de uma vida de memórias (memórias de uma vida). É a Guiné que aproxima a narradora e o seu arquivador/escriba. Benedita Dantas Estevão possui uma memória prodigiosa, viveu as agonias e os êxtases de toda a gente. A estrutura da narrativa baseia-se num processo literário explorado magistralmente por John Dos Passos, limitei-me a seguir-lhe as pisadas: há um episódio inicial em que o narrador descreve acontecimentos, o arquivador/escriba reflecte sobre eles (solilóquio) e o narrador dá uma explicação íntima para o que contou (recordações e trabalho de casa), é um círculo fechado de duas pessoas que falam a três vozes.
"O que ofereço ao blogue é matéria que se prende com a essência do nosso blogue: a Guiné em vias de entrar na guerra. O resto, caso venha a entusiasmar os tertulianos, fica para a leitura de cabo a rabo. Sugiro a sua publicação em pequenos episódios de duas ou no máximo três páginas, em consonância com a própria construção dos diálogos. Aguardo a vossa apreciação. Um abraço de amizade, Mário" (...)
(***) Excertos do Cap I:
(...) Vim ao mundo ao nascer do dia 24 de Novembro de 1920, em Lisboa. Nasci na Avenida da República, 70, no rés-do-chão de uma moradia que também tinha 1º andar e mansarda. (...)
(...) A casa fora alugada pela minha avó brasileira, a vovó Januária ou vovó Xanoca. No dia em que vim ao mundo, bateu à porta da nossa casa o capitão Edmundo Barreto, um dos fiéis de Sidónio Pais, e que era muito amigo do meu pai, vinha almoçar, isto era muito comum assim, recebíamos informalmente todos os amigos, eram poucos os que se anunciavam. Sabiam que o meu pai acabava as consultas no Curry Cabral pelas 13 horas, e que vinha imediatamente para casa, quem batia à porta almoçava. O meu pai contou-me que o foi receber à entrada, eufórico, estava todo desalinhado, sem plastrão, e lhe dissera: “Olha, desculpa, hoje não pode ser, nasceu-me uma filha, sou pai pela primeira vez, estou radiante, isto está tudo uma desordem mas estamos felizes. A Estrelinha está de boa saúde!”. A Estrelinha era a minha mãe. (...)
(...) Nasci num meio burguês, filha de um clínico geral que trabalhava no Curry Cabral e no banco de S. José e tinha consultório na Praça José Fontana, e de uma brasileira de Santos, menina prendada. Era um casal que se amava muito. À distância destes anos todos, reconheço que tive o privilégio de nascer num meio excepcional, rodeada de pessoas excepcionais. O pai, a quem meio mundo chamava o Catarinho (Catarino Palma d’Abreu Dantas) viera estropiado da Flandres, era um homem de uma curiosidade insaciável, uma grande alma, um grande carácter. (...)
(...) O Catarinho era monárquico por tradição e convicção, mas era um homem verdadeiramente popular, não aceitava injustiças, falava com toda a gente com a mesma elegância de modos. Uma vez, era eu pequena, ele foi abordado nos Restauradores por alguém, eu, a minha mãe e o meu irmão, não percebíamos o entusiasmo daquela conversa. Despediu-se do senhor e depois disse-nos: ”Era um dos meus doentes lá da Penitenciária, creio que era um grande criminoso que se regenerou. Ainda bem que o voltei a ver”. (...)
(...) O meu pai vivia politicamente na oposição à balbúrdia republicana, veio a aderir à Liga 28 de Maio, admirava profundamente Salazar e a sua obra. Fez sempre campanha a seu favor, tudo à sua custa, nunca quis cargos, o que ele queria era ser médico, viver com a família, estudar genealogia, história de arte, até mineralogia, tudo lhe interessava. Não passava uma semana que não fosse investigar na Torre do Tombo. A minha mãe era adorável, acabou por ser a minha filha. Isto é difícil de compreender até se conhecer a relação que estabelecemos, sobretudo nos últimos anos da sua vida, morreu já nos anos 80. Sempre que falo da minha mãe emprego o termo que usei sempre: a Estrelinha (Maria Augusta dos Santos Pimenta), ela era de facto uma estrela reluzente ao pé de nós, delicada no trato e sempre delicada na sua saúde. (...)
(...) A abundância em que nasci começou a desaparecer quando eu tinha 10 anos. Com a crise de 29, o meu pai perdeu as economias amealhadas que pusera no Banco do Minho e a Estrelinha perdeu muito do que tinha nos negócios de Santos, tudo herança do avô Valentim, que não conheci, ele morreu quando a avó Januária veio com duas filhas até à Europa. É verdade que ele era um nome na medicina mas não era suficiente, houve que cortar nas despesas, desapareceu o chofer e desapareceram criadas. E desapareceram muitas das visitas lá em casa. (...)
(...) Com o desaparecimento do meu pai, tudo mudou, eu ia fazer 21 anos. (...)
(...) Em 1950, soube que havia uma vaga na Embaixada dos Estados Unidos da América, na Duque de Loulé, fiz provas, no Verão, fui aceite. O meu emprego não era propriamente na Embaixada mas sim junto do serviço do adido militar, eu depois explico o que fazia. Por essa altura, o Raimundo pediu à minha tia para ir ter com ele ao Norte. A Ada pediu-me para a acompanhar. E foi assim que fomos para a Póvoa, de 15 a 30 de Agosto. Na primeira noite, fiquei em casa da Luísa Palma. Fui com ela ao Casino (...).
(...) Nisto chegou o meu primo Manuel Dantas Amorim que vinha a falar com um outro senhor e apresentou-me o Albano da Graça Toscano. Pouco depois, fui dançar com este senhor que era funcionário colonial, tinha ido quase adolescente para a Guiné, vivia lá há muitos anos, mais de 16, estava agora de férias. Ia começar o meu romance. No Casino da Póvoa, mal sabia eu, tinha o meu destino traçado para ir para a Guiné, onde vivi momentos tão belos mas também tão dramáticos. Ao longo destes anos, digo-lhe agora sem ironia, eu achava que era exótico falar da Guiné, quando eu falava os outros ouviam com atenção, ninguém sabia onde é que era a Guiné e como é que lá se vivia. Dou comigo agora a pensar que ir contar tudo quanto eu vivi tem aspectos melindrosos, ainda há algumas pessoas vivas, nem sei se vou contar tudo.
(...) E foi assim que ficámos noivos. Mas o Albano tinha que partir em Setembro, tinham acabado as férias, só poderia voltar dentro de 4 anos, encarou-se logo a hipótese de casarmos por procuração. É bom não esquecer que eu ia trabalhar para a Embaixada, em Outubro assinei contrato como operadora telefonista. Eu vivia uma situação de grande dilema, nem ele nem eu tínhamos idade para perdermos mais tempo, naquela época só havia cartas uma vez por semana, não me estava a ver num namoro como se fosse uma adolescente.
Era um dilema: pela primeira vez na vida eu estava a ter um emprego que me interessava, que me entusiasmava verdadeiramente, mas também a Guiné estava no horizonte, eu queria casar com o Albano. (...)
Casei na Igreja do Campo Grande, fui de braço dado com o maninho, fizemos a festa em nossa casa. E naquele mês de Setembro, com a Estrelinha e a Ada a chorar, emocionadas, parti da Portela, de madrugada. Eu saía pela primeira vez de Portugal. (...)
(****) Na altura dos acontecimentos em S. Domingos (21 de Julho de 1961), era
governador da província da Guiné António Augusto Peixoto Correia (1959-1962). Sarmento Rodrigues tinha sido Governador do pós-guerra (25 de Abril de 1945 a 1950).