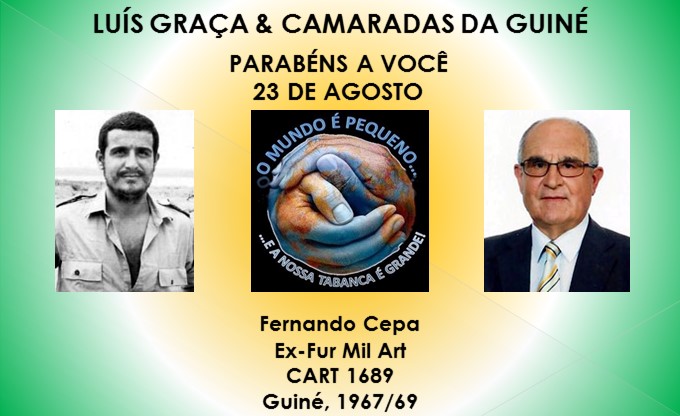O fotógrafo francês foi uma das testemunhas do duro quotidiano dos compatriotas que viveram os primeiros anos da maior vaga de emigração para França, sendo simultaneamente amigo e companheiro de tantos portugueses que ali construíram o seu futuro.
Isso mesmo testemunhei em Champigny-sur-Marne, por altura das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 10 de junho de 2016, reconhecendo o seu espírito de missão pela defesa da dignidade humana junto da comunidade portuguesa, com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. "]
A Rosemarie foi uma mulher corajosa para a época: casada com um tocador de rabeca de uma tuna rural do Marão, alcoólico, foi vítima de violência doméstica.
Separada de facto, mas não legalmente, sem ter posses nem conhecimentos para tratar dos papéis do divórcio, católica, amarrada de pés e mãos a um cadavre, o fantasma do primeiro marido algures em parte incerta, talvez no Brasil, com a 4ª classe já feita tardiamente, em Cascais, criada de servir, ajudante de cozinheira, numa família de banqueiros, em meados dos anos 60, a ganhar o dobro do que ganhava em Chaves e em Resende, mas infeliz, tomou a decisão da sua vida, em 1967, quando partiu para França “a salto”. Ia fazer, ou já tinha feito, 30 anos.
Em Cascais, estava longe da família e da terra, que já não era Cabeceiras de Basto, mas Resende…Tinha um dia de folga, que aproveitava para conhecer Lisboa e os arredores. Metia-se no comboio e desaguava no Cais do Sodré, cujas “luzes de néon” a atraíam, como à borboleta, mas onde nunca entrou em nenhum bar.
No máximo, à meia-noite, o mais tardar, tinha que estar de volta a casa no dia de folga. E, depois, aquele era um mundo estranho e perigoso para uma rapariga de província, que fora parar a Cascais com cartas de recomendação.
Ainda se aventurou a ir, um dia, ao Bairro Alto dos fadistas, onde se dizia que se cantava o fado castiço, mas sentiu-se intimidada, com todo aquele corropio de gente, a sair e entrar de tipografias, redações de jornais, casas de pasto, tabernas, oficinas, lojecas e casas que pareciam de bonecas, com mulheres a assomar à janela, ou vagabundear pelas ruas.
Havia prostituição de rua, mas nada no entanto parecido com a que irá conhecer, uns anos mais tarde, na Rue de Saint Denis, em Paris, quando um dia lá for com o "seu" Antoine, só para ver aquelas pobres mulheres trajando ricos casacos de vison, umas, outras quase nuas...
Raramente via os patrões, lá no palecete de Cascais. Tinha uma “chefa" que era de "gancho” (sic), e que mantinha a criadagem na linha. O seu dia a dia era passado no meio de tachos e panelas, no rés do chão. A senhora, “que era do Norte”, apreciava o seu “arroz de anho no forno”, uma das suas coroas de glória culinárias… Mas a cozinheira-chefe, francesa, tinha ciúmes dela e não a deixava fazer grandes pratos, apenas o trivial, o pequeno almoço, o lanche, coisas ligeiras. Mas acabou por aprender, à socapa, uns pratos da cuisine française e começou a arranhar o francês… (Falava-se francês lá em casa, o patrão era de origem francesa.)
Já não se lembrava sequer do nome dos patrões, que eram gente muito rica e muito fina, de famílias tradicionais, católicos, mas liberais e respeitadores do pessoal menor… Cultivavam, no entanto, muita distância. Nunca se lembra, por exemplo, de ter entrado na sala de jantar, a não ser pelo Natal, em que senhores e criados consoavam juntos.
Os tempos que passou em Cascais, cerca de dois anos, eram sobretudo lembrados pela Rosemarie pela sua iniciação ao fado de Lisboa. Na escola de adultos, onde tirou a quarta classe, conheceu uma jovem fadista amadora que tinha ambições de concorrer à Grande Noite do Fado, no Coliseu dos Recreios.
À noite as duas cantarolavam uns fados no regresso a casa, já que moravam perto Ficaram amigas mas a Rosemarie perdeu o seu contacto quando foi para França, no verão de 1967. Tinha para com ela uma dívida de gratidão, arranjou-lhe alguns discos e letras, da Amália, e da Maria da Fé, de quem a Rosemarie também era fã, até por ser uma mulher do Norte.
Logo no início, em meados de 1965, teve autorização de ir ao Cais da Rocha Conde Óbidos abraçar um dos irmãos que chegava da Guiné, depois de cumprido o serviço militar. Vinha “mais maduro, mais homem”, e confidenciou-lhe que tinha intenções de emigrar, talvez para a Alemanha, de comboio. Era só tratar do passaporte, que agora, com a tropa feita, não precisava de ir “a salto”. Tinham-lhe prometido um emprego numa fábrica de automóveis, mas precisava de “aprender a língua alemã, que era tramada”. E na realidade conseguiu ir para a Alemanha, em meados de 1966, mas teve de começar por trabalhar nas obras. Durante alguns anos, não se viram até que ele foi passar o Natal, com ela e o Antoine, em 1973.
Foi também por essa altura, por volta de 1966, que a Rosemarie começou a congeminar a ideia de ir para França viver e trabalhar. Mas só podia ir “a salto”. Sendo oficialmente casada, precisava de autorização do "cabrão do marido", o "chefe de família", ausente em parte incerta...
Por outro lado, as suas fracas economias não davam para “comprar a passagem”…Precisava de ter pelo menos uns 15 contos, para a passagem e para os primeiros tempos. Nessa época, era uma fortuna, quase 6 mil euros, a preços atuais.
E foi também por essa altura que umas antigas colegas e amigas das Caldas de Aregos, em Resende, lhe deram notícias do Antoine Ben Oliel. Um dia conseguiu o seu contacto. Escreveu-lhe uma carta, com letra muito bonita, e com algumas palavras simpáticas em francês (desculpando-se dos "erros de ortografia"), e mandou-lhe uma foto tipo passe.
Ele não lhe respondeu logo, mas na carta que ela recebeu, passadas umas largas semanas, disse-lhe que, "sim, senhora, se lembrava dela, de Chaves, em 1957, e que ia ver o que podia fazer por ela"... Mas acrescentava logo a seguir: " Sem papéis era mais arriscado, para mais sendo mulher. Mas prometia lembrar-se do seu caso e do seu pedido"...
Determinada a sair do círculo vicioso da pobreza e da solidão, a Rosemarie começou a preparar a "mala de cartão" e, um dia, com a desculpa de ir visitar a mãe “muito doente”, obteve autorização para gozar uns dias de licença, na terra.
Nunca mais voltou a casa dos patrões em Cascais. E uma semana depois estava a atravessar os Pirinéus, escondida na mala do carro do Antoine.
Não lhe fez desconto nenhum, “o gajo” (como ela o tratava)!... E sabiam pouco um do outro. Mas deu conta que o Antoine se sentia atraído por ela... Na viagem, partilhada com mais gente (“rapazes novos, um deles fugido à tropa”), foram pondo, lenta e discretamente, a conversa em dia. Ela, sempre muito faladora, “um livro aberto”, ele sempre muito calado, de óculos escuros, a cigarrilha ao canto da boca, do lado da cicatriz…E usava um chapéu à cobói, que puxava para a cara, a tapar-lhe os olhos…
Na presença de terceiros, evitava ter com ela conversas mais pessoais. Respondia-lhe, quase sempre com monossílabos, os olhos postos na estrada, enquanto o Peugeot ia devorando quilómetros.
A cena mais caricata foi a passagem da Rosemarie num posto fronteiriço pirinaico, em Hendaia, que era pressuposto ser “da confiança do Antoine”.
Como era habitual, os homens que seguiam na viagem, apeavam-se uns quilómetros antes, ainda
em território espanhol, e seguiam por um trilho, seguro, atrás do guia basco que trabalhava
habitualmente com (ou para) o Antoine, que por sua vez os voltava a apanhar
mais à frente, já em França. Tratava-se apenas de salvar as aparências, não
fosse algum chefão aparecer por aquelas bandas sem avisar.
A Rosemarie foi poupada ao incómodo da travessia a pé,
seguindo, deitada e tapada com um cobertor,
na mala do carro do Antoine. À
frente seguia um empregado do Antoine, com a carrinha de nove lugares,
vazia. Cada passageiro transportava na mão as valises en carton, no trajeto a
pé. Traziam o mínimo, uma ou duas mudas de roupa, calçado, farnel…
Habitualmente era o Antoine que conduzia a carrinha e naturalmente, era conhecido, e mais do que isso, “amigo dos guardas fronteiriços”. Há muito que fazia os postos fronteiriços de Hendaia e Irun, sendo conhecido como marchand d’art. Na realidade, também comprava e vendia velharias, antiguidades e móveis de estilo, abastecendo algumas lojas no Norte de Portugal e na Galiza. Rentabilizava assim a viagem. Trazia tralha. E no regresso levava viande à canon, carne para canhão (como ele dizia, na galhofa, lembrando-se porventura dos seus duros tempos de legionário).
Mas daquela vez estava de
serviço o “novato” de um agente que não conhecia o Antoine ou, pelo menos, não o reconheceu "tout court"... Mandou parar
o carro e abrir a mala…
A Rosemarie não ganhou para o susto, mas de acordo com as instruções do Antoine, “não tugiu nem mugiu”… Tudo se resolveu num ápice quando o Antoine “puxou dos galões”, e falou no nome do “chefe”, seu velho conhecido do tempo da Legião…
Aliviados, seguiram a viagem, pela route nationale 10 (desgraçadamente também conhecida como cemitério dos portugueses), sem mais sobressaltos, até ao destino, que era… o famigerado bidonvillhe de Champigny.
A Rosemarie, ingénua (quando lhe convinha), nunca soube, ao fim destes anos todos, quais foram les frais de transport... Mas, nesse troço da viagem, já em território francês, ficou então a saber que o Antoine era viúvo e vivia num château, nos arredores da petite ville de A.... no Val-de-Marne.
Simpático, cavalheiro, ofereceu à Rosemarie uma cama num duplex, grande demais para um homem que vivia sozinho, e que era a única parte habitável do casarão, que em tempos devia ter feito parte de uma quinta, sacrificada à expansão urbanística… O chateau não era, afinal, o "castelo dos contos de fadas" que ela imaginava...
Passada uma semana, já dormiam os dois na mesma cama. E ela arranjou, também por convite do Antoine, um primeiro emprego no bistrot, “O Cantinho da Saudade”.
Como sabia cozinhar, e "até cozinhava bem", foi uma boa aquisição para o tasco do Antoine. À noite, o bistrot enchia-se de clientes, a maior parte portugueses com saudade do "caldo verde" e de umas boas bifanas no "casqueiro".
Com o seu trabalho, a Rosemarie pagava a “renda da casa” e ia descontando um xis por mês para as despesas da passagem. Trabalhou um ano para o Antoine, sobravam-lhe uns trocos para os “alfinetes”… Saía de uma escravatura para se meter noutra, receava ela.
Arranjou, por isso, um part-time na limpeza de um consultório médico e depois numa clínica. Vinha a tempo de fazer o almoço para os dois. À tarde e à noite trabalhava no bistrot, era pau para toda a obra, estava na cozinha mas também dava um jeito nas mesas e ao balcão. E ao fim de semana havia fado…
Ao fim de alguns meses, lá pelo volta do Nöel de 1967, já se “desemerdava” (sic) com o francês. "A vida rolava bem". Estreou-se tempos depois no bistrot a cantar, em caraoque, a Amália e a Maria da Fé, que também começava a estar na moda…
Ainda não havia
guitarrista, só viola. Alguém desencantou um tipo fugido à tropa que em tempos
tinha acompanhado, à guitarra, fadistas amadores em tascos do Bairro Alto. Trabalhava como operário numa fábrica da Citröen. Dois
ou três meses depois, com muitos ensaios, a Rosemarie apresentou-se, de xaile
preto e rosa vermelha ao peito, a cantar o fado no bistrot, acompanhada à guitarra e à
viola…
− Comme il faut!
− Une deuxième Amalia! – garantia ele aos seus amigos franceses.
Foi a altura em que os
nossos anfitriões da Casa de Óbidos a conheceram. Foi também o melhor período
da vida da Rosemarie, não só da sua vida em França, como de toda a sua vida!
− Ah!, oui, j’ ai été três heureuse à cette époque-là! − garantiu-me ela.
A Rosemarie, aux yeux verts, "de olhos verdes", começou a ser notada. E o bistrot do Antoine duplicou a faturação. Mas o seu principal negócio continuava a ser o “ilegal”, o transporte de imigrantes clandestinos, de carro e de comboio… Como fachada legal e fiscal, tinha o bistrot e uma loja de antiguidades, no próprio château, na prática, um depósito de velharias… Com os negócios a prosperar, também comprou um licença de táxi e arranjou um motorista, luso-francês de confiança.
Mas era a atividade de passador que lhe garantia mais proveitos. Terá ajudado centenas de portugueses e até magrebinos, a instalarem-se e legalizarem-se em França. E dizia-se até que explorava os desgraçados dos imigrantes com o aluguer de algumas "barracas" em Champigny. Coisa que a Rosemarie nunca soube (ou nunca quis saber). Nisso era notável a sua habilidade em ignorar, escamotear ou "branquear" algumas partes mais desagradáveis da sua vida em comum com o Antoine Ben Oliel.
Tudo corria bem, para o Antoine (e para a sua companheira),
até à crise económica de 1973 e sobretudo até ao 25 de Abril… Meteu-se depois la merdre de la politique, lamentou-se a Rosemarie. A partir de 1974, começou
a baixar a clientela do bistrot e as viagens a Portugal tornaram-se mais
espaçadas…
− Et le fado devient… réactionnaire! – indignava-se ela.
− Reacionário... como assim ? – perguntei-lhe eu, fazendo-me ingénuo,
Não soube ou não me quis responder. Repetia apenas que o fado se tornara "reacionário", e que os baladeiros haviam destronado os fadistas...
Em suma, a Rosemarie “perdeu o pio”, deixou de cantar por uns tempos, aproveitando a má maré para dedicar mais tempo à sua atividade principal, de femme de ménage. Criou uma empresa de limpezas, com o Antoine como sócio minoritário… E que foi um sucesso. Começava assim a ganhar independência em relação ao “seu homem”…
− Há males que vèm por bem! − contemporizava eu.
Cantava, mais esporadicamente, em festas de portugueses, até meados dos anos 80… "Sempre em portugês"... Naturalmente que nessa altura a estrela da canção luso-francesa era a Linda de Susa... que a Rosemarie nunca conheceu pessoalmente, mas de cuja voz e canções também gostava muito. Viu-a apenas uma vez num concerto em Paris, já vedeta internacional.
Começou a fazer amigos franceses. E integrou-se muito bem naquela pequena cidade de província, na "banlieue" de Paris. Durante muitos anos não veio a Portugal, nem mesmo quando o pai faleceu. E por volta de 1987 ou 1988 consegue finalmente obter o divórcio do seu primeiro casamento. Nunca chegou a saber o destino que teve o seu primeiro marido, desaparecido para sempre, talvez assassinado numa lixeira de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
No início dos anos 90, o Antoine Ben Oliel, já sexagenário, terá tido uma depressão, começou a beber mais ido que o habitual, e os negócios ressentiram-se. Ela ajudou-o a reequilibrar-se com "apoio psiquátrico". Mas em 1995 ele tem uma nova recaída e faz um tentativa de suicídio. Puxou do revólver e apontou à cabeça. In extremis, ela salvou-o, mesmo com risco da sua própria vida... Na luta corpo a corpo, a arma ainda disparou dois ou três tiros para o ar... Talvez por gratidão o Antoine aceitaria, mais tarde, casar-se com ela, já no ocaso da vida.
Postes anteriores da série:
Em finais de 1953 está na Indochina, para logo, passados poucos meses, em 13 ou 14 de março de 1954, no início da batalha de Dien Bien Phu, ser ferido gravemente por um estilhaço de obus. Teve a sorte de ainda poder set evacuado e sujeito a uma cirurgia reconstrutiva.
Menos de dois meses depois, em 7 de maio de 1954, Dien Bien Phu cairia nas mãos dos viet-minh do general Giap, e muitos camaradas do Antoine, de várias nacionalidades, perderam lá a vida ou foram feitos prisioneiros. E muitos também não regressaram do doloroso cativeiro. (...)