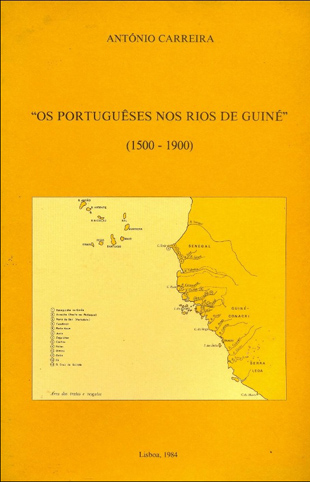Blogue coletivo, criado e editado por Luís Graça, com o objetivo de ajudar os antigos combatentes a reconstituir o puzzle da memória da guerra da Guiné (1961/74). Iniciado em 23 Abr 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência desta guerra. Como camaradas que fomos, tratamo-nos por tu, e gostamos de dizer: O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande. Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.
quarta-feira, 23 de agosto de 2023
Guiné 61/74 - P24578: Parabéns a você (2197): Fernando Cepa, ex- Fur Mil Art da CART 1689/BART 1913 (Catió, Cabedú, Gandembel e Canquelifá, 1967/69)
Nota do editor
Último poste da série de 22 de Agosto de 2023 > Guiné 61/74 - P24575: Parabéns a você (2196): José Luís Vacas de Carvalho, ex-Alf Mil Cav, CMDT do Pel Rec Daimler 2206 (Bambadinca, 1969/71)
terça-feira, 22 de agosto de 2023
Guiné 61/74 - P24577: In Memoriam (483): Senhora Enfermeira Maria Manuela Gonçalves Beja dos Santos (08/03/1937-22/08/2023), irmã do nosso camarada Mário Beja Santos
A mana Manuela e a sua devoção semanal na visita aos meus militares sinistrados
Mário Beja Santos
Mantivemos sempre uma relação extremosa, toda a vida, admiração com muito afeto recíproco. Adorava a sua profissão, começou numa instituição de saúde no Bairro Alto apoiando filhos de prostitutas e confessava que uma das suas maiores alegrias acontecera, muitos anos mais tarde, descia a rua do Alecrim, ouviu alguém aos gritos “enfermeira Manuela, enfermeira Manuela!”, uma mulher um tanto espaventosamente vestida atravessou a rua acompanhada de um adolescente, “Não se lembra de mim? Sou a mãe do Bruno que a senhora tratou sempre com grande carinho, deu-lhe as vacinas, fazia-lhe muitas festas, ainda hoje o Bruno fala de si”. E o Bruno ali ao lado da mãe sorria, dulcificado, nunca esquecera aquela profissional que o ajudara na infância. O seu principal mistério foi nos Serviços Clínicos da GNR, nas Janelas Verdes, fundamentalmente na pediatria. Mas não fugia a outras colaborações, como apoiar a colónia de férias da GNR, ali para os lados da Caparica, onde a fui visitar algumas vezes.
Mal chego à Guiné, e começaram as doenças e os sinistros. Entrado no Cuor, impõe-se imediatamente levar um soldado ao médico, Jolá Indjai, está prostrado e tosse constantemente. O médico adverte: tuberculizou, tem que ir para a metrópole, aqui não temos tratamento para ele. O Jolá leva algum pecúlio e uma folha com endereços. Dois meses depois chega o seu primeiro aerograma: “Alfero, veio cá no sábado a sua irmã, trouxe-me doces, deixou dinheiro e promete vir cá todos os sábados.” Anos mais tarde, os meus sobrinhos confirmavam: “Enquanto almoçávamos, a minha mãe ia preparando as coisas que ia entregar no anexo do Hospital Militar, na rua Artilharia 1, era sempre assim que começávamos o passeio de sábado.” A mana mandava cartas: “Ao princípio custou-me muito, mesmo sendo enfermeira custa ver tanto jovem mutilado e pela primeira vez na vida vi um ser humano sem braços e pernas. O Jolá partiu para o Norte, chegou o Paulo, tem o rosto todo despedaçado, perdeu um olho e tem um braço tolhido, penso que tu já sabes que vai ficar muito deficiente. Pediu-me roupa, se tu lhe podias mandar cola, perguntei-lhe se queria líquida ou em tubo, ele disse-me que é um fruto que não há cá, tu fazes a compra e mandas-me, eu levo-lhe.”
Os acidentados e doentes sucederam-se uns aos outros. Logo a seguir ao Paulo Ribeiro Semedo foi o Fodé Dahaba, brutalmente atingido por um fornilho, a lista não diminuiu, e os sábados à tarde não pararam quando regressei da Guiné. Mamadu Camará, que ingressara na 2.ª Companhia de Comandos Africana foi ferido num calcanhar numa operação em Salancaur, no Sul. Tudo se tentou, o pé engrenou, houve que o amputar. “Se foi teu soldado, volto ao anexo do Hospital Militar Principal, há que lhe dar companhia e apoio.”
Guardo uma nota curiosa que era o facto de haver uma dependência da Manutenção Militar ali bem perto onde se compravam bolachas de nome Tarata e Capitão, massas e outros géneros alimentícios a preços bem abordáveis, ia lá abastecer-me depois de visitar o Mamadu.
A mana Manuela faleceu ao início do dia de hoje, tivera um AVC em 30 de dezembro de 2016, ficou a viver num lar junto à escola em que se diplomou, a Escola de Enfermagem de S. Vicente Paulo, aqui faleceu. Todos aqueles doentes e sinistrados que ela visitou oriundos da Guiné, outros oriundos da metrópole, sofrendo de perturbações psiquiátricas ou com fraturas no calcâneo, nunca a esqueceram. Para meu pesar, a maior parte deles são hoje estrelas que nos alumiam. Mal sabia esta jovem enfermeira, a pousar no jardim da sua escola, que aqui iria fazer muito mais tarde voluntariado e aqui adormeceria para sempre.
Nos seus 75 anos houve festa, irrecusavelmente tomei a palavra para lembrar o que todos os presentes sabiam, a sua bondade para ajudar, lembrei que era uma mulher permanentemente ajoujada de sacos, recolhia e distribuía, isto em permanência. Gostava do seu petisco e era uma mulher bem divertida. Um dia estávamos a almoçar na Cooperativa Militar, na rua de S. José, entrou o antigo ministro das Finanças, Joaquim Pina Moura, com quem eu convivi num órgão constitucional, já ele estava muitíssimo doente, arrastando-se, levantei-me e fui cumprimentá-lo, e nisto a mana exclamou em voz alta: “Ai senhor doutor, como eu gostava de ver o meu irmão tão bem vestido como o senhor!” O Pina Moura fez um sorriso amarelo e marchou para a sua mesa. “Sim, Mário, devias andar vestido como estes senhores, essa mania da roupa comprada na Feira da Ladra tem que acabar.”
É muito penoso perder uma mana assim. Quando, de madrugada, a minha sobrinha me deu a saber o terrível que já prevíamos, sucederam-se as recordações, o que ela fizera pela minha gente guineense e não só, o primeiro banho à minha filha mais velha, os passeios com as sobrinhas, a permanente crítica ao meu modo de vestir, o seu telefonema às 6 da manhã em 24 de abril de 1974, a prevenir-me que havia uma revolução na rua e que partia as Janelas Verdes.
Perdi uma irmã adorada e a excelsa cuidadora de quem adoeceu e se acidentou na Guiné, um verdadeiro símbolo vivo de que a enfermeira atua em qualquer campo, na paz e na guerra.
O meu único consolo é que Deus já te recebeu no paraíso; e guardo para o meu todo o sempre o teu magnífico exemplo de solicitude e disponibilidade.
Nota dos editores:
Especialmente ao nosso camarada Mário Beja Santos e à sua sobrinha, deixamos o nosso pesar pela perda da sua irmã, e mãe, assim como o nosso abraço solidário.
A senhora Enfermeira Maria Manuela será, a partir de hoje, mais uma das estrelas que nos alumiam neste espaço temporal que medeia a nossa vida terrestre e a partida para a poeira cósmica.
CV
____________
Nota do editor
Último poste da série de 17 DE JULHO DE 2023 > Guiné 61/74 - P24483: In Memoriam (482): Notícia do falecimento de um dos filhos do nosso camarada Eduardo Moutinho Santos, o Jaime, com 56 anos de idade. Cerimónias fúnebres, amanhã, dia 18 de Julho, pelas 15 horas, no Centro Funerário-Crematório da Lapa (Igreja), Rua de São Brás - Porto
Guiné 61/74 - P24576: Recordando o Amadu Bailo Djaló (Bafatá, 1940 - Lisboa, 2015), um luso-guineense com duas pátrias amadas, um valoroso combatente, um homem sábio, um bom muçulmano - Parte XXXIII: Morés, Morés!

 |
O autor, em Bafatá, sua terra natal, por volta de meados de 1966. (Foto reproduzida no livro, na pág. 149) |
(i) o autor, nascido em Bafatá, de pais oriundos da Guiné Conacri, começou a recruta, como voluntário, em 4 de janeiro de 1962, no Centro de Instrução Militar (CIM) de Bolama;
(ii) esteve depois no CICA/BAC, em Bissau, onde tirou a especialidade de soldado condutor autorrodas;
(iv) regressou entretanto à CCS/QG, e alistou-se no Gr Cmds "Os Fantasmas", comandado pelo alf mil 'cmd' Maurício Saraiva, de outubro de 1964 a maio de 1965;
(v) em junho de 1965, fez a escola de cabos em Bissau, foi promovido a 1º cabo condutor, em 2 de janeiro de 1966;
(vi) voltou aos Comandos do CTIG, integrando-se desta vez no Gr Cmds "Os Centuriões", do alf mil 'cmd' Luís Rainha e do 1º cabo 'cmd' Júlio Costa Abreu (que vive atualmente em Amesterdão);
(vii) depois da última saída do Grupo, Op Virgínia, 24/25 de abril de 1966, na fronteira do Senegal, Amadu foi transferido, a seu pedido, por razões familitares, para Bafatá, sua terra natal, para o BCAV 757;
(viii) ficou em Bafatá até final de 1969, altura em que foi selecionado para integrar a 1ª CCmds Africanos, que será comandada pelo seu amigo João Bacar Djaló (Cacine, Catió, 1929 - Tite, 1971)
(ix) depois da formação da companhia (que terminou em meados de 1970), o Amadu Djaló, com 30 anos, integra uma das unidades de elite do CTIG; a 1ª CCmds Africanos, em julho, vai para a região de Gabu, Bajocunda e Pirada, fazendo incursões no Senegal e em setembro anda por Paunca: aqui ouve as previsões agoirentas de um adivinho;
(x) em finais de outubro de 1970, começam os preparativos da invasão anfíbia de Conacri (Op Mar Verde, 22 de novembro de 1970), na qual ele participaçou, com toda 1ª CCmds, sob o comando do cap graduado comando João Bacar Jaló (pp. 168-183);
(xi) a narrativa é retomada depois do regresso de Conacri, por pouco tempo, a Fá Mandinga, em dezembro de 1970; a companhia é destacada para Cacine [3 pelotões para reforço temporário das guarnições de Gandembel e Guileje, entre dez 1970 e jan 1971]; Amadu Djaló estava de licença de casamento (15 dias), para logo a seguir ser ferido em Jababá Biafada, sector de Tite, em fevereiro de 1971;
(xii) supersticioso, ouve a "profecia" de um velho adivinho que tem "um recado de Deus (...) para dar ao capitão João Bacar Jaló"; este sonha com a sua própria morte, que vai ocorrer no sector de Tite, perto da tabanca de Jufá, em 16 de abril de 1971 (versão contada ao autor pelo soldado 'comando' Abdulai Djaló Cula, texto em itálico no livro, pp.192-195) ,
(xiii) é entretanto transferido para a 2ª CCmds Africanos, agora em formação; 1ª fase de instrução, em Fá Mandinga , sector L1, de 24 de abril a fins de julho de 1971.
(xiv) o final da instrução realizou.se no subsector do Xitole, regulado do Corunal, cim uma incursão ao mítico Galo Corubal.
(xv) com a 2ª CCmds, comandada por Zacarias Saiegh, participa, em outubro e novembro de 1971, participa em duas acções, uma na zona de Bissum Naga e outra na área de Farim;
O nosso camarada e amigo Virgínio Briote, o editor literário ou "copydesk" desta obra, facultou-nos uma cópia digital. O Amadu Djaló, membro da Tabanca Grande, desde 2010, tem cerca de nove dezenas de referências no nosso blogue.
Dias depois, em princípios de janeiro de 1972, eu e o Tomás Camará voltámos a Morés.
Saímos de Bissau para Mansoa, onde apanhámos uma grande coluna até Bissorã. Aqui, depois de uma curta paragem, prosseguimos para o Olossato[ 1].
Quando chegámos, o comandante da companhia[2] do Olossato apresentou-nos o guia da zona, um homem de meia-idade. Jantámos e começámos os preparativos para a saída, para norte de Morés.
Andámos toda a noite até chegarmos a uma bolanha. Aqui, o guia chamou-nos a atenção de que tinha sido nesse local que perdera um filho, numa vez em que ambos tinham saído a servirem de guias à nossa tropa. Da bolanha víamos a mata de Morés, bem à frente dos nossos olhos.
Quando começámos a atravessá-la, fomos detectados. Durante a travessia e até entrarmos na mata as morteiradas não pararam. O PAIGC devia ter muitas granadas, sempre a fustigar-nos, mas com má pontaria, felizmente para o nosso grupo. Não respondemos ao fogo.
Ao progredirmos na mata vimos um homem a preparar-se para subir uma palmeira, com uma espécie de cabaça que trazia à cintura para extrair vinho de palma.
Quando o homem estava mais ou menos a meio da subida, avançámos na direcção dele e vimos três ou quatro pessoas em fuga. Disparámos meia dúzia de tiros na direcção deles e mandámos o homem descer.
Perguntámos-lhe onde ficavam as barracas e ele respondeu ‘muito longe, é muito longe’. Estávamos detectados há já muito tempo, não havia volta a dar. Eram cerca de 15h00 da tarde. O homem foi andando connosco, enquanto as morteiradas acompanhavam a nossa progressão. Decidimos que ia ficar connosco até ao pôr-do-sol, mas como nos pareceu que o prisioneiro não tinha grande importância acabámos por deixá-lo ir à vida dele.
A seguir rumámos para poente e, das 18 até às 23h00, continuámos a andar em direcção a uma zona, onde a retirada fosse mais fácil. Durante toda a noite, a área continuou a ser batida pelas armas pesadas do PAIGC. E, já de manhã, recebemos ordem do Olossato para retirar.
Quando chegámos ao Olossato, ainda antes do meio-dia, apanhámos a coluna para Bissorã. Tudo correu sem problemas na deslocação e quando chegámos àquela pequena povoação estava uma grande coluna à nossa espera, que nos levou de regresso a Mansoa e depois a Bissau.
Terminou assim, uma operação, sem contacto directo com o IN, mas que serviu para os mais jovens comandos esquecerem a anterior odisseia que ocorreu, dias antes, bem no centro de Morés. Havíamos ainda de voltar.
Não desistíamos. Desta vez, duas companhias nossas dispersaram-se por vários locais da área de Morés. A saída[3] não tinha começado bem. À ida, mais ou a menos a meio do percurso entre Mansoa e Bissorã, uma viatura da coluna pisou uma mina anticarro e tivemos dois mortos[4] e vários feridos, entre os quais um capitão europeu e um soldado[5], que perdeu uma perna.
Depois das evacuações, retomámos o andamento e ainda a pouca distância do local onde tinha rebentado a mina, apeámo-nos e internámo-nos na mata. Guiados por um homem, bom conhecedor da zona, rumámos para nascente, sempre a andar até ao anoitecer.
Passei para a frente e, com todos os cuidados, fomo-nos aproximando de um homem que estava a preparar o material para tirar vinho de palma. Prendemo-lo e entrámos em contacto com um grupo nosso, onde se encontrava o major Almeida Bruno.
– Mantenham o homem aí, que eu quero falar com ele.
Depois de chegar, perguntou-lhe onde se situava o acampamento do PAIGC.
– Muito longe – respondeu.
Um interrogatório sem resultados, o homem não sabia nada de nada ou dizia sempre o mesmo, que o acampamento era longe demais.
Estavam a ser 09h00 e a nossa presença já devia ter sido notada desde o dia anterior. Uma avioneta esteve a sobrevoar a zona, a nossa presença não era novidade para ninguém. Nestas condições, o major disse-me para o acompanhar a uma tabanca abandonada, para montar a segurança, enquanto chamava os helis. E deu também instruções ao alferes Carolino para se manter emboscado no local onde se encontrava.
O nosso grupo foi caminhando para Sinchã, a tal tabanca abandonada. Enquanto o major pedia o helicanhão estendemos uma tela de sinalização. O heli chegou, o major Bruno entrou no aparelho e, quando estava a ganhar altura, ouvimos tiros e rebentamentos, vindos do local onde estava emboscado o grupo do Carolino, da 2ª Companhia. Tentei o contacto rádio com o Carolino, mas não obtive resposta. O que ouvi, foi ele a pedir uma evacuação mike[7].
Já no ar, o major perguntou-me o que se estava a passar. Respondi que não era nada com o meu grupo, que tinha ouvido o Carolino pedir uma evacuação e que ia tentar saber mais pormenores. Voltei a tentar o contacto com o Carolino até que, finalmente, tive resposta.
Transmiti-lhe que ia tentar progredir na direcção dele e que avisasse os seus homens da nossa aproximação. Quando o encontrei, disse-me que um grupo do PAIGC tinha caído na emboscada.
– Caíram na emboscada e vocês tiveram um morto? E eles?
– Talvez alguém do PAIGC esteja caído ali em frente.
Abrimos em linha e, cautelosamente, fomos avançando até encontramos uma picada. Não vimos nada, nem um único rasto de sangue.
– Como é possível, Carolino, vocês estarem emboscados, não fazerem nenhum morto ao PAIGC e foram vocês que sofreram um morto? Como é possível, Carolino?
Quando estavam emboscados, os homens do grupo do Carolino viram um grupo do PAIGC. Pensaram que era o Djamanca e os seus homens que vinham na direcção deles e um soldado, o Sherifo Canhá, levantou-se e disse-lhes:
– É para aqui!
Levou logo uma rajada que o atingiu com muita gravidade[8].
A seguir recebemos ordem para regressarmos para Mansoa, pelos nossos meios, a pé. Sem esperar mais nada, iniciámos a marcha, até que, por volta das 16/17h00, atingimos a estrada que liga Bissorã a Mansoa.
Quando chegámos, o comandante do destacamento lamentou-se, que ninguém os tenha avisado e, portanto, que não estavam a contar connosco. Pediu também desculpa por não ter guardado jantar mas que tinha sobrado uma panela de sopa. Deu um prato para cada um, o que nos caiu muito bem.
____________
Notas do autor ou do editor literário (VB);
[1] Nota do editor: a cerca de 17 km, a nordeste de Bissorã.
[2] Nota do editor: da CCav 3378.
[3] Nota do editor: 7 fevereiro 1972, operação “Juventude III”.
[5] Ussumane Seca, DFA.
[6] Nota do editor: de 8 fevereiro 1972.
[7] Morto.
[8] Nota do editor: o soldado comando Serifo Canhá, da 2ª CCmds, foi evacuado para o HM241, onde morreu no dia 11 de fevereiro 1972; a Op “Juventude III” foi dada por encerrada em 12 fevereiro de 1972.
(*) Último poste da série > 21 de julho de 2023 > Guiné 61/74 - P24493: Recordando o Amadu Bailo Djaló (Bafatá, 1940 - Lisboa, 2015), um luso-guineense com duas pátrias amadas, um valoroso combatente, um homem sábio, um bom muçulmano - Parte XXXII: Op Safira Solitária, na véspera do Natal de 1971, "ronco" e "desastre" no coração do Morés, com as 1ª e 2ª CCmds Africanos a sofrerem 8 mortos e 15 feridos graves (pp. 212-224)
Guiné 61/74 - P24575: Parabéns a você (2196): José Luís Vacas de Carvalho, ex-Alf Mil Cav, CMDT do Pel Rec Daimler 2206 (Bambadinca, 1969/71)
Nota do editor
Último poste da série de 19 DE AGOSTO DE 2023 > Guiné 61/74 - P24566: Parabéns a você (2195): Mário Fitas, ex-Fur Mil Op Especiais da CCAÇ 763 (Cufar, 1965/66)
segunda-feira, 21 de agosto de 2023
Guiné 61/74 - P24574: Notas de leitura (1608): "Os Portugueses nos Rios de Guiné (1500-1900)", por António Carreira; edição de autor, Lisboa, 1984 (2) (Mário Beja Santos)
 1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 17 de Setembro de 2021:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 17 de Setembro de 2021:Queridos amigos,
António Carreira foi bastante ousado neste seu ensaio, não lhe faltou ambição, alerta o leitor, procura pôr à sua disposição informações sobre as principais causas da escassa presença portuguesa na região da chamada Senegâmbia Meridional, disseca as incúrias que incorreram para este fracasso, e desmonta a teoria da conquista da região cuja posse efetiva não ultrapassou cerca de 60 anos. Não foge à polémica e dá mesmo as suas razões para dizer que o crioulo que se fala na Guiné é visceralmente herdeiro do crioulo cabo-verdiano, é língua veicular recente, começou a titubear na década de 1920 e confirmou-se como língua franca na década de 1960. Benjamim Pinto Bull não concordaria com esta opinião e talvez outros estudiosos da génese do crioulo guineense. Estamos perante um ensaio que remexe nas entranhas da ocupação portuguesa, das relações comerciais, mantém-se atento àqueles grupos de judeus que se fixaram à volta do rio Senegal, estuda o comércio em torno do Casamansa, do Cacheu, do estuário do Geba, do Rio Grande de Buba; mostra o esforço desenvolvido na Restauração para se conseguir fixação no território. Enquanto tudo isto se passa, os guineenses vivem fora da economia de mercado, tudo se alterará com o cultivo em larga escala da mancarra e do arroz. Obra incontornável, não se percebe como se ficou numa edição modesta, é mais do que credora de uma nova edição para quem estuda a Guiné com bases no rigor dos dados e na desmontagem de mitos e falácias.
Um abraço do
Mário
Os Portugueses nos Rios de Guiné (1500-1900) – 2:
Leitura indispensável
Mário Beja Santos
António Carreira (1905-1988) foi um administrador colonial que deixou um impressionante legado historiográfico, a Guiné foi o centro dos seus trabalhos. Os Portugueses nos Rios de Guiné (1500-1900), edição de autor, Lisboa, 1984, é uma obra de leitura obrigatória, insere uma síntese admirável sobre diferentes incursões do autor nos campos da etnografia, da economia, do tráfico negreiro e o histórico da presença portuguesa na Senegâmbia meridional. Inevitavelmente, disserta sobre a questão do tráfico negreiro, fazia parte da permuta de mercadorias e bens por escravos, chamava-se resgate. A moeda surge mais tarde, no último quartel do século XVII, ganha então importância a pataca espanhola, em prata. Carreira observa que a difusão da prata amoedada deve-se quase exclusivamente aos espanhóis, a pataca impôs-se a todas as outras moedas no mercado do setor.
E refere os itinerários da escravatura:
“As carregações de escravos eram encaminhadas (pelo menos de 1468 a 1645/47) em regra para a ilha de Santiago e dali com destino a Portugal, Cádis, Sanlúcar de Barrameda, Canárias, Índias de Castela, Antilhas, Santo Domingo, Cartagena, Nova Espanha (México), Barbados, norte do Brasil. E o autor também elenca os géneros de origem africana movimentados em exclusivo na costa, caso do algodão e respetivos panos, âmbar, anil vegetal, nozes de cola".
De 1700 a meados de 1800, observa o autor, iremos assistir à desorganização das trocas comerciais, era grande a pressão dos régulos para fazer transações fora das alfândegas, a desorganização abriu as portas à desagregação – ruínas das fortificações, insuficiência das guarnições militares, recessão comercial, ausência de navios de longo curso, falta de rendimentos para as mais elementares despesas, assistiu-se a um apagamento de Cacheu, Farim e Ziguinchor. E tudo foi agravado pelas constantes lutas intestinas entre etnias e fações de uma mesma etnia, passaram a ser endémicas.
Tenta-se uma resposta, é criada a Companhia de Grão-Pará e Maranhão, entidade que teve no encargo, em exclusivo, a governação e a exploração económica das ilhas de Cabo Verde e dos presídios da Guiné, de 1755 a janeiro de 1758 – a empresa administrou os presídios, cobrou receitas públicas e pagou despesas com a manutenção desses organismos, adquiriu géneros de produção africana e, acima de tudo, escravos. Carreira dá-nos o contexto para a panaria cabo-verdiana e depois a guineense, os chamados “panos da terra”.
Todo o seu notável ensaio sobre quatro séculos de presença portuguesa nos rios de Guiné tem um cunho profundamente didático. Veja-se um exemplo:
“Capitania e suas dependências é a designação usada para definir o governo de Cabo Verde, sob cuja jurisdição estava a parte continental conhecida por ‘Rios de Guiné’. O esquema que podemos chamar divisão territorial baseou-se nas praças, presídios, pontos ou postos e feitorias. O número de praças, de presídios e postos manteve-se quase sempre o mesmo e nos mesmos locais até 1831, quando por razões ligadas à penetração francesa no rio Casamansa, se criaram dois postos militares, o de Bolor, na margem direita do Cacheu, e o de Gonzo, na margem esquerda do Casamansa".
Um outro dado importante que Carreira põe em destaque é o fim da supremacia Mandinga e a invasão dos Fulas. Tudo começa com a invasão do Cabu. Em 1850/1851 teve lugar o recontro mais violento conhecido por batalha de Bérécolom e cerca de 1853/1854 cresceu a intervenção dos Futa-Fulas. E dá-se a batalha de Turuban em que foram derrotados e submetidos os Mandingas, assim como os outros povos das regiões periféricas. O mesmo aconteceu com os Manjacos da Costa de Baixo que se sublevaram e se independentizaram do poder central. A presença portuguesa entrara num vespeiro. Com um novo poder do Cabu, com os Fulas-Pretos a libertarem-se dos Fulas-Forros e a encaminharem-se para o Sul, deu-se o confronto entre estes Fulas e os Beafadas. Todo o território do Cabu foi invadido por uma expedição procedente do Casamansa, dirigida por Mussá Mõló que se declarou porta-bandeira da libertação dos Fulas cativos ou Fulas-Pretos do domínio de outras etnias. Eclodiu um tipo de guerra de libertação acompanhado de pilhagens e escravização.
Foi uma guerra que se prolongou até cerca de 1899 e que teve aspetos desastrosos para a presença portuguesa, impotente para intervir numa autêntica Guerra Santa do Islão, o suserano do Cabu decretara em 1874 a anexação do território de Bolola, os derrotados eram escravizados pelos grupos islamizados dominantes, Fulas-Forros e Futa-Fulas. Todos os regulados à volta viviam em estado de terror. Quando acabaram as guerras, o Islamismo vingou, quase todo o Forreá aceitou o Islão, embora o povo tenha permanecido animista. Com toda a dificuldade da falta de recursos, foi nos presídios de Geba e Buba que se reagiu recorrendo a tratados de paz. Em 1881, assinou-se em Bolama, com certo aparato, o tratado de paz com os régulos Fulas, Futa-Fulas do Forreá e do Futa-Djalon. O tratado nunca foi cumprido, representou para Portugal um processo dilatório, um compasso de espera para permitir o rearmamento.
Chegada a hora de proceder às conclusões, Carreira é muito frontal quanto a tudo o que apreciou no seu trabalho:
“Parece lícito afirmar que até à segunda metade do século XIX a evolução do processo histórico da Guiné mostra que o território viveu quase fechado a culturas estranhas, com a sua economia de subsistência, esta auxiliada um tanto pela comercialização, em modesta escala, de couros, cera, algum marfim, panos e bandas de algodão. E escravos.
O comércio das praças cingia-se à troca de mercadorias importadas por géneros de cultivo ou de realização africanos. A moeda praticamente não funcionava.
A mancarra será cultivada em apreciável escala em 1919-1920. Os couros que se exportavam não provinham do território da Guiné. Pode dizer-se que só a partir daí as populações guineenses entraram na economia de mercado. As praças e presídios serviam de pontos de apoio para fins meramente mercantis – a europeus, mestiços e cristãos da terra. A convivência dos ocupantes das praças e presídios com as populações em derredor dependia da vontade das autoridades tradicionais.
Em nossa opinião, não se criou nenhum crioulo na área conhecida por Guiné. O que se deu foi a difusão dos rios da Guiné do crioulo nado em Cabo Verde. Havia elementos de ligação (os Línguas) que falavam o proto crioulo, o Pidgin. O crioulo cabo-verdiano só se transformou com intensidade em língua franca acessível a todas as etnias nos anos 1920 e seguintes e de forma rápida nos anos de 1960”.
A historiografia possui poucas sínteses deste valor, é deplorável que este trabalho não tenha vindo a ser reeditado, atendendo ao papel incontornável que ocupa nos estudos portugueses e guineenses.
Nota do editor
Último poste da série de 18 DE AGOSTO DE 2023 > Guiné 61/74 - P24565: Notas de leitura (1607): "Os Portugueses nos Rios de Guiné (1500-1900)", por António Carreira; edição de autor, Lisboa, 1984 (1) (Mário Beja Santos)
Guiné 61/74 - P24573: O Nosso Blogue como fonte de informação e conhecimento (103): Quem tem alguma história, foto, pele, troféu, etc. do hipotómano-pigmeu (Choeropsis liberiensis), considerado hoje extinto na Guiné-Bissau, durante ou logo após a guerra colonial, e que terá sido visto, pela última vez, em 1958, junto ao rio Corubal, por um oficial da Marinha Portuguesa, que integrava a Missão Geo-Hidrográfica? (Luís Palma, biólogo, CIBIO/UP)
Caros Srs:
Luís Palma | luis.palma@cibio.up.pt
Guiné 61/74 - P24572: Contos com mural ao fundo (Luís Graça) (7): Sozinho, como um cão
Foto: © Luís Graça (2011)
Contos com mural ao fundo (7) > Sozinho, como um cão
por Luís Graça (*)
Estive no seu leito de morte. Um fatal cancro dos pulmões, porventura curável nos nossos dias, roubara-lhe a vida, há uns trinta anos atrás. Teria hoje os seus 80 anos, se fosse vivo. Morreu jovem, demasiado jovem.
Era um dos meus heróis da adolescência, o Doc. Tinha lentamente recuperado a alegria de viver, depois de uma grave crise que ele próprio qualificara de “existencial”.
A origem dessa crise remontaria, pelo menos, a setembro de 1967, altura em que ele regressara da Guiné, onde havia conhecido a “guerra, pura e dura”.
Era um dos meus amigos, da época da minha adolescência. Dele guardarei para sempre uma grande saudade, não obstante as nossas vidas, cruzadas como tantas outras, se terem separado no final da década de 1960.
Nessa altura eu fui para a tropa e ele estava a retomar, a custo, em Coimbra, os seus estudos de medicina que a vida militar viera interromper abruptamente.
A imagem mais dolorosa que guardo dele, é a da cama de um hospital, em Lisboa, num quarto, minúsculo, ao fundo de um corredor sombrio. Sem janelas. Sozinho como um cão, anichado em posição fetal, a escassas… 48 horas de exalar o seu último suspiro, como virei a saber mais tarde, pela… telefonista de serviço
Reconheceu-me só pela voz, não se moveu nem um centímetro, estava lúcido, mas já em grande sofrimento. Só lhe sussurrei, quase em cima do ouvido, um tímido “Olá, Doc”. E acrescentei, estupidamemente: "Coragem!".
As suas únicas (e últimas) palavras, roucas, cavernosas, inumanas, soaram-me a despedida, irremediável, sem retorno. Senti-as como um punhal cravado no meu peito. Guardei-as para o resto da minha vida:
− Luisinho (tratava-me sempre por Luisinho), vai-te embora, vai-te embora! – implorou. (Nunca saberei se era uma súplica, uma ordem ou uma expressão de raiva e impotência.)
Trinta anos depois, não me envergonho de o dizer, essas palavras, as últimas, as únicas, que ele proferiu, no seu leito de morte, na minha presença, ainda hoje me martelam a cabeça.
Senti um enorme sufoco por ver a morte triunfar, impante, sobre a vida, e ao mesmo tempo vergonha por ter sido incapaz de lhe tocar!... Como se ele já fosse cadáver!... Por pudor ou medo atávico da morte, não consegui sequer tocar-lhe. Muito menos dizer-lhe uma palavra de consolo, de conforto, de carinho. Só um tímido, inócuo e cobarde... "Coragem!".
Mais tarde, talvez para tranquilizar a minha consciência e não sentir o peso da minha fraqueza e sentimento de culpa, iria interrogar-me sobre o significado que ainda poderia ter o meu gesto de compaixão, no momento mais pungente e solitário da vida de um homem… Que é quando um gajo agoniza, lúcido mas a sofrer, longe do mundo, já muito longe daqueles que nos amaram e que nós amámos!…
Em boa verdade, ele não tinha ninguém à sua cabeceira, morreria dois dias depois, “sozinho como um cão” (uma expressão que ele próprio usava, nos seus aerogramas, para falar da sua condição de combatente na guerra da Guiné, em 1965/67).
Morreria sozinho como um cão, aos 48 anos, longe da família, de que, aliás, só restava a irmã, e os sobrinhos que mal o conheciam. Não tinha filhos, pelo menos que se soubesse.
Tive um ataque de choro, convulsivo, enquanto saí dali, confuso, quase aos trambolhões, daquele corredor estreito e sombrio do hospital, sufocado, em busca do ar fresco do pequeno bosque que circundava o pavilhão, conhecido como o “terminal da morte”.
Recuando há muitos anos atrás, lembro-me do seu regresso da Guiné. Eu era o único amigo de que ele se lembrava. Ou melhor, eu era talvez o único amigo que ele ainda não queria esquecer.Tinha regressado da Guiné e não avisara ninguém da família. Nem sequer a namorada, a Xana. Muito menos os amigos, poucos, que vinham do tempo do colégio e do grupo de teatro amador, como era o meu caso. E eu, seguramente, era o mais novo.
De facto, nem sequer se dignara escrever-me, a mim, que era o seu correspondente e confidente (trocávamos correio enquanto ele esteve na Guiné, entre 1965 e 1967) e, no grupo de teatro, secretário, moço de recados, ponto, datilógrafo, figurante, aprendiz de ator, colador de cartazes… Além de sermos amigos e vizinhos de bairro, se bem que eu fosse mais novo do que eu uns bons seis anos.
Sentia-me lisonjeado com a sua amizade, mas também sabia que ele era um pessoa “difícil”, frequentemente “imprevisível e desconcertante”, "irascível e às vezes duro e até cruel, se não mesmo desumano”, como escreveu um dos seus "amigos críticos", no jornal da cidade, na notícia necrológica.− Olá, filho, sê bem vindo… Finalmente, em casa!
Eram os dois parecidos, pai e filho, em muita coisa, mas chocavam-se quando, por exemplo, discutiam a “guerra do ultramar” (como dizia o pai) ou a “guerra colonial” (como preferia chamar-lhe o filho). Uma questão terminológica que lhe punha os cabelos em pé, ao ponto de um dia ter partido a louça posta para o jantar.
Mesmo se tivesse “cunhas” (o que não era o caso), o pai nunca se humilharia perante ninguém para interceder pelo filho, livrando-o do ultramar ou, pelo menos, da Guiné… E depois a tropa e a guerra iriam "fazer dele um homem", como fora o seu caso, que combatera os alemães, os "boches", em Moçambique na I Grande Guerra.
− Lusinho (tratar-me-ia sempre por Luisinho, até ao fim da vida), não me leves a mal, mas não ouças o tonto do meu “Velho”…
Quando ele desembarcou, a única coisa que ele queria, era chegar a casa, não ver ninguém, não estar com ninguém, fechar as cortinas, enfiar-se na cama… E acrescentou algo que me chocou e perturbou:
− Sabes que mais?… Tenho asco a tudo o que é humano!
Não alcancei o que ele queria dizer com aquela estranha expressão. Mas ele insistia que precisava de dormir um “sono reparador”:
− … Dormir um dia inteiro, uma semana, um mês… Porventura, um ano ou até o resto da vida… Queria poder hibernar o resto da vida. Esquecer. Esquecer a tropa, a guerra, a Guiné…
Ainda ensaiei uma tímida tentativa de diálogo mas ele correu comigo, pondo-me fora do quarto… Aí assustei-me, fiquei chocado com a sua brutalidade mas sobretudo ao ver e rever o seu ar acabrunhado, as olheiras fundas, a cor da pele amarelada, a barba de vários dias, por fazer…
Afinal, era um “ataque de paludismo”, tranquilizou-me a pobre mãe que, à força de muitas súplicas e lágrimas, lá o convencera a ser visto pelo médico, amigo da família, e que, sendo de saúde pública, sempre devia perceber alguma coisa de doenças tropicais…
Nas costas da mãe e do médico, nesse fim de semana, despejou uma garrafa de uísque.
Na altura, confesso, eu até pensei que ele poderia estar com ideias parassuicidárias, como se diz hoje. Fiquei assustado com o estado de saúde, física e mental, do meu amigo.
E ainda estava fresca, na memória de toda a gente da terra, a morte por enforcamento do pai de um antigo colega meu de escola. Estava eu de piquete na redação do jornal, fazia os "faits divers", os nascimentos, batizados, casamentos e óbitos, e ainda vi, enquanto se aguardava a chegada da autoridade de saúde, o corpo a baloiçar numa barrote da caldeira onde trabalhava. Era o adegueiro.
Reconstituindo o que se passara nessa manhã de neblina, em que desembarcara, no Tejo, de um velho navio, misto, de mercadorias e passageiros, da carreira colonial, o Doc contou-me que durante a viagem e à chegada tinha tido “pensamentos confusos e impulsos contraditórios”.Justamente ia fazer dois anos que não se viam, ele e os pais e a irmã. Ele não viera de férias, por “razões disciplinares”: tinha apanhado uma “porrada” (sic) e, em consequência do castigo, tinha sido transferido para outra companhia, como mandava o RDM, o regulamento de disciplina militar (segundo depois me explicou).
Senti que esse episódio o marcara muito, mas nunca me deu grandes pormenores. E eu respeitei a sua revolta e sobretudo o seu silêncio. Era evidente que o assunto o incomodava, não gostando de falar dele.
Em aerograma que mandara aos pais, terá arranjado uma desculpa esfarrapada para justificar a impossibilidade de comparecer à festa, comemorativa dos 30 anos de casados, marcada para o verão de 1966. (E se a mãe tanto insistira com ele para marcar as férias para o mês de julho de 1966!).
A releitura dos seus aerogramas não me permitiu esclarecer cabalmente esta história que lhe sujou a “caderneta militar” (documento, aliás, a que eu nunca pus a vista em cima, se é que ele não o destruiu em vida).
Há dois episódios que poderão estar na origem da tal “porrada” ou castigo… Vejamos cada um, sem entrar em grandes pormenores.
O primeiro tem a ver com uma exaltada discussão com a Polícia Militar, em Bissau, quando ele tirou uns dias para ir ao estomatologista. Traduziu-se numa participação contra ele, tudo por causa de um cena de pugilato com outro militar (de que desconheço a patente, mas o mais provável era ser um 1º cabo).
O meu amigo Doc, que estava numa esplanada, perto da conhecida fortaleza da Amura, quis fazer justiça pelas suas próprias mãos, contra um grupo de “velhinhos”, ruidosamente festejando o fim de comissão e a véspera de embarque. Deram-lhes para se meter com os “djubis”, os miúdos que vendiam “mancarra" (amendoim), nas ruas da Bissau velha. frequentada pela tropa… Aliás, miúdos e miúdas.
Fizeram-lhes uma série de tropelias, o que começava a incomodar quem estava na esplanada, seguramente todos militares, uns fardados, outros à civil. O Doc interpretou isso como um ato de violência gratuita, se não mesmo racista, para mais sendo as vítimas crianças, indefesas, que tentavam ganhar a vida… Porém, de nada lhe valeu, a ele, puxar dos galões. O grupo estava alcoolizado e ninguém mediu as consequências dos seus atos. Às tantas generalizou-se a pancadaria, até que chegou a Polícia Militar e restabeleceu a ordem.
Abreviando a história, houve várias detenções. O Doc foi levado para o quartel da PM, que era ali mesmo ao lado, na Amura. Ficou lá cerca de duas ou très horas. Mas houve testemunhas que abonaram a seu favor. Nomeadamente, outros alferes que estavam sentados na esplanada, e que, por cobardia ou cautela, não se quiseram meter ao barulho. "Afinal, um militar fardado, para mais oficial, está ou não está 24 horas por dia de serviço?", interrogava-se o Doc, a limpar o sangue do sobrolho e ainda a espumar de raiva contra o grupo de arruaceiros.
O segundo episódio prende-se com uma situação algo semelhante, em que vem ao de cima o lado “justiceiro” e "solidário" do Doc, mas desta vez envolvendo um oficial superior (julgo que seria um major) que terá tratado mal (com insultos e ameaças de porrrada) alguns militares de um pelotão de caçadores nativos, adido à companhia de comando e serviços do batalhão a que pertencia o Doc.
Resumo o essencial da versão do Doc, num dos aerogramas que me escreveu: os militares, todos guineenses, estavam a abrir valas, à volta do perímetro do aquartelamento… Calaceiros, mandriões e outros epítetos ainda mais injuriosos terão acompanhado as ameaças do major (2º comandante, ao que percebi), impaciente com a fraca produtividade dos "nharros", dos "barrotes queimados" e outros insultos de semelhante teor (que o Doc interpretou como sendo racistas)...
À hora do bridge, e depois dos uísques do costume, a seguir ao jantar na messe de oficiais, o Doc, que assistira à cena da tarde, “impotente mas indignado”, caiu na asneira de comentar, em tom subtil mas jocoso, em voz alta, a versão do major sobre o "incidente", ao mesmo tempo que incriminava o alferes, comandante do pelotão em causa, por deixar os seus homens ao deus-dará... Este, cobardolas, estava enfiado na cadeira com o rabo entre as pernas...
O Doc terá citado um provérbio popular, muito usado na sua região: "Quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão"... Caiu o Carmo e a Trindade, na messe de oficiais… O major ficou lívido, "à beira de um ataque de nervos", era de resto um homem "histérico e irascível". O comandante veio de imediato em defesa dele e dahontra do convento, dando ordens ao alferes, ao Doc, para se recolher de imediato ao seus aposentos.
O médico do batalhão, que era conhecido do Doc, do tempo de Coimbra e da crise estudantil de 1962, terá interferido a seu favor, junto do tenente-coronel. Em vão, ao que parece. Não sei o desfecho da história. A verdade é que, passado pouco tempo, em maio de 1966, o Doc é transferido de unidade…
O castigo disciplinar, desproporcionado, teve consequências graves na sua vida militar na Guiné: perdeu, de imediato, o direito ao gozo da licença de férias, e passou, de uma região relativamente calma, o Leste, para outra, o Sul, onde a atividade operacional era mais intensa…
Tal como chegou, sozinho, assim partiu: nenhum dos seus camaradas, alferes milicianos, se dignou ir ao bar de sargentos beber um copo de despedida com ele. Teve apenas, à mesa, dois ou três furriéis que o estimavam... E julgo que o médico.
E, pior ainda, ele que tinha uma especialidade relativamente burocrática (era oficial de operações e informações), passou a andar no mato, de camuflado e de G3 em punho, como comandante de um grupo de combate numa companhia de caçadores…
Nunca soube ao certo por onde ele andou o resto da comissão… Porque nos aerogramas só vinha o SPM, o código do Serviço Postal Militar. E tinha sempre o cuidado de nunca se identificar. Assinava, na correspondência para mim, como “o teu amigo Doc”…
Num dos últimos aerogramas que me escreveu, já perto do final da comissão, confidenciara-me:“Tenho a mania que vou endireitar o mundo. A liberdade de expressão na tropa paga-se caro, com língua de palmo. Nestes quase quinze meses cá em baixo, na região a que chamam de Tomba...li, já conheci os múltiplos tormentos do inferno desta guerra: a sede, a fome, a insolação, os ataques de abelhas, a exaustão física e emocional, os tufóes e outras intempéries tropicais, a merda que te cobre o corpo, a solidão, a alienação, a desumanidade… Para não te falar do medo das minas e armadilhas, e das emboscadas, mais do que dos ataques e flagelações aos nossos quartéis, onde, apesar de tudo, tens um buraco para enfiar os cornos”…
− Luisinho (também me tratava por Luisinho, como o filho), o teu amigo Doc chegou!... Está vivo e inteiro, graças a Deus, Mas não está nada bem da cabeça, o meu pobre filho!... Está há dias ferrado a dormir, fechado no quarto, diz que não quer ver ninguém… Passa por lá, no fim de semana, pode ser que ele, por ti, se queira levantar e falar um pouco… Só lhe fazia bem...
A dona Domitília Meneses era uma santa senhora. Era professora primária, já reformada. Tinha sido minha professora da 4.ª classe e do exame de admissão ao liceu. Era moçambicana, de origem goesa, descendente de gente da pequena nobreza local, um dos seus antepassados teria sido vice-rei da Índia em meados do séc. XVIII, ao tempo do senhor Dom João V.
Já o mesmo não se poderia dizer do marido, também ele professor do ensino primário, velho republicano, maçónico... Era mais velho do que ela uns bons quinze anos, e fora aposentado compulsivamente da função pública na sequência, dizia-se, do apoio à candidatura do general Norton de Matos à Presidência da República em 1949.
Eu conhecia-o mal, era um homem amargurado, pouco sociável, para não dizer misantropo… Aliás, confesso que tinha medo dele, ou melhor, não gostava dele. Respeitava-o apenas por ser o pai do meu amigo e o marido da minha querida professora.
Raramente saía à rua, a não ser em algumas efemérides patrióticas, como o 1º de dezembro de 1640 ou o 5 de outubro de 1910. Ou para ir a Lisboa, consultar vários arquivos públicos. Dedicava-se aos seus livros, era um apaixonado africanista, correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa, interessando-se, muito em particular, sobre a história da colonização de Moçambique, no tempo da monarquia constitucional e da I República.
O único ponto em que estava de acordo com a política do Estado Novo era na questão da “defesa intransigente do Ultramar”. Tinha estado na sua juventude em Moçambique, primeiro como expedicionário e depois, mais tarde, como professor. E alí viria a conhecer a mulher em meados dos anos 30. O filho nasceria, na Beira, em 1942. E tivera como ama de leite uma jovem mãe negra.
Parecidos em muitos aspetos de personalidade, pai e filho, separados por quase cinquenta anos de diferença, engalfinhavam-se com frequência em discussões, por vezes violentas, sobre o que se estava a passar nos territórios ultramarinos portugueses (mas também na África Austral do "apartheid").
Tinha ideias, o “Velho”, sobre o futuro desses territórios (“possessões ou colónias, como queiras chamar-lhe”, dizia ele ao filho), defendendo todavia o princípio da autodeterminação progressiva, a par da criação de uma "Commonwealth" à portuguesa. Era um admirador incondicional da colonização britânica e da formação de elites locai.
O meu amigo Doc era, para mim, o irmão mais velho que eu nunca tivera, separavam-nos uma meia dúzia de anos. Tínhamos alguns interesses intelectuais em comum, a começar pelo teatro, a literatura, a arte e, claro, a política.
Nessa época, poucos jovens da minha idade tinham ainda “consciência política” (como então se dizia), porque só uma minoria tinha acesso a um educação de nível superior e a fontes de informação, independentes e credíveis. Vivíamos num regime de partido único, não havia opinião pública, os jornais estavam sujeitos à censura, havia a polícia política, a PIDE, e a única televisão de que dispúnhamos, a RTP, era a voz do dono, tal como a Emissora Nacional… Era o tempo dos 3 FFF: Fátima, Futebol e Fado, três coisas que o meu amigo Doc solenemente detestava…
O que é que eu sabia do que se passava em África, no nosso glorioso Império Colonial? Racismo, colonialismo, trabalho forçado, revoltas nacionalistas…? Não, nunca ouvira falar... Só me lembro, na igreja, teria eu 10 anos, por volta de 1958, de pedirem dinheiro ao meu avô, para ajudar as missões católicas, o mesmo era dizer, os “pretinhos da Guiné”...
Eu vivia numa pequena cidade da região centro, onde só os mais afortunados iam estudar para Coimbra (que ficava mais perto do que Lisboa)… A maioria dos jovens da minha geração sabia lá o que se passava em África… Mal sabiam do se passava à sua volta, nos campos e nas fábricas, no mar, nas escolas, nos quartéis, nos hospitais…
Enquanto ele, o Doc, esteve na Guiné, correspondiamo-nos regularmente, uma oiu duas vezes por mês. Eu guardei religiosamente os aerogramas que ele me mandava. Tinha intenção de os organizar por data e devolvê-los ao remetente, logo que ele chegasse, “são e salvo”, como eu esperava que ele chegasse.
− Queima-os, Luisinho, queima-os!
Não lhe fiz a vontade. Devia tê-lo feito? Continuaram guardados ao meu cuidado. Sempre pensei que ele poderia, com os anos, mudar de opinião. Mas, nunca mais quis falar da Guiné e desses "anos de chumbo" em que esteve na tropa e na guerra... (Acabei por entregar os aerogramas à irmã, no dia do seu funeral, e hoje tenho pena de não os ter fotocopiado, limitei-me a copiar alguns excertos. )
Sabia que o meu avô, materno, era da “situação”… Era um bom homem, ia à missa, raramente discutia política, e muito menos comigo… Não gostava do Salazar, é verdade, mas tolerava-o. Encolhia os ombros e, às vezes, desabafava com os filhos e netos, quando jantávamos lá em casa:
− Meus filhos, hoje o Salazar, amanhã, quem sabe, talvez pior, o diabo em figura de gente…
O meu avô, coitado, era dos que acreditavam que o Salazar é que nos tinha livrado da guerra, com a ajuda da Nossa Senhora de Fátima… Um seu irmão mais novo, que eu nunca cheguei a conhecer, tinha sido expedicionário nos Açores, durante a II Guerra Mundial, e tinha regressado a casa, “são e salvo"..., para morrer, afinal, uns meses depois, de "doença do peito", de tísica, de tuberculose... Falava-me que tinha tido muito medo, por causa do irmão, dos submarinos alemães que infestavam o Atântico Norte… e que chegavam a Cabo Verde. Ele ouvia a BBC.
De resto, tinha a sua tertúlia, os seus amigos, os seus petiscos. Mais importante: o meu avô tinha uma adega, a que chamavam a “adega do povo”, aberta a todos os amigos e vizinhos, embora já fora da cidade… Na adega também tinha o seu escritório e o seu arquivo.
O meu avô estava acima de todas as suspeitas. Era um homem respeitado e respeitável, guarda-livros de profissão, conhecia os “podres” das várias famílias importantes da terra… Razão por que todos o estimavam (e temiam), pondo as mãos no lume por ele. Em contrapartida, podiam contar com o seu “silêncio de ouro”.
Eu gostava muito dele, tinha bonomia e bom humor, nunca se chateava comigo. Dizia-me na brincadeira que era ele, o guarda-livros, quem tinha uma das três chaves do céu…
− Então?... E as outras duas, avô?
− Tem-nas o padre e o médico!...
A pior desgraça que podia acontecer a um guarda-livros era ser despedido (e, nalguns casos, preso) por abuso de confiança:
− Tens a chave mas não podes abrir a porta… E houve casos, meu filho (tratava-me por filho) de gente, nesta profissão, que não soube qual era o seu lugar, na ordem natural das coisas… Olha, um matou-se, o outro foi parar à prisão…
O Doc nunca me deixou publicar nenhuma notícia, a seu respeito, no jornal, um quinzenário, onde eu trabalhava, como estagiário e, em boa verdade, como “pau para toda a obra”, desde paquete a repórter, embora ainda sem cartão e jornalista (que era emitido pelo sindicato corporativo). Tínhamos uma secção, “Correio dos Heróis do Ultramar”, onde publicávamos notícias dos filhos da terra a cumprir “missões de soberania além-mar".
O jornal, regionalista, tinha uma orientação editorial que não se coadunava, de todo, com as ideias (políticas, estéticas, éticas e culturais) do meu amigo que, de resto, era conhecido na cidade como filho de um oposicionista, e já teria, ele próprio, ficha na PIDE (o que, em boa verdade, nunca foi confirmado pelo próprio, que não terá tido tempo, vontade e pachorra para ir à Torre do Tombo ver o seu processo).
O Doc estava a estudar em Coimbra, na faculdade de medicina, quando foi inesperadamente chamado para a tropa. Na secretaria, explicaram-lhe secamente que, tendo chumbado a uma cadeira, deixava automaticamente de beneficiar do privilégio do adiamento da incorporação militar… Nunca se chegou a apurar a verdade relativamente à suspeita de ter sido a PIDE a despoletar a questão na reitoria ou na direção da faculdade. Enfim, estivera também envolvido na crise académica de 1962, embiora fosse um "segunda linha"...
Preciso, entretanto, de acrescentar algo mais sobre o jornal onde eu trabalhava (e que foi, de resto, o meu primeiro emprego). O “meu” jornal estava ligado a uma família local, política, social e economicamente influente. O proprietário era o presidente do Grémio do Comércio.
A filha mais velha, por sinal minha catequista, casara com um “jovem e promissor advogado” que viera de Coimbra, no princípio dos anos 50, e que aqui se fixara.
A minha terra sempre acolheu bem “os de fora”. De imediato, esse advogado foi admitido no “seleto clube local” e aí não levou tempo a perceber quem poderia ser a sua futura clientela e, mais do que isso, quem eram as meninas casadoiras… Era ali que estava a elite local, aquela que tinha património, estatuto, influência, charme, poder e... algum dinheiro.
Ora um dos seus primeiros clientes foi justamente a empresa do futuro sogro, grande (para a época) armazenista de vinhos que exportava para África, e proprietário urbano, “dono de uma rua inteira da cidade” (como se dizia, não sem exagero).
Numa altura em que ainda não havia agências bancárias na província, e com os negócios a prosperar durante a II Guerra Mundial e no pós-guerra, o “Tio Patinhas” (como a gente lhe chamava, nas costas…), era o “banqueiro do povo”, emprestando dinheiro a taxas de juro, usurárias, dizia a má língua do povo. E também se acrescentava que ele fizera fortuna na II Guerra Mundial com os refugiados que se instalaram na nossa costa (Lisboa, Cascais, Ericeira, Figueira da Foz, Espinho, etc.), aguardando um visto para as Américas.
Também dizia a “santa inquisição local” que ele tinha costela de... “cristão novo”. O que toda a gente sabia, isso sim, é que ele tinha duas filhas casadoiras, as suas "princesas", que estavam à espera dos seus "príncipes encantados". E esses só poderiam vir de fora. Uma, a mais velha, a minha catequista, como disse, irá casar com o “jovem e promissor advogado de Coimbra”; a mais nova irá dar o nó com um médico, também coimbrão, que igualmente se fixara na nossa terra.
O meu futuro patrão, o advogado, teve, como uma das prendas de casamento a direção do jornal (a menos valiosa, materialmente falando, mas nem por isso despicienda para o seu projeto de promoção pessoal, profissional e até polílica).
Dentro de todos os condicionalismos da época (censura, autocensura, ausência de formação profissional e de regras de deontologia, não dissociação da propriedade e da direção, etc.) foi para mim a minha escola de jornalismo e de escrita, muito embora o Doc andasse sempre a gozar comigo por causa do meu “jornaleco”… Penso que ele não gostava sobretudo da pessoa do diretor…
Tínhamos uma diferença de quase trinta anos, eu e o meu diretor, a quem, confesso, devo alguns favores. Numa conversa franca, “cara a cara”, que tive com ele, diretor, na redação, no dia em que o Marcelo Caetano substitui o Salazar no Governo, ele fez questão de desvendar alguma coisa sobre a sua algo obscura vida coimbrã…
Vivia numa república de estudantes, envolvendo-se na política, no MUD Juvenil, o movimento juvenil democrático, constituído em 1945, no rescaldo da guerra…
− Paixões da juventude, coisas de garotos, que às vezes têm um preço alto – comentou ele, de um modo algo enigmático.
Como diretor do jornal, gostava de acarinhar os “jovens literatos” da terra, onde me incluía, gente que tinha saído do liceu, uns, poucos, que haviam entrado na universidade, outros, como eu, que esperavam a “sorte grande” da tropa…
Admirava agora os jovens, da geração 60, que estavam a aparecer, e que tinham até mais talento e cultura literária do que a sua geração… Para esses havia um cantinho no jornal, uma página juvenil… onde poderiam escrever, “sempre era uma melhor alternativa do que andar por aí a dar cabo da vida e da saúde, e a comprometer o seu futuro, em antros imorais e quiçá subversivos" (sic)...
Voltando ao meu amigo Doc… que nessa altura já estava, de regresso, a Coimbra e em risco de ser suspenso da Universidade, pela segunda vez.
Sempre o tratei por Doc, a partir do momento em que ele entrou na faculdade de medicina, ou até antes, quando ele começou a manifestar a sua intenção de abraçar a carreira médica, já no último ano do liceu… Eu, por meu turno, ainda estava longe de saber o queria fazer da minha vida... Mas começava a preocupar-me com a guerra que alastrava em Angola e com a mobilização dos meus vizinhos e conhecidos, mais velhos...
Em 1962 houve a crise académica, que só mais tarde vim a saber o que era... Em 1964 o Doc foi chamado para a tropa e, menos de um ano depois, estava na Guiné.
Parte da minha formação intelectual e até literária devo-lha a ele, ao meu amigo Doc. Emprestava-me livros, trazia-me livros e revistas quando vinha de Coimbra nas férias, incluindo alguns jornais e revistas, estrangeiros, franceses, que não chegavam à província, como “Le Monde” ou “Le Nouvel Observateur”…
Depois da sua prolongada “cura de sono” (que passou também por uma clínica de desintoxicação alcoolólica, devo acrescentar sem trair a sua memória…), acabou por voltar a Coimbra e à sua “doce boémia”… Com as economias que trouxe da Guiné, conseguiu assegurar a sua independência económica. Fez algumas cadeiras atrasadas no ano letivo de 1968/69. Mas o curso marcava passo. Houve mesmo quem apostasse comigo que ele nunca chegaria a ter o diploma de médico, "quanto mais a poder receitar uma aspirina a um morto"…
Mas foi também a época em que eu deixei de ver o Doc, com regularidade. Soube depois que se tinha incompatibilizado de vez com o pai, por causas eleições legistivas de 1969, rompendo de vez com a sua cidade natal. Há muito que deixara definitivamente o teatro da cidade, que de resto passou a ter um novo diretor, quando ele foi mobilizado para a Guiné. Enfim, fixou-se de vez em Coimbra.
E eu nessa altura já estava na Guiné, onde votei em branco nas eleições para a Assembleia Nacional. Ia tendo algumas notícias dele pela sua mãe, sempre extremosa, mas também pela irmã que estava em Lisboa, onde tirara o curso de germânicas, e que não escondia os seus cuidados pela saúde do irmão, mais novo. Depois perdemos o contacto... Deixámos mesmo de ser íntimos, se bem que a nossa amizade estivesse para durar até ao fim da vida...
Soube, por outras vias, que o Doc se envolvera também na crise de 1969, fora desta vez suspenso por dois anos, e tivera que ir trabalhar na Propaganda Médica (o que terá sido deveras penoso para ele).
Não tenho aerogramas dele do meu tempo de Guiné. Nunca nos correspondemos nesse tempo. E um ou dois que lhe escrevi, não tive coragem, confesso, de os pôr no correio...
Depois do meu regresso à Guiné, e da minha própria "cura de sono", soube notícias, já a viver e a trabalhar em Lisboa, da família do Doc: a dona Domitília Meneses não sobrevivera a um cancro da mama, uns bons anos antes da morte do filho.
Por seu turno, o marido já tinha morrido antes dela, não sem ter tido, porém, duas alegrias: a de ver o seu filho finalmente formado em medicina, aos 30 e picos anos, e logo a seguir a de ter podido dar vivas à liberdade, no 25 de Abril de 1974. (À boa maneira republicana, lançando o chapéu ao ar, enquanto alguns dos seus tradicionais inimigos políticos se trancavam em casa para ver em que paravam as modas.)
Por onde andou o Doc, agora médico de pleno direito, depois do 25 de Abril e até morrer, em 1990?
Enfim, "ando por aí", como me garantiu, "a ver se ainda consigo reconciliar-me com a humanidade"... Mas nunca mais voltou à Guiné. Uma vez por outra falavámos ao telefone, ele é que me ligava (em geral, pelos meus anos), eu nunca sabia ao certo por onde ele parava... Gostava de cultivar o mistério de uma certa clandestinidade.