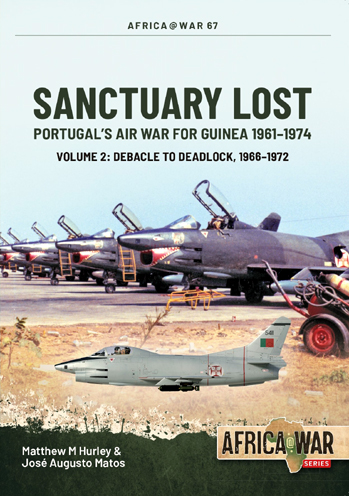1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 12 de Março de 2024:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 12 de Março de 2024:Queridos amigos,
Os autores procedem a uma análise do desempenho da Força Aérea na Guiné, nomeadamente no período de 1968 a 1971, o sistema de defesa antiaérea do PAIGC estava praticamente fora de combate, Spínola gostava tanto das operações conjuntas e o papel dos helicópteros tornava-se crucial, designadamente para o transporte das tropas especiais e evacuação de feridos; por outro lado, Spínola e o comando da Zona Aérea adaptaram o sistema instituído ao tempo de Schulz para as zonas de intervenção exclusiva, os bombardeamentos continuaram. Era incontestável que a capacidade agressiva dependia do apoio aéreo, em praticamente todas as situações. É esse o relato que aqui se condensa, houvera escalada da guerra, mas a supremacia aérea estava do lado português.
Um abraço do
Mário
O Santuário Perdido: A Força Aérea na Guerra da Guiné, 1961-1974
Volume II: Perto do abismo até ao impasse (1966-1972), por Matthew M. Hurley e José Augusto Matos, 2023 (17)
Mário Beja Santos
Deste segundo volume d’O Santuário Perdido, por ora só tem edição inglesa, dá-se a referência a todos os interessados na sua aquisição: Helion & Company Limited, email: info@helion.co.uk; website: www.helion.co.uk; blogue: http://blog.helion.co.uk/.

Capítulo 4: “A pedra angular”
Nos dois textos mais recentes, procurou-se dar conta dos problemas postos pelas defesas antiaéreas ao serviço do PAIGC e dos receios fundados, por parte do General Spínola, de intrusões aéreas oriundas dos países vizinhos e hostis. No fundo, problemas vindos do passado e que pareciam ganhar um novo realce o recurso de armas mais sofisticadas por parte da guerrilha.
Vimos como desde 1965 se procurou aniquilar a capacidade de defesa antiaérea, neutralizavam-se armas de defesa e os seus operadores, a Zona Aérea reivindicava ter destruído mais de 50 canhões antiaéreos ou tê-los seriamente danificado. Quando parecia que se tinha reduzido a quantidade de fogo antiaéreo reacendiam-se incidentes e, por exemplo, foram reportados 110 em 1966, não desapareceram completamente, mas, por exemplo, foram reportados 9 em 1971, número que subiu para 23 no ano seguinte. Como igualmente se referiu, a Operação Pérola Azul (julho de 1970) foi demolidora, o PAIGC adotou a estratégia de abrigar o seu armamento antiaéreo para lá da fronteira da República da Guiné.
A desmotivação afetou o PAIGC, havia comprovadas deficiências nesta batalha da defesa aérea, apesar de continuar a renovar-se o armamento eficaz e haver o apoio de peritos estrangeiros. Em 1971, Amílcar Cabral não escondeu as suas críticas pela falta de coragem para disparar contra os aviões. Recorde-se que a Força Aérea na Guiné entre 1965 e 1972 perdeu apenas uma aeronave devido a fogo hostil. Em 28 de julho de 1968, o Comandante do GO 1201, o Tenente-coronel Francisco da Costa Gomes, voava num Fiat para fazer reconhecimento fotográfico a norte de Guileje. Ao tentar localizar e fotografar posições antiaéreas ao longo da fronteira, o Fiat foi atingido por fogo de uma arma de 12,7 mm, supostamente a partir de território da República da Guiné. Os projéteis atingiram o depósito de combustível, incendiando o motor e a cauda, o comandante foi forçado a ejetar-se. O seu avião caiu a cerca de 4 km da fronteira, perto do quartel português de Gandembel. Depois de escapar às patrulhas dos guerrilheiros e aos perigos de campos minados, Costa Gomes conseguiu chegar ao quartel aonde um soldado que estava no turno em vigilância questionou aquela figura abatida e desconhecida, num fato de voo sujo, e pareceu-lhe velho demais para ser piloto. Tudo acabou em bem, o Tenente-coronel Costa Gomes voltou a Bissalanca sem mais incidentes.
Importa salientar que todo o esforço para aniquilar ou neutralizar o sistema antiaéreo do PAIGC constituiu uma pequena fração na atividade global da Força Aérea na Guiné. Desde que Spínola assumiu o comando, em 20 de maio de 1968, até final de 1972, os aviadores portugueses realizaram cerca de 12.408 missões de ataque, apoio de fogo e reconhecimento armado na Guiné, das quais apenas 67 (cerca de meio por cento) foram especificamente vocacionados para operações de aniquilamento dos referidos sistemas de defesa antiaérea. No entanto, este número de surtidas desmente a importância da luta da defesa aérea para ambos os lados do conflito.
O PAIGC tinha apostado muito na capacidade de conquistar e manter “áreas libertadas”, mas a validade das suas reivindicações diminuía com cada aeronave da Força Aérea que sobrevoava as ditas áreas libertadas sem serem molestadas. Em termos de tentar pôr a respeito a luta armada, confiava-se cada vez mais no poder aéreo para justificar que qualquer força militar podia chegar a qualquer ponto do território. Tudo conjugado, em meados de 1970 e uma inequívoca supremacia aérea, que obrigou o PAIGC a procurar uma resposta que pusesse em causa tal supremacia.
Capítulo 5: “Tudo estava dependente deles, de uma forma ou outra”
“Tínhamos, por um lado, 40 mil militares no terreno, que suportavam múltiplas dificuldades, o isolamento, o desconforto, o perigo constante… Por outro lado, 50 ou 60 pilotos, um máximo de 70. Tudo estava dependente deles, de uma forma ou outra.” – General Lemos Ferreira, Comandante da BA 12, 1971-1974.
Enquanto a batalha pela supremacia aérea se intensificava, a guerra terrestre expandia-se, em abrangência e intensidade. Em 1968, o PAIGC reivindicava o controlo de dois terços do território da Guiné, citava mesmo a decisão de Spínola é abandonar uma série de guarnições isoladas, as operações também se iam tornando mais letais: embora o total do número de ataque contra as forças portuguesas tivesse diminuído quase um terço entre 1969 e 1970, causaram cerca de 45% mais vítimas.
De acordo com o General Venâncio Deslandes, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, a eficácia de combate do PAIGC refletia quatro desenvolvimentos complementares: reforço material, tanto qualitativo como quantitativo; reforço de mão de obra, incluindo o uso de especialistas estrangeiros; reorganização militar que melhorou o controlo tático e a flexibilidade; avanço no sistema de informações, planeamento e de liderança tática.
Estas melhorias refletiam o esforço contínuo do PAIGC de transformar o seu braço armado numa “estrutura militar convencional”. Confrontados com a necessidade de contrariar um movimento militar e sociopolítico devido às iniciativas de Spínola, bem como a entrada no terreno cada vez mais de armas pesadas, o PAIGC “remodelou completamente a sua estrutura durante 1970-1971. Deixou de se falar em guerrilha, substituindo essas unidades por Forças Armadas Locais, uma designação para falar de forças regulares”. O Exército Popular foi também dividido em unidades distribuídos regionalmente, compostas por dois ou mais bi-grupos, com secções anexas, conforme as necessidades. A análise de Venâncio Deslandes resumia assim a situação: “Têm infantaria, artilharia e foguetes, ganharam maleabilidade para conduzir o esforço de guerra de acordo com a estratégia decidida ao mais alto nível.”
Segundo o serviço de informações, avaliava-se a força global do Exército Popular num pessoal de 4800 sediados na Guiné e 1200 nos países vizinhos, divididos em 73 bi-grupos de artilharia e dois grupos dos Comandos. Para contrariar este poder militar do PAIGC, Spínola, tal como Schulz, voltou-se cada vez mais para os recursos da Força Aérea. Em 1969, a Zona Aérea montou apenas uma operação de ataque pré-planeada (ver apêndice VI): este número cresceu para 22 no ano seguinte e 45 em 1971. Essas operações envolveram quase 3000 operações de ataque, na sua maioria realizadas por Fiat ou T-6, responsáveis por um terço de todas as missões de ataque e apoio aéreo registados de 1969 a 1971. Sem surpresa, os ataques aéreos pré-planeados centraram-se em áreas de maior atividade do PAIGC, tanto no Sul como nos setores ocidentais onde a guerrilha estava mais ativa. Muitas das outras surtidas e ataque de apoio de fogo tinham a ver com a guerra de helicópteros. De 1968 até finais de 1971, a Zona Aérea levou a efeito quase 160 operações com helicópteros, tanto no Este como no Sul, mobilizando milhares de soldados em mais de 3000 saltos. Praticamente todas estas operações foram apoiadas por aeronaves de asa fixa e rotativa que realizaram reconhecimento, bombardeamento preparatório, apoio de fogo, comando e controlo e evacuação de feridos. Em 1971, os ataques combinados ar-terrestres tinham assumido um papel fulcral na estratégia de Spínola, como observou um jornalista, dizendo que “os Alouettes raramente estavam parados, não se passa um dia sem que os meios aéreos estejam a funcionar.” Estas operações conjuntas representaram mais de 40 mil incursões durante os primeiros três anos e meio do comando de Spínola (julho de 1968 a dezembro de 1971 – ver anexo II), atingindo um pico total anual de 11320 em 1971. As aeronaves com mais tarefas, no inventário da Base Aérea 12 durante este período, foram o DO-27 e o Alouette III, indicativo dos vários tipos de missões e demonstrativo da centralidade da logística aérea tanto para o esforço de guerra como para os seus programas de apoio civil.
Atividade do sistema de defesa antiaérea do PAIGC entre 1968 e 1972 (Matthew M. Hurley, com base em documentos oficiais portugueses)
O Fiat n.º 5411 poucos dias antes de ter sido abatido perto da fronteira da República da Guiné (Coleção José Nico)
Detalhe do Fiat n.º 5411 abatido pelo PAIGC (Casa Comum/Fundação Mário Soares)
Destroços do avião Fiat n.º 5411 a 4 km da fronteira da República da Guiné (Arquivo da Defesa Nacional)
Posições do sistema antiaéreo do PAIGC a cerca de 200 metros da fronteira com a Guiné Portuguesa, aquando no abate do Fiat nº5411 (Arquivo da Defesa Nacional)Estrutura militar do PAIGC em 1971
(continua)
____________
Nota do editor
Último post da série de 15 DE MARÇO DE 2024 > Guiné 61/74 - P25276: Notas de leitura (1676): O Santuário Perdido: A Força Aérea na Guerra da Guiné, 1961-1974 - Volume II: Perto do abismo até ao impasse (1966-1972), por Matthew M. Hurley e José Augusto Matos, 2023 (16) (Mário Beja Santos)