Blogue coletivo, criado e editado por Luís Graça, com o objetivo de ajudar os antigos combatentes a reconstituir o puzzle da memória da guerra da Guiné (1961/74). Iniciado em 23 Abr 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência desta guerra. Como camaradas que fomos, tratamo-nos por tu, e gostamos de dizer: O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande. Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.
domingo, 15 de agosto de 2010
Guiné 63/74 - P6854: Questões politicamente (in)correctas (40): A guerra colonial: todos querem ser heróis! (Carlos Geraldes)
A Guerra Colonial: Todos Querem Ser Heróis! (*)
E nem se lembram de que tudo partiu de uma mentira, com mais de quinhentos anos. Mentira piedosa dirão alguns, mentira necessária, dirão outros, mas na verdade não passou de uma redonda e grosseira mentira, repetida vezes sem conta! Foi a nossa epopeia!
– Mas descobrimos novos mundos!
– Como? Não existiam já antes?
– Desbravámos novos caminhos, novas rotas! Evangelizámos!
– Mas onde plantámos os nossos Padrões (quais marcos de propriedade), e nos estabelecemos com fortificações, não foi para mais facilmente assaltar, roubar e reduzir à mais cruel escravidão outros seres humanos como se fossem gado para exploração, abate e consumo?
Desde tempos imemoriais que a regra foi sempre a mesma. Quem tinha a força tinha o direito. E como povo “civilizado” que éramos (!?) considerávamo-nos também superiores aqueles que não tinham os nossos costumes e que até nem praticavam nem conheciam a nossa religião. Eram os “infiéis, os gentios, gente bárbara e sem a alma que apenas a fé cristã proporcionava aos convertidos, conforme então piamente se acreditava.
E a pretexto que era urgente converter essas multidões de gentios, aproveitava-se, já agora também, para os aligeirar dos bens que possuíam e até de outras riquezas que eles nem sabiam serem objecto da nossa cobiça, só porque nos considerávamos com muito mais direitos a essas riquezas do que eles. Assim devastámos tudo o que de tentador se nos aparecia pela frente. Ouro, pedras preciosas, especiarias, minério, tudo era avidamente carregado a bordo de caravelas, naus, e todos os navios mercantes que vieram depois. Como paga deixávamos algumas bugigangas, espelhos, facas, aguardente… e os nossos rudes costumes também, nunca conforto e civilização!
Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia o poeta sábio. E os povos das nossas colónias ganharam coragem e sublevaram-se. Veio por isso a guerra colonial.
Dos altares da Pátria teceram-se louvores, cânticos e hinos aos soldados que rumaram em armas para as terras africanas. A juventude de um povo analfabeto e desinformado, cego e magnetizado por tanto aparato, seguia como uma legião de cordeiros para uma matança sem fim à vista. Quando lá chegavam, com as G-3 em riste, assaltavam as tabancas, as moranças, correndo pelas picadas mais distantes, disparando a torto e a direito. O que é que interessava uma ou duas centenas de pretos a mais ou a menos? Ninguém lhes pedia contas disso, só tinham de lhes dar uma “ensinadela”, de os meter na “ordem”. Estavam “superiormente” autorizados a matar, dizimar, desfazer tudo quanto lhes desse na real gana. Não era a ali a África selvagem, o lugar de todos os infernos, o cenário perfeito onde os brancos podiam praticar impunemente todas as espécies de atrocidades? Então…?
Inchados de orgulho pateta, contam como eles trataram como “vinha vindimada” as terras dos “pretos”, como corriam atrás das raparigas de impudicos peitos nus, como suaram as estopinhas, mergulharam na lama até aos peitos, passando pelos maiores perigos e tormentas, como só eles passaram!
Mas não admitem, nunca, como tremeram de medo no meio da escuridão da mata e que, sempre que sentiam as “costas quentes”, também fizeram o gosto ao dedo, só para aliviar um agora denominado de “stress” (para não lhe chamarmos “pura selvajaria”), chacinando velhos, crianças e mulheres indefesas, galinhas, cabras, vacas e, até morros de “baga-baga” tudo varrido na frente, com umas boas rajadas da velha G-3, tiros de “bazooka” ou granadas de morteiro atiradas ao acaso.
E agora, porque voltaram, até já se julgam heróis, apenas porque também lá estiveram. Só porque fizeram aquela viagem por um mundo que não entendiam, escondidos atrás de uma arma, cumprindo “ordens” que não compreendiam nem discutiam, julgam ter direito a um estatuto de heróis!
Periodicamente, os que ainda restam dessas “expedições” reúnem-se para confraternizar à mesa de um qualquer restaurante. Pançudos, com os ralos cabelos já esbranquiçados exibindo, por vezes, as velhas boinas das “Campanhas de África”, contam chalaças marialvas, recitam os nomes das velhas armas que usaram, riem-se e choram com saudades dos tempos que já lá vão. No fim fazem juras e saudações militares. Qual Vietname, qual carapuça! Ninguém é mais digno de crédito e admiração do que eles!
.../...
Ao chegar a casa, dão um beijo na mulher, calçam as pantufas e com um profundo suspiro de alívio e sentimento do “dever cumprido”, ficam para ali a “ruminar” o inevitável Telejornal, porque a seguir vai dar a bola!
E não é que agora, vêm todos dizer que foram uns heróis?!
Carlos Geraldes
carlos.geraldes@live.com.pt
2. Nota do editor L.G.:
Este texto, com data de 7 de Julho, vem no contexto de algumas reacções à publicação do conto do Mário Cláudio, Para o livro de ouro do Capitão Garcez.
O Carlos queixou-se de ter sido "silenciado"... Ora não é prática nossa silenciar ninguém, muito menos um camarada que costuma cumprir com lealdade e fair play as regras de convívio do nosso blogue, e é um activo colaborador. O que aconteceu é que os editores foram de certo modo surpreendidos pela "crueza" da sua linguagem e pelas considerações (menos felizes) que faz da generalidade dos antigos combatentes da guerra colonial... Ora essa generalização é abusiva, meu Caro Carlos, na falta de um verdadeiro retrato, sócio-antropológico, a corpo inteiro, da nossa geração que combateu em África...
O próprio autior entendeu meter esse texto, inicialmente na gaveta, por o achar "um pouco forte"... Três meses depois de o terescrito, decidiu reenviá-lo em 7 de Jullho...
Arrefecida, entretanto, a polémica à volta do conto do Mário Claúdio, perdeu-se a oportunidade (editorial) de publicar o texto do Carlos Geraldes... Mas, enfim, nunca é tarde para o fazer... O texto fica postado (bem como as explicações das a seguir pelo autor):
Olá queridos amigos:
Tenho estado de facto a "hibernar" se bem que a estação não seja muito propícia a isso.
Fui despertado pela "polémica" sobre um belíssimo texto, inédito (?), de Mário Claudio, escritor que mal conheço, apenas pela notoriedade que lhe advém dos inúmeros trabalhos que publicou e consequentes prémios arrecadados. Aliás, sinto até um certo orgulho por me ter cruzado com ele duas ou três vezes numa pastelaria em Paredes de Coura, onde ele, me parece, deve ter residência temporária. Facto que muito enobrece tais idílicas e serenas paragens do nosso Minho profundo. Mas nunca me atrevi a falar-lhe, nem sabia tão pouco que também tinha estado na Guiné a cumprir o serviço militar.
Estamos todos de parabéns, portanto. A Tabanca Grande ficou MAIOR!
Quanto à tal "polémica", deixem que vos diga que não vale nada! Até faz lembrar as "bacocadas" à volta da obra do Saramago. Como sempre, quando a caravana passa, ficam cães a ladrar. Não é que não tenham o direito de ladrar. É a maneira de eles se expressarerm e, o direito à livre expressão, foi uma das mais importantes conquistas de Abril. Mas atenção à responsabilidade! Responsabilidade para com os outros, para os que estiveram, os que estão e os que estarão nesta terra que nos criou. Responsabilidade pelo futuro que construímos com os nossos exemplos pois isso, infelizmente, ainda não é muito perceptível pela maioria. Apenas nos interessamos pela notoriedade de aparecer, de dizer coisas, muitas delas toscamente apreendidas, imitadas sem delas nos apercebermos totalmente, sequer. E assim se cria agora esta estéril "polémica" que já cheira a coisa morta logo à nascença.
Nos princípios deste ano tinha escrito um pequeno texto, inspirado num comentário pouco abonatório sobre o nosso blogue. Declarava alguém que a existência deste e de outros blogues do género, só serviam para certos indivíduos fanfarrões se virem pavonear de hipotéticos feitos nas guerras de Àfrica.
Como achei, depois, que o texto estivesse um pouco forte, guardei-o na gaveta. Mas agora perante as palavras de Mário Cláudio e as consequentes reacções, vou servir-me dele como mais uma testemunha de defesa do "réu", embora nunca tivesse sido para aqui chamado, apenas porque assim sempre foi a minha percepção da realidade vivida na Guiné.
Também eu fui testemunha (ainda nos benévolos tempos de 1964/66) do ambiente denso que a guerra arrastava atrás de si. Nunca a leitura de Joseph Conrad me parecera tão real ("O Coração das Trevas"). Estavamos ali a viver num cenário quase idêntico, emoções de tal maneira semelhantes, que a nossa mentalidade ia-se moldando a pouco e pouco à tenebrosa lógica da guerra com as suas obscenas crueldades tornadas puras banalidades. O acto de maltratar outro ser humano, mutilá-lo, matá-lo, esventrá-lo, esmagá-lo contra uma parede, trazia tanta impacto moral, tanto remorso, como matar um insecto importuno. E além disso até era um acto legal! A guerra tudo justifica!
Matar uma jovem mãe, com um tiro certeiro de G-3 que a atravessasse de lado a lado e esmigalhasse também a cabeça do bebé que ela transportava à costas numa fuga alucinada, era um acto merecedor de aplausos pela pontaria certeira do bravo soldado ansioso de mostrar uma valentia que nunca iria ter de outro modo.
Quem falou mais nesse crime? E em muitos outros que se seguiram? E os prisioneiros mantidos em Nhacra ( a "idílica" Nhacra!) dentro de uma jaula de arame farpado? E o prisioneiro morto com um canivete sucessivamente espetado no pescoço, só para o calar, na atrapalhação de uma noite de operação em território IN?
Bom, a guerra tem os seus fantasmas e é bom que os saibamos enfrentar de uma vez por todas.
Hoje parece que lidamos ainda com essas recordações, como se se tratassem de bilhetes postais de um passado heróico, feliz e distante. Por isso me repugnam certas basófias, certas festanças e jantaradas como se quisessem comemorar factos gloriosos do nosso passado comum. Feitos glorificados por uma "história" embelezada por uma certa doutrina política e nada interessada em mostrar a pura realidade.
Desculpem-me este desabafo mal amanhado, mas assim de repente é o que sinto cá por dentro.
Um grande abraço. Viva Àfrica, viva a Humanidade!
Carlos Geraldes
PS. Em Anexo envio o tal texto escrito em Abril deste ano [A guerra colonial: todos querem ser heróis]
________________
Nota de L.G.:
(*) Vd. último poste desta série > 16 de Maio de 2009 > Guiné 63/74 - P4357: Questões politicamente (in)correctas (39): Havia racismo nas Forças Armadas Portuguesas ? ... E no PAIGC ? (Nelson Herbert)
domingo, 4 de julho de 2010
Guiné 63/74 - P6672: Para o livro de ouro do Capitão Garcez, um inédito de Mário Cláudio
Guiné > Zona Leste > Sector L1 > Bambadinca > CCS/ BART 2917 (1970/72) > Jovem mãe fula, com o seu filho. Não há qualquer relação, espácio-temporal, entre a foto, do Benjamim Durães, e o texto (que é de ficção literária) a seguir reproduzido, da autoria de um dos grandes escritores portugueses da actualidade, Mário Cláudio, Prémio Pessoa 2004, e um dos recentes membros do nosso blogue.
Foto: © Benjamim Durães (2010). Direitos reservados
Guiné > Zona Leste > Sector L1 > Bambadinca > CCAÇ 12 (1969/71) > Em bicha-de-pirilau... A solidão dos combatentes, na hora mortal da madrugada... Um imagem, recuperada de um "slide" do meu amigo e camarada Arlindo Roda, editada (e reeditada) por mim (com a devida vénia...).
Guiné > Zona Leste > Sector L1 > Bambadinca > CCAÇ 12 (1969/71) > ... E a solidariedade dos combatentes... Dois soldados do 3º Grupo de Combate, do Alf Mil Abel Rodrigues, aparam o 1º Cabo Carlos Alberto Alves Galvão, metropolitano (vive hoje na Covilhã: Um Alfa Bravo, Camarada!), comandante da 1ª secção, o homem que cometeu a proeza de ser ferido duas vezes o decurso da mesma operação (Op Boga Destemida, Fevereiro de 1970). Estes dois camaradas guineneenses podem ser alguns dos seguintes que compunham a 1ª secção: Soldado Arvorado 82108769 Totala Baldé (Fula); Sold 82108569 Sambel Baldé (F); Sold 82108969 Mauro Baldé (Ap LGFog 8,9) (F); Sold 82110369 Jamalu Baldé (Mun LGFog 8,9) (F); Sold 82109169 Malan Baldé (F); Sold 82109569 Iéro Jau (Ap Dilagrama) (F); Sold 82110969 Samba Baldé (Ap Metr Lig HK 21) (F); Sold 82109969 Malan Nanqui (Mandinga). "Slide" do Fur Mil Arlindo T. Roda, comandante da 2ª secção. Imagem editada por L.G.
Fotos: © Arlindo T. Roda (2010). Direitos reservados
Para o Livro de Ouro do Capitão Garcez
por Mário Cláudio [, foto à direita] (*)
 Convoco o banalíssimo rosto do Capitão Garcez, emergido da noite em que se me deparou. Um esfregão parece ter passado por ele, reduzindo-o à suprema inexpressão, despido do fulgor da violência que lhe imputam. Ali está, solitariamente sentado a uma mesa do Clube Militar, atento ao zumbido das ventoinhas do tecto, e ao súbito remexer dos ramos das bananeiras que anuncia um desses tornados da estação das chuvas. À sua frente a minha presunção de virtual escritor implanta uma grande bandeja, repleta de cabeças de guerrilheiros, cortadas numa tarde de assalto a um aldeamento por entre a aguardente emborcada, e o suor empapante dos camuflados. E um outro texto descerra-se diante de mim, já não o que o tenebroso oficial pressupõe, mas o que se estampa na cara dos degolados, contemplando num último lampejo do medo, ou do ódio, o embondeiro distante, a cuja sombra as mulheres se abrigam na amamentação dos filhos.
Convoco o banalíssimo rosto do Capitão Garcez, emergido da noite em que se me deparou. Um esfregão parece ter passado por ele, reduzindo-o à suprema inexpressão, despido do fulgor da violência que lhe imputam. Ali está, solitariamente sentado a uma mesa do Clube Militar, atento ao zumbido das ventoinhas do tecto, e ao súbito remexer dos ramos das bananeiras que anuncia um desses tornados da estação das chuvas. À sua frente a minha presunção de virtual escritor implanta uma grande bandeja, repleta de cabeças de guerrilheiros, cortadas numa tarde de assalto a um aldeamento por entre a aguardente emborcada, e o suor empapante dos camuflados. E um outro texto descerra-se diante de mim, já não o que o tenebroso oficial pressupõe, mas o que se estampa na cara dos degolados, contemplando num último lampejo do medo, ou do ódio, o embondeiro distante, a cuja sombra as mulheres se abrigam na amamentação dos filhos.O bancário aposentado tira os óculos que ficam pendentes de um cordão, e confronta-me como se não quisesse ver-me com demasiada nitidez. “Não creio que tenha muito para lhe contar”, declara ele, e justifica-se, “já lá vão bastantes anos, e aquilo que nesse tempo nos parecia interessantíssimo acabou por não valer um caracol.” Encontramo-nos na salinha sobreaquecida, e a luz do candeeiro de pé reflecte-se no vidro da janela, compensando pelo halo de intimidade que desenha o desolado cinzento do Inverno lá de fora. “Afinal vivíamos praticamente em família”, discorre ele, e eu lanço uma mirada às prateleiras à minha direita, atafulhadas de edições do Círculo de Leitores, inseridas por detrás de uma tralha de lembranças de viagem, dominadas pelas três estatuetas africanas que ocupam o plano mais de cima. O meu informador abre uma gaveta na parte de baixo da estante, retira uma caixa de cartão arrombada, destapa-a com delicadeza, e vasculha na desordem de fotografias de várias dimensões. Descobre a que procura, e entrega-ma com um “aqui tem” apressado. Lá se distingue ele, facilmente identificável pelas orelhas de abano, de calções de caqui, entre dois camaradas, também de barba por fazer, e formando um grupo ligeiramente apartado do indígena bronco, de ombros descaídos, que espeta o olhar na câmara com a vigilância de um cão fiel. “O que está à minha esquerda”, explica num sussurro, “é o Garcez.” Solta uma risadinha como se lhe tivesse sobrevindo a recordação de um episódio pícaro, e remata, “O Garcez era um ponto, não havia outro igual.”
O percurso do Capitão Garcez a custo se acha nesses dilapidados calhamaços, inventariadores dos sucessos dos que serviram nas forças armadas, e que terminaram os seus dias a pedir esmola, a desempenhar o cargo de porteiro de algum condomínio fechado, ou a projectar o futuro na base da jantarada que anualmente reúne o pessoal decrépito da sua unidade. E os jornais do seu tempo, tanta vez apodrecendo no bolor de um sótão de província, permanecem inatingíveis pela falta de paciência de quem pretende estudar os passos dos bravos em desgraça. Terão porventura circulado aerogramas, a descrever-lhe as impetuosas proezas, subscritas pela admiração inescondível, e não raro pela calada repugnância, mas bem sabemos que destino levariam esses documentos, ora despachados para o contentor com o lixo reunido antes de se mudar para a casa nova, ora incinerados por um antigo soldado que nas vésperas do casamento resolveu com a noiva desfazer-se da correspondência de namoro. O Capitão Garcez vai assim perdendo o tal rosto, aquele mesmo que se esparrinhou com o sangue da jugular no instante da catanada, imobilizando-se a seguir na massa fosca das noitadas de whisky do remoto destacamento no mato.
Continuo a observar a foto dos idos da campanha, não tanto porque dela espere obter mais do que aquilo que deduzi já, o apagado facies do Capitão Garcez, alferes na altura, debaixo do cabelo liso e ruço claro, e na palidez que o distingue dos companheiros. Vou meditando no que o meu informador depreende do jogo fisionómico que lhe proponho, tão relevante para ele como o dele para mim, e de idêntica forma à mercê de suspeitas e traições. Apercebe-se da curiosidade com que lhe persigo o desvio da vista, e da minúcia com que lhe inventario os bibelots expostos na biblioteca, babushkas alinhadas em progressão aritmética, e miniaturas de teares e caldeiras, óbvios mementos das peregrinações a Leste, promovidas pelo partido da esquerda bem-comportada de que foi militante. E não deixará de reparar ainda no modo como lhe espio o gesto de selecção dos clichés da caixinha, futurando que será meu objectivo, e a mais do que a simples escrita de uma história, comprometê-lo por desmandos que, não transcendendo todavia a sua inicial responsabilidade, lhe pesam hoje como infames nas madrugadas de insónia. Ao devolver-lhe o retrato amachucado do quarteto com uma palhota atrás, terá porventura entendido o meu sorriso, não como aceno cortês de gratidão, mas como cínica ameaça, resultante do facto de conhecer eu muita, muita coisa que ele preferiria manter em silêncio. Desce a escuridão para além da vidraça, e o clarão da lâmpada denuncia com acrescida clareza quanto guardamos, ele e eu, nas algibeiras mais secretas das intenções que nos movem.
A peça televisiva, sobrevivente num preto e branco que as décadas foram zurzindo, oferece a deslocação lenta, um pouco rígida, do Capitão Garcez, subindo os degraus da tribuna no Terreiro do Paço, erguida para as comemorações do 10 de Junho. Transporta o rosto anódino de sempre, indeciso entre a melancolia e a austeridade, o que redunda na absoluta ausência de emoções. Avança para o Presidente do Conselho que lhe impõe a Torre e Espada, e que o abraça com a finura sinuosa de quem restringiu a paixão a um cálice, um cálice apenas, de porto tawny. Soletra-se entretanto o que se adivinha, a dor das duas viúvas que irão arrecadar a condecoração a título póstumo, o espanto do menino órfão no seu fatinho de piqué, tudo o que a comissão dos festejos imperativamente recomendou. O choro ostensivo que se proibiu, e que se crispa em engolidos soluços, esvai-se na brisa que sopra do Tejo, e que faz esvoaçar o véu de luto do duo das inconsoláveis esposas, e o vestido estampado das senhoras que assistem à cerimónia, e que ficarão lindamente no banquete que fecha o ritual. O nosso Capitão Garcez, e leia-se isto com um misto de pudor e asco, regressa à fileira donde saiu, cravando no vazio do céu azul a vista com que abarcou páginas e páginas de uma crónica heróica, as cabeças em espeques que lhe engalanavam o jeep, os ventres das grávidas rasgados à baioneta, e donde desliza no capim o feto banhado em sangue borbulhante, e o crânio do petiz que, ao esborrachar-se num poste, produziu o ruído das carochas esmagadas pela bota.
No rosto do Capitão Garcez aprendo a alvura que se situa para além da morte, a dos dentes das nativas que vertem a cólera das lágrimas no corpo estraçalhado das crias, a do leite que dolorosamente se retém nas suas mamas, a da esclerótica dos cadáveres que não baixam por completo as pálpebras, a da cal com que se pinta a parede para que não dure na morança o espírito do executado, a do pânico do régulo que cospe em Portugal a cegueira a que o reduziram com o sol a pino, a do esperma do terrorista enforcado que não se veda no meio minuto do estertor, a do manto da Senhora de Fátima a que se abrigam as virgens cristianizadas, a do lenço embainhado do menino de sua mãe que não encarna a coragem de cortar a garganta da impúbere, a dos cornos do boi que alui para alimentar com a sua carne os homens do pelotão, a da manhã de canícula que enrola os defuntos num sudário tão delicado como o linho, a do sabugo das unhas arrancadas ao capturado que se recusa a falar, a do cogumelo de espuma nos beiços do rapaz manietado que se puxa do poço, a do bando de garças que levanta voo a cada rebentamento da granada inserida nas calças de um pobre diabo, a da máscara do feiticeiro que conclui a pantomima, a dos lírios calcados pela sola do Capitão Garcez.
Se o oficial agraciado, tendo volvido ao seu lugar, me avistasse então, conforme me posiciono agora, acomodado defronte do televisor, talvez traduzisse em mim o nojo que lhe suscitaria o seguinte, “E que tem o marmanjo com os actos que pratiquei, ou não pratiquei, estávamos em guerra, na guerra mata-se, e quem poderá acusar-me de celebrar a morte, a fim de a assumir em pleno, com insígnias que eu escolhia, um colar de orelhas enfiadas num arame, postas à volta do pescoço, como se desembarcasse para umas férias no Havai, um bracelete de dedos calejados, colhidos ainda em vida dos anjinhos que despachara, e que me dera na moina enviar à última puta que fodera em Lisboa? Nenhuma destas alegrias curava a tristeza que me assediava, e que provinha de compreender que não existe no Mundo festarola que não seja a que inventamos, e em que ninguém acredita, e deitava-me a dormir, e antes de tombar no sono contava os dentes que se tinham soltado, apegados a lascas de gengiva, do maxilar que eu estourara com a coronha da G-3, ou procurava reproduzir em surdina, muito em surdina, os berros da gaja agarrada ao miúdo, o que tem você mesmo com isso, seu cobardola de merda?”
O homem continua acolá, de pés virados para o lume da lareira. Amenizou-se-lhe o clima, respirado pelos netos traquinas que gosta de instalar sobre os joelhos, e pelo gato angorá que langorosamente curva o dorso sob as carícias do dono. E o noticiário da TV relata uma toada de guerras exóticas, empreendidas por mercenários que ganham o bastante para edificar a vivenda dos seus sonhos, descrita à namorada em cartas onde se alude ao cio arrasante, devorador das entranhas. O vetusto Capitão Garcez, admiravelmente robusto para os seus quase setenta, levanta-se da poltrona, e as imensas asas negras, rompendo-lhe das espáduas, batem numa vibração, desplumam-se na treva, e desfazem-se em pó.
Texto: © Mário Cláudio (2010). Direitos reservados
____________
Notas de L.G.:
(*) Mário Cláudio é o pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barbot Costa, natural do Porto, que esteve na Guiné, como Alferes Miliciano, colocado na Secção de Justiça do Quartel General (1968/70), juntamente o hoje conhecido constitucionalista Gomes Canotilho. Foi nessa altura que conheceu o Carlos Nery (**) e o João Bagre, com quem fez a peça de teatro A Cantora Careca, de Ionesco.
(**) Foi o Carlos Nery que nos enviou, em 18 de Junho, este texto (que se presume seja inédito), remetido pelo escritor Mário Cláudio, na sequência da sua entrada para a nossa Tabanca Grande (onde está registado como Mário Cláudio / Rui Barbot:
Amigos, enviei-vos ontem o primeiro texto que o Barbot me remeteu para ser colocado no blogue. Quando vos remeti o meu "Noite Longa" tive o cuidado de o converter da reprodução do papel impresso para a forma digitalizada. Não sei como isso se chama... Mas fiquei surpreendido com a facilidade como meu filho fez essa conversão. O que vocês receberam parecia ter sido "batido" aqui no teclado mas fora um programa informático quem tinha efectuado o equivalente a esse trabalho a partir de um texto impresso em papel. Confesso que nem sabia que isso já era possível... Trabalhei na Organização e Métodos do Banco de Portugal e lembro-me de, aqui há já alguns anos, ter feito uma consulta ao mercado para saber se havia algum dispositivo que fizesse tal coisa. Não havia. O meu espanto foi ver que, agora, num computador pessoal, isso se faz em minutos...
Mas tanta conversa para quê? Para dizer que, se vocês quiserem, eu me posso encarregar dessa tarefa relativamente ao "Livro de Ouro"...
Uma coisa: o Barbot, não obstante a minha insistência, não me remeteu foto sua actual (***). O homem tem mil afazeres, obrigações e prazos a cumprir, não o quero chatear muito... Temos que entendê-lo... Penso que, se isso for muito importante, é sempre possível encontrar uma foto actual.
Enviei uma foto dele na "Cantora Careca" (juntei-a eu ao material enviado). É uma foto que tenciono usar quando estiver pronto o Poste sobre essa realização teatral. Pode ser ou não usada agora. Mas como falei da sua performance teatral, na altura, pareceu-me não ser descabido essa divulgação, agora, até pelo seu ineditismo...
Abraços CNery
(***) Mail de 17 de Junho do Mário Cláudio / Rui Barbot
Meu Caro Carlos Nery, aqui segue o que lhe prometi. O que não constar dos anexos seguirá depois, ou irá ter-lhe às mãos por via postal. Grande abraço amigo do Rui Barbot.
Vd. poste de 23 de Junho de 2010 > Guiné 63/74 - P6630: Tabanca Grande (227): Rui Barbot / Mário Cláudio, ex-Alf Mil, Secção de Justiça do QG, Bissau (1968/70).
domingo, 12 de julho de 2009
Guiné 63/74 - P4672: Blogoterapia (117): Quem somos nós? (António J. Pereira da Costa)
 1. Mensagem do nosso camarada António J. Pereira da Costa, Coronel, que foi comandante da CART 3494, Xime e Mansambo, 1972/74, com data de 6 de Julho de 2009:
1. Mensagem do nosso camarada António J. Pereira da Costa, Coronel, que foi comandante da CART 3494, Xime e Mansambo, 1972/74, com data de 6 de Julho de 2009:Olá Camarada
Fiquei a saber que a filha do Beja Santos faleceu.
Que é que se diz nestas alturas? Num caso como este, não sei porquê, o melhor é nada dizer... Os que nos seguem de longe, quando se nos dirigem nestas alturas, dizem coisas... E eu não quero dizer coisas.
Pois eu escrevi um texto sobre os ex-combatentes no qual procuro saber Quem Somos? São quatro páginas a computador e, por isso, parece-me um pouco infuncional para o blog, pois vai ocupar um grande espaço e a malta terá dificuldade em lê-lo.
Que farei com este texto? Ora dá uma ideia e informa, como se dizia naquele tempo.
Um Ab do
António Costa
2. Cabe aqui uma pequena intervenção antes de apresentarmos o texto do nosso camarada A. Pereira da Costa.
Face a este depoimento, que podia ser igual ao que cada um de nós faria, se para o efeito tivesse a mesma arte e engenho, fica provado que temos tanto em comum, mesmo admitindo as divergências normais e salutares, que todos os conflitos criados recentemente, artificialmente talvez, empolados propositadamente, são insignificantes, comparado com aquilo que nos une.
Vamos definitivamente enterrar os machados, esquecer ou pelo menos desculpar os nossos camaradas que não pensam como nós, e de uma vez por todas deixar de utilizar palavras provocatórias e ofensivas. Problemas pessoais devem ser tratados por mail ou telefone, e nunca nos comentários.
Estou a falar por mim, não entrei para a Tabanca e muito menos para a edição do Blogue para ver a minha caixa de correio cheia de tricas. Quero trabalho, muito, mas construtivo. Para outra coisa, acreditem, não estou cá.
Optei por publicar o texto do nosso camarada por inteiro, porque o achei demasiado importante para o dividir. Leiam por favor, porque é muito importante e leva-nos a reflectir sobre o que foi o nosso passado.
C.V.
Quem somos nós?António J. Pereira da Costa
Afinal quem somos nós, os ex-combatentes, como hoje, se diz?
Primeiro, interroguemo-nos acerca das razões que nos levaram a participar numa guerra, chame-se ela colonial, do ultramar ou de África. O nome é o menos importante e não deve constituir motivo de discussão. O que verdadeiramente interessa é o que se passou, o que fizemos ou não fizemos, porque fizemos isto e não aquilo, o que estava à nossa volta, quer fossem outros compatriotas, o inimigo, a terra ou clima. Por mim, não me restam dúvidas de que participámos na História do nosso país de um modo com que todos tínhamos sonhado, ao aprendermos a nossa História, nos bancos da escola, mas também nunca tínhamos pensado que pudesse acontecer.
Nós que, de vez em quando, em tantos sítios do país e às vezes no estrangeiro, nos reunimos para conviver, temos, como denominador comum, um tempo que passámos em África – mais ou menos dois anos – pouco tempo numa vida inteira e numa situação que, quando terminámos a escola primária, nem sonhávamos que pudesse ocorrer. Pouco tempo depois do fim da escola, fomos surpreendidos por alguma coisa que acontecia naquilo que tínhamos estudado como sendo parte integrante do nosso país e que nem sequer imaginávamos que contornos podia ter. Quantos de nós conheceriam a África? E se era nossa? De quem? Nossa mesmo? E era-o como e porquê? Como exercíamos essa posse? No fundo, nunca tínhamos pensado no assunto. Éramos uma comunidade una, mas dispersa? Ou simplesmente um conjunto de territórios povoados por povos diferentes? De países, em última análise...
Começara a guerra, dizia-se.
Os governantes do tempo procuravam reduzi-la a simples operações contra terroristas infiltrados a partir dos países limítrofes, bandoleiros, tresloucados etc. quase como se fossem operações de polícia. Porém, ainda hoje não tenho conhecimento de qualquer ofensiva diplomática ou protesto, junto das instâncias internacionais, por parte do governo português, para que o apoio estrangeiro aos tais terroristas terminasse. Era o mínimo que se exigia.
Começamos hoje a não ter dúvidas de que se tratava de um fenómeno sociológico previsível e previsto por vários visitantes e residentes naquelas terras, que observaram o que se passava e se aperceberam do aumento das tensões entre os diferentes grupos sociais: mais ou menos pobres, mais ou menos detentores ou condicionadores do funcionamento dos meios de produção. Se a isto juntarmos as diferenças rácicas e as tensões acumuladas, ao longo de séculos, temos uma mistura explosiva que, só poderia ter sido evitada com algo que se não fez antes e que, quando se pretendeu fazer era tarde demais: o desenvolvimento económico e social e a integração. Os que anunciaram que havia perigo ficaram mal vistos e foram tidos como mensageiros da desgraça, às vezes mesmo como elementos perturbadores, interessados em desequilibrar o país e as suas instituições, espiões, quase. Não há dúvida de que o pior cego é o que não quer ver.
Infelizmente, a ciência, mesmo quando não é exacta, não deixa de ser ciência e de prever as consequências dos factos que vão acontecendo. É inutil fingir que se ignora que as sociedades funcionam num processo dinâmico e que a repressão a esse processo sempre deu mal resultado.
Não sabíamos que era assim, mas aquilo a que a dada altura passámos a chamar guerra era afinal, consequência de um domínio virado para a exploração de recursos, naturais ou não, e dos primitivos habitantes daquelas terras. Se os primeiros servem mesmo para isso mesmo, a exploração e ao mau trato aos segundos revela-se, a prazo, uma fonte de tensão que, neste caso, terminou numa revolta, com largo apoio no exterior mercê da conjuntura internacional favorável, mas com larga implantação na população, como vimos à chegada à Guiné.
Éramos assim, uma espécie de bombeiros que chegavam tarde a um incêndio numa floresta, batida com vento forte. Era um incêndio que tinha por onde arder e boas condições para lavrar. Podem crer que, desde a primeira hora, a guerra estava perdida.
Com a idade que tínhamos quando ela começou, os nossos pais, só tarde, começaram a pensar que a sorte também nos iria tocar.
Que fazer então quando, à data de embarque, a guerra era velha de dez anos e nós jovens com pouco mais de vinte?
Havia, como se lembram, os muitos que já tinham ido e voltado – amigos e conhecidos – e que nos davam a ideia de que afinal as coisas não seriam assim tão más. Poderíamos correr o risco.
A opção não era fácil. As escolhas, quase desconhecidas. Vivíamos num país atrasado e todos os que vieram a emigrar ou os poucos que então visitaram o estrangeiro sabem do que falo. As diferenças que encontrávamos falavam por si. Estávamos encurralados entre dois fogos. Se, por um lado, a incerteza da guerra se aproximava – e hoje todos entendem o que digo – por outro, a certeza da impossibilidade de ficar, era um dado a que não podíamos fugir. Entre as duas soluções, só o diabo sabia escolher. Quantos de nós pensámos na outra solução?... Quantos de nós pensámos em fugir? Quantas vezes não nos arrependemos de não o termos feito?
Fugir. Aqui estava outra expressão que a nós, homens de bem e bem formados, repugnava. Tudo aquilo que pudesse ser confundido com fugir não era para os homens da nossa geração. Mas as coisas não são assim tão simples e fugir pode ser um acto de valentia, quando se sabe, porquê. Quando se recusa fazer algo, arrostando com as consequências que, às vezes, nem adivinhamos quais possam vir a ser, entrando numa espécie de opção “não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí”, então fugir é um acto de valentia que pode exigir maior integridade moral do que aceitar passivamente o destino comum.
Vale a pena voltarmos a pensar nos que tinham ido e voltado. Por estranho que pareça, à chegada, eles pareciam ter esquecido tudo. Não falavam do que tinham vivido. Não procuravam passar-nos – como se tal fosse possível – a sua experiência. Não nos aconselhavam, nem nos desaconselhavam. Partiam para a sua vida com a ânsia de quem tinha perdido tempo e agora só pensavam em começar a viver.
Hoje não temos dificuldade em compreender a atitude destes camaradas.
A sociedade, à chegada, não lhes reconhecia o mínimo valor. Eram um corpo estranho que lembrava aos políticos a sua incapacidade, teimosia e intransigência. À sociedade relembravam um problema que ela tinha, mas que não sabia como resolver e, por isso, deixava o tempo passar e o problema agudizar-se.
E se voltavam deficientes, estavam condenados a sobreviver.
Desde aqueles que ficaram depositados numa cama ou numa cadeira de rodas, sobrecarregando a família e sofrendo o esquecimento dos amigos, até àqueles que conseguiram, sabe-se lá com que esforço e vencendo que combates, progredir na vida, parecendo esquecer-se do que lhes tinha sucedido. Não podiam. No fundo, não lhes era fácil recordar, ao fim de cada dia, que lhes faltava um bocado do corpo.
E os que por lá se tinham perdido, caídos nas mãos do inimigo e sofrendo, na prisão, uma culpa que não sabiam se tinham? E aqueles a quem a família não teve outro remédio senão esquecer, apagados na sequência dos dias? As mães, os pais, as esposas, os irmãos ou um outro amigo ainda os procuravam, de vez em quando, no local do último repouso, mas depois...
Depois... o resto já todos sabemos. A vida é isso mesmo e não há nada a fazer.
Enfim chegou a nossa vez.
– “Se os outros foram e voltaram, eu também poderei ir e voltar” – era um dos nossos pensamentos.
– “E até pode ser que não seja bem assim. Pode ser que o sítio não seja mau e que o tempo passe depressa. No fundo são só dois anos” – dizíamos também.
– “Tenho fé de que comigo vai ser diferente” – pensávamos para nos animarmos.
À chegada, o choque foi grande. O desembarque numa cidade militar e num teatro de operações não tinha nada a ver com a simples chegada a um país que não era o nosso. Era o mergulhar num desconhecido, que se mostrava cada vez mais soturno e dramaticamente enigmático, à medida que trocávamos impressões com os veteranos. Alguns, poucos, pareciam ter ganho a guerra. Outros revoltavam-se. Outros aceitavam a sua sorte como algo que não podia ser modificado. A confusão no nosso espírito era grande. Todavia, numa coisa estávamos todos de acordo: aquilo era outra terra e – porque não dizê-lo? – outro país. Deixada para trás a cidade, a vida no quartel do mato, numa localidade pequena do interior, em que os camponeses nos eram estranhos, não falavam a nossa língua, não cultivavam a terra como nós e tinham hábitos de que só vagamente tínhamos ouvido falar, era algo que nos paralisava.
Quem eram? O que queriam? De que lado estavam e porquê? Se recusavam a protecção e a ligação ao inimigo, preferindo o nosso apoio e colaborando com a nossa acção, tendo nascido e sempre vivido ali, quais seriam as razões para tal? Estas talvez fossem questões que não púnhamos, ao princípio, mas que ao fim dos primeiros tempos de acção, com as primeiras horas de mato feitas e a recepção das diferentes notícias do inimigo começaram a preocupar-nos.
O tempo escorria no calendário, com as operações – quem não se lembra das emboscadas, quando o tempo não passa? – as tarefas monótonas de cada dia e as notícias ou a falta delas dos nossos, a quem tínhamos de escrever, contando verdades ou mentindo, consoante entendêssemos que era melhor para o destinatário.
Começávamos a ser cada vez mais experientes e fazer uma ideia do que se passava à nossa volta. Envelhecíamos, sem darmos por isso. Sabíamos agora mais o que era importante na vida. As amizades ganhas nas horas de incerteza, o contacto próximo e diário com outros – civis e militares – as tarefas desempenhadas em equipa. Numa palavra: amadurecíamos. Claro que poderíamos questionar se, para amadurecermos, seria necessário expormo-nos assim e virmos para tão longe.
Mas afinal quem éramos? Cidadãos-patriotas? Soldados-heróis? Acomodados à espera que o tempo passasse e jogando na lotaria do “não há-de ser nada!” como então se dizia?
Talvez uma mistura de tudo isto. Hoje, se regressarmos ao passado, havemos de encontrar muitos momentos em que fomos tudo aquilo e muito mais a que a vida impiedosamente nos obrigava. Estávamos ali, sem podermos alterar drasticamente a nossa situação e, mesmo assim ficávamos. Entregues ao fluir do tempo, sabíamos que a sua contagem decrescente corria a nosso favor e, até lá, havíamos de nos aguentar. É certo que alguns dos nossos camaradas... Mas... connosco havia de ser diferente! Era a nossa convicção. E foi assim, felizmente.
Passámos a alegria breve do regresso, a inserção no mundo do trabalho e a constituição de família. Tal como os nossos antecessores, sofremos a incapacidade de transmitir, mesmo aos que nos são muito próximos, o que tínhamos passado. Sentimos a frustração de não sermos ouvidos, e o desinteresse dos outros, perante a nossa mensagem e, por fim, a necessidade de, a bem da nossa saúde mental, esquecermos o sucedido. Isso levou-nos a evitar falar do que tínhamos passado. Era coisa “para esquecer”. Agora era necessário viver e desfrutar da luta diária da vida, no fundo a razão pela qual os Homens vivem.
A vida foi correndo e a curiosidade em sabermos o que seria feito deste camarada que nos ajudou nesta ou naquela situação, daquele a quem apoiámos num momento em que se foi abaixo ou daquele outro que se tornou notado num episódio cómico, que a todos fez rir. Primeiro a curiosidade, depois as saudades e, por fim uma vontade irresistível de recordar. Ficamos velhos. E os velhos têm necessidade de recordar para se sentirem gente ao contemplarem a vida. Daí aos convívios foi um passo. Mas, afinal porque nos irmanamos à volta de uma mesa?
Porque todos temos em comum o facto de termos sido os homens que estavam na esquina errada da História. Fomos apanhados num turbilhão e não pudemos fazer nada para sair dele. Nadámos num troço de águas revoltas do rio do tempo.
Há quem diga que cada homem é ele próprio mais as suas circunstâncias. As nossas foram estas. Bem difíceis, temos que concordar. Sobrevivemos e demos a nossa contribuição, modesta como é sempre é a dos homens do povo feitos soldados. A História só muito excepcionalmente recordará os nossos nomes, numa pequena rua da nossa terra natal. Para que serviu o que fizemos? Não sabemos. Talvez para pouco. Se calhar não passou de um esforço inútil, ao qual fomos coagidos, sem qualquer espécie de fuga. Custa, mas teremos que o admitir, mais tarde ou mais cedo.
Estamos condenados ao esquecimento que o tempo sempre traz, mas, enquanto pudermos, havemos de lutar contra isso. Temos de deixar a nossa assinatura na marcha do tempo. Toca-nos procurar passar aos vindouros uma mensagem. Qual é ela? Será de paz? Há quem diga que os ex-soldados são sempre os mais ardentes pacifistas. Pacifistas pela análise fria e pausada do que sucedeu, mas não medrosos. E, se o futuro perguntar, a nossa resposta será sempre sim ou não, mas, desta vez, convicta e justificada.
Creio que devemos sentir-nos orgulhosos. Passámos por uma prova que, esperemos, não se repetirá tão depressa. E quem sabe? A nossa própria experiência demonstra claramente a margem de incerteza que sempre marca a vida dos povos. Vencemos a prova. Mal ou bem, mas vencemo-la. Não temos hoje nada para provar a ninguém nem podemos aceitar que nos censurem por aquilo que fizemos.
Fizemos uma guerra pobre. Era pobre a nossa logística e os meios operacionais escassos, como se lembram. Faltava muitas vezes o essencial. Tive sob o meu comando um soldado que lhe chamava “a guerra a petróleo”, por semelhança com os fogareiros da nossa meninice que usavam aquele combustível. Os meios do inimigo, como se recordam, evoluíam a olhos vistos. As guerras ou se perdem ou se ganham. E nós perdemos. Perdemo-la, sim. E depois? Alguém esperava ganhá-la? Ninguém. Nem os que a aprovavam naquele tempo, nem os que hoje, por preconceito, saudosismo ou desonestidade intelectual, afirmam que a poderíamos e deveríamos ter ganho.
Nós perdemos porque fomos lá. E só quem ali viveu sabe o que é ganhar e perder.
__________
Notas de CV:
(*) Vd. poste de 11 de Dezembro de 2007 > Guiné 63/74 - P2341: Siga a Marinha que o Exército já lá está (Coronel Pereira da Costa)
Vd. último poste da série de 10 de Julho de 2009 > Guiné 63/74 - P4664: Blogoterapia (116): Os filhos dos nossos camaradas, nossos filhos são (José Martins)
sábado, 9 de maio de 2009
Guiné 63/74 – P4313: Tugas - Quem é quem (5): João Bacar Jaló (1929-1971) (Benito Neves, Mário Fitas e João Parreira)

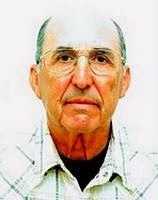
Há histórias da guerra que travámos em África, que obviamente se perderam "ad eternum" com aqueles que já iniciaram a última "marcha".
Com o "desaparecimento" dos seus protagonistas, essas histórias jamais se conhecerão. Podiam até nem ser histórias "importantes", mas perderam-se definitivamente.
Mas ainda há milhares de intervenientes em factos históricos, que por diversos motivos não mostram qualquer intenção de algum dia abordarem esses acontecimentos. São diversas as explicações para este fenómeno.
Alguns veteranos escusam-se, dizendo não ter nascido para escrever e muito menos descrever, narrar, versejar... Se uns assim dizem a verdade, outros escondem-se por detrás de posições e justificações que, por vezes, reprimem ainda velhas emoções e outros sentimentos que, como não podia deixar de ser, aceitamos e respeitamos.
Algumas dessas atitudes são tão firmes e inabaláveis que nos dão a certeza da gravidade dos estados psíquicos, nomeadamente do terrível stress pós-traumático de guerra.
Somos seres humanos, mais ou menos sensíveis, tendo enfrentado a ida para África com maior ou menor preocupação. Nesta minha divagação pessoal, não sendo médico, nem um perito nestes assuntos psicológicos, permito-me pensar que todos aqueles que foram mobilizados ficaram marcados para o resto das suas vidas. Depois aqueles que enfrentaram combates e situações de forte tensão e, ou, estiveram sob fogo inimigo, viram esse sintoma agravado e elevado a uma alta potência.
São marcas de tal modo cicatrizadas e enraizadas, que nem o bisturi mais acutilante as sacaria fora. E se as mazelas físicas são visuais, marcantes e traumatizantes, as psíquicas não o são menos, por invisíveis na fisionomia corporal, mas quantas vezes espelhadas, quer no teor das palavras, nas atitudes do dia a dia e, ou, no comportamento pessoal. É notável que uns estão mais afectados que outros, pelo menos aparentemente, digo eu.
Mas, com imensa alegria e felicidade, penso que, graças a Deus, ainda por cá andamos muitos, mantendo a memória bem viva do nosso passado recente em África. Assim, com a colaboração deste e daquele camarada, ajustando e corrigindo pormenores, ainda é possível reconstituir alguns puzzles incompletos, ajudando a deixar histórias mais completas e leais à verdade dos factos.
Esta é uma delas, que pode ainda não estar concluída.
Por isso, deixo aqui um apelo a todos os restantes camaradas, para que, quem conheça mais algum pormenor deste herói, nos preste também a sua contribuição, por grande ou pequena que lhes pareça.
Até ao momento já recebemos os seguintes complementos testemunhais do Benito Neves, do João Parreira e do Mário Fitas, que conheceram e conviveram com o João Bacar Jaló (ou têm informações inéditas sobre a sua vida e morte):
1 - O Benito Neves, enviou o seguinte e-mail em 4 de Maio de 2009
Meu caro Magalhães Ribeiro, o meu abraço.
Vi hoje publicada no blogue a biografia do nosso João Bacar e as dúvidas sobre a sua morte.
Sobre esta última já contactei um dos alferes da minha CCav 1484, que privou com o João Bacar e que, inclusivamente, o recebeu em sua casa todas as vezes que o João Bacar veio à Metrópole.
Há dias estive com o referido alferes que me esteve a contar a versão que tem sobre a morte do João e que, ao que parece, não foi bem como foi publicado mas quase. Segundo ele, no cenário de guerra, o João Bacar teria na mão uma granada já sem cavilha, terá tropeçado e caído em cima da granada que explodiu, matando-o. As restantes granadas (e ele trazia sempre várias) terão explodido por simpatia.
De qualquer forma eu já pedi a confirmação desta versão ao alferes Miguel da CCav 1484, que sei ter tido contactos com pessoas que estiveram próximas, na altura da morte do João.
Em memória de João Bacar, relembro o HOMEM e o COMBATENTE. Quando esteve connosco ainda era alferes e foi, depois, promovido a tenente. Participou em todas as operações que efectuámos no Sector de Catió. Quantas vidas nos poupou? Não sabemos, mas a nossa gratidão para com ele é do tamanho do Mundo. Aquando da sua morte as lágrimas rolaram livremente pelas minhas faces. Hoje continuo a inclinar-me perante a sua memória.
Deixámos Catió em Julho de 1967 e os oficiais e sargentos da Companhia ofereceram ao João Bacar aquilo que soubemos que ele mais desejava: um relógio automático, à prova de água e com ponteiros luminosos. Por trás tinha gravado: "Recordação da CCav 1484". O João delirou!
Pena que a biografia publicada no blogue não permita leitura. Se te fosse possível a digitalização e o envio por e-mail, ficava-te imensamente grato.
Um abraço e o meu muito obrigado
Benito Neves
2 - O Mário Fitas, colocou o seguinte comentário ao post 4275
Caros amigos da Tabanca Grande.
Conheci o João, era assim que tratávamos o Alferes de 2ª Linha João Bacar Jaló.
A C Caç 763 entrou com ele e a sua Milícia nos Acampamentos [do PAIGC] de Cufar Nalu, Cabolol e Caboxanque. Assaltámos Cadique Ialá e Nalu. Já escrevi isso em "Putos Gandulos e Guerra" e "Pami na Dondo a Guerrilheira" sobre ele e a sua gente.
Escreverei mais, porque só quem o acompanhou, poderá confirmar o seu valor. Hoje deixo aqui uns nomes que muitos conhecerão da gente do João: Carlos Queba, Gibi Baldé, Amadu Djaló, Alfa Nan, Cabo, Indrissa, Tui na Defa...
Alguns morreram antes, do seu Capitão. Que terá acontecido aos outros? Ao Gibi Baldé sei que cortaram as mãos! E ao meu velho Alfa Nan - Cabo -, a quem devo a vida?
Gostaria de saber, porque eles vivem na minha memória, como vivem os meus valentes soldados. Desculpem o desabafo! Foi assim! Assim o recordarei!
Obrigado, camarada Ranger, por trazeres aqui o Capitão (do Exército Português), o Guineense João Bacar Jaló.
O abraço de sempre do tamanho do Cumbijã,
Mário Fitas
3 - Em 5 de Maio de 2009, o João Parreira enviou também um e-mail
Sobre o nosso valoroso João Bacar Jaló... Falei esta tarde com um camarada comando africano - o Alferes Amadú Bailo Djaló -, que parte do meu Grupo "Fantasmas", e que o conhecia bem e me disse o seguinte:
- O Bacar Jaló tinha saído de uma bolanha perto de Tite e, estando-se a aproximar de uma tabanca, sacou de uma granada de mão e despoletou-a. No entanto, o IN abriu fogo e uma roquetada acertou-lhe na anca, arrancando-lhe completamente a perna. Ao cair, a granada que ele levava na mão descavilhou-se e acabou por explodir, junto ao seu corpo, causando-lhe a morte.
O Amadú, que era da mesma Companhia do João Bacar, não foi nessa operação por estar no Hospital.
É, assim, mais uma triste história que podia ter acontecido a qualquer um de nós e que esta gente em Portugal desconhece, e mesmo que conhecesse não dava qualquer valor.
Abraço,
João Parreira
4 - O Benito Neves, em 5 de Maio de 2009, enviou outro e-mail
Caro Amigo, esta versão eu não conhecia e, na verdade, só quem estava com ele, e perto dele, poderá testemunhar com rigor como a coisa aconteceu.
No fundo acabamos por, desta forma, estarmos a prestar uma homenagem a um HOMEM simples, com o coração do tamanho do mundo, que nos guiou, comandou e nos salvou. E sei do que falo porque muitas vezes era o João Bacar que, antes e até durante as operações, alterava os percursos de forma a minimizar os riscos que as envolviam.
Relembro que, naqueles anos de 1966/67, as ordens de operações chegavam ao Batalhão delineadas não sei se pelo comando de Agrupamento (Bolama), se por Bissau.
O Comandante do Batalhão reunia, um ou dois dias depois (dependia dos transportes), com os Comandante das Companhias que iam intervir, normalmente de Cufar, Bedanda, Comandante da Companhia de Intervenção de Catió (que era a minha) e com o Comandante da Companhia de Milícias 13.
Havia na parede do gabinete um mapa da zona onde era exemplificada a operação que iria ser feita (por onde iriam avançar as Companhias que iriam montar segurança, por onde iriam progredir a Companhia de Milícias 13 e a de intervenção, etc., etc.). Depois de explanada toda a operação, era perguntado aos Srs. Cmdts das Companhias se haviam dúvidas, que eram (ou não) esclarecidas. Quando chegava a vez do João Bacar falar (e quantas vezes aconteceu...) o mesmo dizia simplesmente:
- Isso está tudo mal e se for assim eu não vou.
Pasmava-se...
- Mas está tudo mal o quê?
- Tudo - respondia o João - Esta e aquela Companhia que vão montar segurança, neste e naquele ponto, não podem avançar porque o rio está a encher, é fundo e tem muita corrente. Portanto, quando àquela hora for necessário a montar segurança, não estão lá. A Companhia de Milícias e a CCav não podem avançar por aqui porque a mata é muito fechada, dificulta a progressão e, portanto, quando se faz dia ainda estamos longe.
Além há postos de sentinela avançada que detectam a nossa progressão e quebra-se o sigilo da operação.
Ficava tudo mudo.
- Mas, João, isto tem que ser feito! - dizia o Comandante do Batalhão.
E o João, logo ali, alterava horas e percursos, como ele sabia.
Posso dizer que em toda e qualquer operação delineada (ou alterada) pelo João Bacar, nunca as NT tiveram qualquer problema e as coisas correram muito bem. No entanto, outras houveram em que não foi tanto assim.
O João foi, para nós, uma fonte inspiradora de confiança e até de alguma tranquilidade. Admirado por todos que lhe ficámos a dever imenso e cada um nem sabe quanto. Ainda hoje, repare-se, o João Bacar é uma fonte inesgotável de boas recordações, de respeito, grande admiração e enorme gratidão.
Foi para mim um privilégio tê-lo conhecido e convivido com ele durante 16 meses.
Um abraço
Benito Neves
5. Comentário do MR:
Muito agradecido aos 3, com um abraço Amigo do MR.
____________
Notas de MR:
Ver artigos de:
2 de Maio de 2009 > Guiné 63/74 – P4275: Tugas - Quem é quem (4): João Bacar Djaló (1929/71) (Magalhães Ribeiro)
20 de Fevereiro de 2008 > Guiné 63/74 - P2569: Tugas - Quem é quem (3): João Bacar Djaló (1929/71) (Virgínio Briote)
10 de Dezembro de 2007 > Guiné 63/74 - P2340: Pami Na Dondo, a Guerrilheira, de Mário Vicente (5) - Parte IV: Pami e Malan são feitos prisioneiros (Mário Fitas)
4 de Novembro de 2007 > Guiné 63/74 - P2239: Tugas - Quem é quem (2): António de Spínola, Governador e Comandante-Chefe (1968/73)
23 de Outubro de 2007 > Guiné 63/74 - P2207: Tugas - Quem é quem (1): Vasco Lourenço, comandante da CCAÇ 2549 (1969/71) e capitão de Abril
Ver também:
20 de Maio de 2007 > Guiné 63/74 - P1769: Estórias do Gabu (4): O Capitão Comando João Bacar Jaló pondo em sentido um major de operações (Tino Neves)
8 de Fevereiro de 2007 > Guiné 63/74 - P1502: Crónica de um Palmeirim de Catió (Mendes Gomes, CCAÇ 728) (8): Com Bacar Jaló, no Cantanhez, a apanhar com o fogo da Marinha
30 de Maio de 2006 > Guiné 63/74 - DCCCXIX: Do Porto a Bissau (23): Os restos mais dolorosos do resto do Império (A. Marques Lopes)
31 de Maio de 2006 > Guiné 63/74 - DCCCXXVII: A 'legenda' do capitão comando Bacar Jaló (João Tunes)
11 de Junho de 2005 > Guiné 69/71 - CIII: Comandos africanos: do Pilão a Conacri (Luís Graça)
sábado, 2 de maio de 2009
Guiné 63/74 – P4275: Tugas - Quem é quem (4): João Bacar Jaló (1929-1971) (Magalhães Ribeiro)

 Já muito se disse no blogue sobre um dos maiores Heróis da Guerra na Guiné, o Capitão Graduado João Bacar Jaló (JBJ), Comandante da 1ª Companhia de Comandos Africanos (1970/71).
Já muito se disse no blogue sobre um dos maiores Heróis da Guerra na Guiné, o Capitão Graduado João Bacar Jaló (JBJ), Comandante da 1ª Companhia de Comandos Africanos (1970/71).
Gostava de fazer um apelo a quem melhor conheça o modo como ele morreu, para que nos ajude a esclarecer se o que me contaram é verdade, e que é a seguinte: O JBJ quando saía para uma missão levava, habitualmente, várias granadas presas no suspensório ao nível do peito. Nesse dia 16 de Abril, tal como diz na brochura, ele acorria em socorro de um dos seus homens feridos, progredindo em sua direcção e, ao passar sob uma árvorezita, um dos seus galhos engatou-se numa das argolas das granadas, acabando por a despoletar.
Ao aperceber-se do clique da espoleta da granada, e da eminente explosão da mesma, o JBJ gritou para os homens que o rodeavam: - CUIDADO! – tendo-se lançado de imediato para o solo e tentado abafar sob o seu corpo a consequente explosão.
Mais me contaram que todas as outras granadas que ele transportava, explodiram também por “simpatia”, tendo-lhe mutilado horrivelmente o corpo.
Será esta a Verdade?
Na foto de Jorge Caiano (Post P3879), podemos ver o malogrado JBJ, em Fá Maninga, em 1970, no dia do juramento de bandeira da 1ª Companhia de Comandos Africanos. É o 5º homem de pé, na segunda fila, da esquerda para a direita.

Na foto à esquerda (Post 2569), JBJ em Catió, em 1967, ainda Tenente de 2ª linha (a que fora promovido por distinção em 1965) .
Foto e legenda: © Benito Neves, ex-Fur Mil da CCAV 1484 (Nhacra e Catió, 1965/67). Direitos reservados.

Reprodução de um folheto, datado de 1971, da responsabilidade do SPEME - Serviços de Propaganda do Estado Maior do Exército, CTIG, Bissau, Junho de 1971 (pp. 9-13):













Ex-Fur Mil Op Esp/RANGER, Mansoa, 1974.
___________
Notas de MR:
Ver artigos de:
20 de Fevereiro de 2008 > Guiné 63/74 - P2569: Tugas - Quem é quem (3): João Bacar Djaló (1929/71) (Virgínio Briote)
10 de Dezembro de 2007> Guiné 63/74 - P2340: Pami Na Dondo, a Guerrilheira, de Mário Vicente (5) - Parte IV: Pami e Malan são feitos prisioneiros (Mário Fitas)
4 de Novembro de 2007> Guiné 63/74 - P2239: Tugas - Quem é quem (2): António de Spínola, Governador e Comandante-Chefe (1968/73)
23 de Outubro de 2007> Guiné 63/74 - P2207: Tugas - Quem é quem (1): Vasco Lourenço, comandante da CCAÇ 2549 (1969/71) e capitão de Abril
Ver também: 20 de Maio de 2007> Guiné 63/74 - P1769: Estórias do Gabu (4): O Capitão Comando João Bacar Jaló pondo em sentido um major de operações (Tino Neves)
8 de Fevereiro de 2007> Guiné 63/74 - P1502: Crónica de um Palmeirim de Catió (Mendes Gomes, CCAÇ 728) (8): Com Bacar Jaló, no Cantanhez, a apanhar com o fogo da Marinha
30 de Maio de 2006> Guiné 63/74 - DCCCXIX: Do Porto a Bissau (23): Os restos mais dolorosos do resto do Império (A. Marques Lopes)
31 de Maio de 2006> Guiné 63/74 - DCCCXXVII: A 'legenda' do capitão comando Bacar Jaló (João Tunes)
11 de Junho de 2005> Guiné 63/74 - P103: Comandos africanos: do Pilão a Conacri (Luís Graça)

