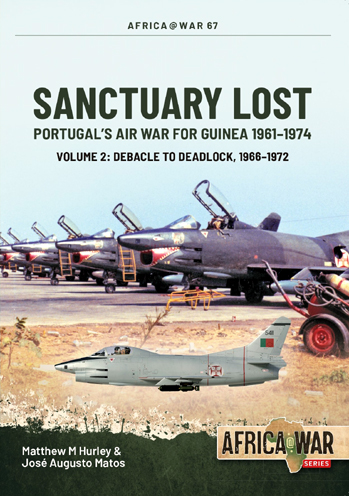1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 28 de Março de 2024:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 28 de Março de 2024:Queridos amigos,
Passa-se em revista os acontecimentos que marcam a transição de 1970 para o ano seguinte, envolvem equipamento que foi sabotado em Tancos numa operação da ARA, os permanentes conflitos internacionais devido a fogo retaliatório em território fronteiriço da Guiné-Conacri e Senegal, segue-se a Operação Mar Verde e a partir de 1971, Spínola insiste que precisa de meios face às potenciais agressões que poderão vir da Guiné-Conacri, em resposta à incursão portuguesa. As insistências de Spínola para se comprarem aviões mais eficazes esbarrava sempre com negativas dos EUA e países da NATO, curiosamente é em Abril de 1974 que se estava a apalavrar a compra de Mirage, e por razões que veremos mais adiante, Kissinger parecia abrir mão, através de um negociante israelita, de mísseis terra-ar Red Eye, entretanto a guerra acabou.
Um abraço do
Mário
O Santuário Perdido: A Força Aérea na Guerra da Guiné, 1961-1974
Volume II: Perto do abismo até ao impasse (1966-1972), por Matthew M. Hurley e José Augusto Matos, 2023 (19)
Mário Beja Santos
Deste segundo volume d’O Santuário Perdido, por ora só tem edição inglesa, dá-se a referência a todos os interessados na sua aquisição: Helion & Company Limited, email: info@helion.co.uk; website: www.helion.co.uk; blogue: http://blog.helion.co.uk/.

Capítulo 5: “Tudo estava dependente deles, de uma forma ou outra”
Acompanhamos agora a evolução dos acontecimentos desde os finais de 1970. Houvera compra de equipamento militar, de acordo com as necessidades prementes da Força Aérea, entretanto uma ação subversiva em Tancos tornou inoperacional um conjunto importante de aeronaves. O debate internacional sobre a presença portuguesa em África era cada vez mais hostil ao Estado Novo, e as flagelações em territórios limítrofes da Guiné era sempre pretexto para reiteradas acusações na ONU contra as colónias portuguesas. Estamos num período em que aumentou o fornecimento de armas e material ao PAIGC, ofertas sobretudo da Europa de Leste e da URSS, as bases do PAIGC tanto na Guiné-Conacri como no Senegal foram ganhando importância.
O Comandante Alpoim Calvão observou: “Estávamos sempre perseguindo o inimigo, mas como as fronteiras da Guiné não estavam fechadas, era como esvaziar uma banheira sem fechar a torneira.” Frustrado com o uso incontestável do PAIGC de bases estrangeiras, Spínola orientou as suas unidades militares para ações retaliatórias (desde fogo de artilharia a operações especiais) nas zonas transfronteiras. O Ministro da Defesa Nacional, Sá Viana Rebelo, assumia uma postura diferente, ordenou a Spínola que respeitasse as fronteiras internacionais e derrotasse o inimigo dentro das nossas fronteiras, o que era materialmente impossível, a guerra, tanto na superfície como aérea implicava ou perseguições ou bombardeamentos nas regiões limítrofes. Como recordou o antigo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Lemos Ferreira, nunca se deu autorização para ataques em território estrangeiro, mas eles iam acontecendo. Em 25 de novembro e em 7/8 de dezembro de 1969, as forças portuguesas terão bombardeado um depósito do PAIGC em Samine, no Senegal, matando seis civis e ferindo nove. O presidente senegalês, Léopold Senghor, ordenou um reforço de tropas na fronteira sul do Senegal, invocando acordos de defesa com a França, que garantia a utilização de seis Noratlas na base de Dacar. Em 12 de dezembro, estes aviões franceses transportaram 1200 soldados senegaleses para o campo de aviação de Ziguinchor, a cerca de 13 km da fronteira com a Guiné Portuguesa.
Esta demonstração de força (e uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenando as ações portuguesas) não dissuadiram futuras incursões; o Senegal queixou-se, entre janeiro e julho de 1970 de mais 16 ataques de forças especiais e fogo de artilharia, bem como oito violações do espaço aéreo. Amílcar Cabral admitiu que estas atividades retaliatórias tinham levado o Senegal a fechar os hospitais do PAIGC na região, a bloquear a passagem de armas e reforços e até mesmo a submeter os alimentos e medicamentos destinados ao PAIGC a controlos rigorosos.
A República da Guiné-Conacri também protestou contra a “agressão premeditada”, acusando as forças portuguesas na Guiné cinco ataques com obuses e três ataques aéreos no seu território em 1969; mas o ataque português de longe mais dramático e controverso ocorreu em novembro de 1970. Numa tentativa ousada de decapitar a liderança do PAIGC e fomentar um golpe de Estado na República da Guiné, as forças portuguesas organizaram uma invasão anfíbia a Conacri em 22 de novembro, a Operação Mar Verde, concebida e liderada pelo comandante Alpoim Calvão. Ele propôs um ataque noturno de forças especiais africanas da Guiné lideradas por oficiais portugueses e também membros do grupo dissidente a Sékou Touré, Front de Libération Nationale de Guiné (FLNG). Uma vez em terra, os atacantes tinham por missão assassinar o Presidente da República da Guiné, iniciar um golpe de Estado liderado pelo FLNG, destruir as instalações do PAIGC localizadas em Conacri, incluindo a sua sede, detenção do líder do PAIGC, Amílcar Cabral, resgatar os prisioneiros de guerra portugueses detidos na prisão La Montaigne; e, para garantir uma retirada segura destruir os MiG-17 da Força Aérea da Guiné e potencialmente embarcações hostis.
Devido, sobretudo, à falta de informações seguras e atualizadas e até à falta de apoio local aos sublevados, além da destruição de embarcações do PAIGC no porto de Conacri, o único objetivo alcançado foi a recuperação bem-sucedida de todos os 26 prisioneiros portugueses.
A participação da Zona Aérea na operação foi mínima, embora nos dias que precederam a operação os Fiat tenham realizado missões de fotorreconheicmento a 19 bases do PAIGC na República da Guiné, medida preparatória para os ataques aéreos que teriam lugar depois da queda do regime de Sékou Touré. Como isso não aconteceu, a atividade da Força Aérea durante a operação limitou-se a um voo de um P2V-5 Neptune vindo de Cabo Verde, que patrulhava à busca de navios inimigos enquanto as forças portuguesas navegavam para Conacri.
No entanto, a Mar Verde veio a ter um impacto duradouro sobre as operações da Força Aérea na Guiné. O efeito mais imediato foi o impulso moral gerado pela repatriação do único aviador português em cativeiro, o então furriel António Lobato. Este piloto de um T-6 fora aprisionado em 22 de maio de 1963, após uma colisão aérea, passou sete anos e meio em prisões da República da Guiné. Sendo o prisioneiro de guerra mais antigo dos 26 prisioneiros portugueses na prisão de Conacri, e o único piloto entre eles, a libertação de Lobato aumentou o ânimo do pessoal da Força Aérea, embora as circunstâncias da sua libertação tivessem permanecido num total segredo.
A ameaça dos aviões MiG-17 não estava neutralizada. Apenas dois dias antes da Operação Mar Verde, os aviões tinham sido transferidos para Labé, a 150 km de Conacri, por razões que continuam por explicar. Percebendo que “um dos fatores para o sucesso era o domínio aéreo, e estava-se severamente comprometido”, Calvão abortou a operação e ordenou às equipas de assalto para regressarem ao porto e daqui partir para a base na ilha de Soga. As autoridades da República da Guiné tentaram demasiado tarde utilizar as aeronaves contra os invasores, só pelas 9 horas da manhã de 23 de novembro um único MiG-17 apareceu sobre o porto de Conacri. Numa clara e impressionante demonstração de incompetência, o piloto identificou erradamente o cargueiro cubano Conrado Benitez e metralhou-o, em vez dos seis navios portugueses que já estavam em retirada. Pelas 9:30h, o caça sobrevoou os navios portugueses numa altitude elevada, mas não empreendeu qualquer ação para detê-los ou desativá-los. A sobrevivência da frota MiG-17 da Guiné-Conacri preocupava Spínola. Em 26 de janeiro de 1971, o general informou o Ministro da Defesa Nacional que temia retaliações contra instalações portuguesas na Guiné. Apesar do discurso do Governo de Lisboa querer fazer crer que aqueles acontecimentos eram uma questão puramente interna entre fações rivais, Sékou Touré apelou imediatamente a todas as capitais amigas para enviarem forças militares, especialmente aeronaves de combate, no intuito de ajudar a repelir “uma nova série de incursões inimigas”. Spínola avisou Lisboa que a Nigéria teria colocado os seus caças e bombardeiros à disposição de Sékou Touré, e tinha recebido a notícia de que o chefe da Força Aérea da Argélia viajara para Conacri, manifestando a vontade daquela nação em poder intervir. Estaria igualmente a caminho assistência militar não especificada da Líbia, Egito e República Árabe Unida.
No quadro 11 temos a relação dos pedidos de aeronaves até à data de maio de 1971, e no quadro 12 a capacidade de transporte no teatro de operações da Zona Aérea da Guiné em 1971.
(continua)
_______________
Nota do editor
Último poste da série de 29 DE MARÇO DE 2024 > Guiné 61/74 - P25316: Notas de leitura (1679): O Santuário Perdido: A Força Aérea na Guerra da Guiné, 1961-1974 - Volume II: Perto do abismo até ao impasse (1966-1972), por Matthew M. Hurley e José Augusto Matos, 2023 (18) (Mário Beja Santos)