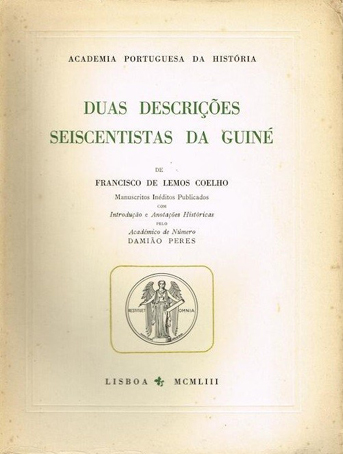[...) Trata-se de uma barraca do pequeno destacamento da Marinha que ali assegurava a manutenção da LDM que fazia a travessia do rio. Vejam-se mensagens e os "autógrafos" que a rapaziada lá ia deixando, "grafiatadas" nas paredes"! (...): "Visite o hotel Bandalho", "LDM 308 C/M Rego", "Coruche, 31-1-66", Parque de Nudismo"...
Foto (e legenda): ©Lúcio Vieira (2019). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]
Infografia: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné (2019)
Guiné-Bissau > Região do Cacheu > Rio Cacheu > Ponte de São Vicente (ou ponte Euro-Africana). Início da construção construção em 2007.
Guiné-Bissau > Região do Cacheu > Rio Cacheu > Ponte de São Vicente (ou ponte Euro-Africana), em betão armado, com 670 metros de comprimento, inaugurada em 2009. A construção esteve a cargo da portuguesa
Soares da Costa.
Fotos do geólogo e fotógrafo
Pedro Moço, autor do blogue "Construção da Ponte de S. Vicente - Guiné.Bissau" (com a devida vénia).
 |
António Lúcio Vieira, ex-fur mil,
CCAV 788 / BCAV 790 (Bula e Ingoré, 1965/67) |
DE NOVO O TEMPO SE QUEDOU - Nenhum acto é mais irracional que a morte de um ser humano às mãos de outro (**)
por António Lúcio Vieira (***)
Os contornos alaranjados, de um sol que prometia calcinar, surgiram por entre as copas do mangal. A um sinal do guia, a coluna parou. Embora soprasse uma brisa fresca, naqueles derradeiros dias da época das chuvas, quando as temperaturas se tornam impiedosas, os corpos transpiravam abundantemente, como resultado da longa caminhada nocturna, de muitas horas. Por isso parámos.
Daí a pouco – diziam-nos a experiência e os sentidos – as aves acordariam com o som infernal das rajadas e rebentamentos e nenhum homem podia estar fisicamente cansado, quando entrasse no mortífero jogo. olhámos uns para os outros, em busca de reacções, mas os rostos denotavam a mesma frieza e impassibilidade de tantas outras ocasiões anteriores.
Estávamos, “apenas”, mergulhados em mais uma operação de assalto a um reduto inimigo, desta feita na região de Zinguichor, na linha de fronteira com o Senegal. Só isso. E isso era o que de mais vulgar nos podia acontecer, naqueles estranhos dias, no mato húmido e ardiloso da Guiné. Havia já tanto tempo que vestíamos a pele de guerrilheiros experimentados, que as recordações dos dias banais quase se haviam desvanecido. Porquê preocuparmo-nos agora com um acontecimento, tão aparentemente banal, como pode ser um desafio à morte?
A guerrilha transformara-se, com a rotina permitida pelo tempo, num indelével estigma da nossa existência: um poderoso e inebriante elixir, que nos provocava os sentidos, com desusado vício, e uma quase constante sensação de embriaguez. Tratava-se, afinal, de mais um banal desafio às nossas capacidades e nenhum de nós sabia porquê, nem de que modo, se recusam assim os levianos desafios de vida e morte. A voz do capitão soou no AVF, num aviso sussurrado e lacónico: “Entrámos na zona do objectivo. Máximo silêncio, progressão fantasma”.
Lentamente, com mil cautelas, de olhos e sentidos despertos, recomeçámos a caminhada, agora medindo os passos e as sombras, já de armas em riste e prontas a iniciar acção de fogo. À frente a atrás da coluna, sentiam--se os olhares de muitas dezenas de homens perscrutando a barreira verde-densa, que ornava as margens da picada, sinuosa e atapetada de ramos e folhas secas. Da progressão de mais de centena e meia de militares, apenas pairava no ar um breve quebrar abafado, provocado pelas folhas secas esmagadas pelas botas de lona.
O pesado silêncio que se abatera sobre a mata – dizia-nos o saber adquirido – não augurava nada de bom. Cherno, o experimentado guia fula, sábio na leitura de pistas e sinais, agitava-se, inquieto e olhava-nos, a espaços, com uma estranha expressão que nunca antes lhe vira. Um pouco adiante, ao dobrar um pequeno renque de cajueiros, a testa da coluna entrou em zona menos arborizada, pejada de mato rasteiro e bordejada por um pequeno mangal. Bruscamente, uma estreita barreira de capim anunciava o fim da savana. À nossa frente, em semicírculo, perfilava-se de novo a mata densa, de árvores enormes, de musculados troncos. Entre a parede de capim e a fronteira da mata, abria-se uma extensa clareira, demasiado extensa e aberta, como as suspeitas e o temor que nos assaltaram.
Quando as primeiras rajadas de pistola-metralhadora acordaram o silêncio, lançadas raso ao solo por duas sentinelas entrincheiradas em abrigos individuais, os homens da frente, na testa da coluna, atingiam a orla da mata. Era uma ratoeira. Apercebemo-nos da situação no primeiro instante, quando o fogo inimigo começou a esventrar o solo à nossa volta, abrindo, com incessantes rajadas, caprichosos sulcos mortíferos, como bichas-de-rabear, que nos zurziam aos ouvidos, se infiltravam enfileiradas no chão, quais formações de formigas e nos contornavam os corpos deitados, como se batucassem uma ritual dança de morte.
A mata à nossa frente abria-se em apertado circulo e o inimigo acoitava-se aí, em todo o redor da “ferradura”, a coberto dos trocos espessos e, lá no cimo, dissimulado na ramagem frondosa das imponentes árvores centenárias. No meio, desprotegidos na calva clareira que a mata envolvia, estávamos nós. Expostos e vulneráveis.
O matraquear medonho das armas esboçava uma visão de apocalipse, abalando-nos o âmago e acordando-nos de novo para a eminência do perigo que, em tantas ocasiões semelhantes, de imediato nos tornava animais acossados. E era desse medo, estranhamente inconsciente, porém controlado, que germinava um quase sobre-humano, levianamente inevitável e incorrigível, desprezo pelo silvar das balas, com que, persistente e com demasiada eficácia, tentavam silenciar-nos.
Era imperiosa uma leitura serena da situação e uma tomada urgente de decisões, antes que os morteiros 82, dos artilheiros do PAIGC, corrigissem o ângulo e a Companhia de Infantaria, recém-desembarcada em Bissau – que nos reforçava a retaguarda, naquele que foi o seu baptismo de fogo – se visse envolvida pelos experimentados guerrilheiros guineenses.
O capitão mandou assim avançar o grupo de assalto “Os Dragões”, para envolvimento pela direita, enquanto me ordenava que deslocasse, pelo flanco esquerdo da ferradura, os homens dos “Craques”, numa tentativa de espartilhar os elementos mais avançados do inimigo.
À minha frente, o Jaime, um dos mais hábeis artilheiros do meu grupo, praguejava com a Dreyse, que se encravara, enquanto, muito perto da minha posição e à ilharga dos homens sob o meu comando, o recém-transferido Furriel Miranda, surpreendentemente calmo, acendia um cigarro e percorria com o olhar as copas das árvores, em busca de alvos. Impressionava a frieza e domínio daquele moço cabo-verdiano, serenamente sorridente e despreocupado.
Do interior da mata, ceifando capim e descarnando arbustos, soavam novas rajadas, por entre as quais se distinguia, com enervante nitidez, o cantar irritante de duas metralhadoras ligeiras, estrategicamente instaladas nos flancos da mata. A escassos metros dos homens do meu grupo, o “Aranha”, artilheiro-mor dos “Dragões”, procurava raivosamente silenciar uma delas, à morteirada – com o morteiro 60 abraçado junto ao sovaco, em posição de tiro tenso – e com a destreza e o sangue frio que toda a Companhia lhe reconhecia.
Ao segundo disparo, a metralhadora suspendeu o matraquear e, como que obedecendo a um sinal, todas as armas, de ambos os lados do campo, se calaram. Um manto impressionante de silêncio desceu na mata e envolveu tudo e todos. Olhei em redor os homens do meu grupo, em busca de feridos. Ilesos, dispersos pelo chão, acoitando-se à protecção de troncos caídos, ou nos pouco numerosos morros de baga-baga – altas formações de rijo barro, construídas pelas vorazes colónias de formiga salalé – rompiam com o olhar a densidade da mata, tentando adivinhar as sombras e os segredos, que se aprestavam para um confronto que, do outro lado do bosque, se suspeitava persistente e se tornaria, se necessário, desprendida e pacientemente longo.
Sentia-se, em muitos daqueles jovens militares, uma inabalável decisão, uma quase teimosa valentia, denunciadas pela estranha tranquilidade nos rostos e nos gestos. Homens, tão arreigadamente decididos, quase sempre aldeões, tão cedo e tão abruptamente arrancados ao conforto materno, viam-se movidos, quantas vezes sem sequer entenderem princípios e razão, para as malhas de obstinados interesses, tão distantes e desligados dos sonhos de futuro, com que, no dia-a-dia, alimentavam a pacatez da arrastada existência, que ao povo humilde coubera em sorte.
Quase sempre, também, sem um gesto de revolta, sem uma palavra de raiva, sem um arredar da barricada, sem comida e sem água, tanta vez, sem uma lágrima de desespero. Sem pernas, sem braços, quantos deles; sem futuro nem esperança: outros ainda sem vida.
Alguns metros atrás, no flanco direito da orla da mata, o furriel enfermeiro, irrequieto madeirense, gracejava, enquanto acudia ao braço do Cabo “Mané”, riscado por uma bala, felizmente sem sorte. Mesmo ali, enquanto dispersas salvas de rajada, mantinham vigilantes as forças em confronto, o funchalense Ilídio – meu particular companheiro de ócios e perigos – mantinha o apurado e incorrigível sentido de humor, que o distinguia no conjunto da Companhia, enquanto se entregava à nobre tarefa de sarar os corpos dos homens no terreno.
Escolhi esse momento para me levantar e correr para um abrigo melhor, que vislumbrara pouco antes, formado por um tronco caído, junto a um trilho, trinta metros adiante. Mal me havia erguido do chão quando, de uma árvore próxima, saiu uma curta rajada e depois outra mais longa. A primeira cravou-se no extremo do tronco onde antes me abrigava: a segunda, alguns metros adiante, levantou um sopro de poalha acastanhada, quando se cravou num morro de salalé, onde um dos homens do meu grupo pouco antes se havia recolhido.
Corri a trintena de metros, em busca de melhor local para me acoitar, enquanto disparava pequenas rajadas para as copas de duas das árvores, de onde me visavam. Mas os meus disparos já não se ouviam, confundidos na macabra sinfonia do estouro das muitas armas dos rapazes da frente. Recomposto, o “Mané” aprontara já o morteiro 60 quase na vertical, soltando-lhe, logo depois, uma granada. Segundos volvidos, o projéctil mergulhava na copa do bissilão, fazendo saltar ramos e folhas, pedaços de tronco, carne humana e metal.
Depois, o silêncio abateu-se de novo. Pelo ANGRC9 a troante voz de tenor do capitão perguntava se os T6 estavam demorados. Respondeu-lhe o comandante da pequena esquadrilha, avisando da chegada do apoio aéreo ao objectivo em cerca de três minutos. E pedia coordenadas para o lançamento das bombas. No alto, sobrevoando a zona, a bordo da pequena Dornier, o comandante de batalhão informava: “Abutres na zona”. O Poiares afastou, por momentos, o ouvido do AVF, olhou-me e gritou: “Estão a chegar os aviões. Ouvi agora no rádio”.
Não tardou o som tonificante dos motores dos dois T6 da Força Aérea. Localizado o alvo, picavam, em sucessivas passagens sobre o denso bosque, com manobras de voo rasante, libertando das asas cargas mortíferas, que afundavam crateras e mutilavam árvores e homens, enquanto as armas ligeiras, dos efectivos do PAICG, disparavam descoordenadamente sobre eles, tentando abatê-los. Tudo em redor pareceu eclodir, num apocalíptico derrocar da própria natureza e das vidas que ali se acoitavam.
Respirámos fundo, por escassos momentos. Aliviados de munições, os Harvard T6 rumaram à base em Bissalanca, deixando no seu rasto, para além de sementes da morte, um estranho e cavado silêncio. Pelo rádio chegou o aviso de que as munições dos “Dragões”, que ocupavam a frente da flecha, ameaçavam esgotar-se. A uma ordem do capitão, o meu grupo e o do Furriel Miranda avançaram. Possuíamos um resto de munições e era-nos ordenado que reforçássemos a vanguarda, na zona mais próxima da primeira linha da guerrilha africana, dissimulada na mata. Cerca de trinta homens apenas, naquela ponta da flecha e uma, preocupantemente reduzida, reserva de munições. Ninguém, no seio dos dois pequenos grupos de assalto, queria pensar no que aconteceria quando, balas e granadas, do nosso escasso grupo de homens, se acabassem.
Éramos, nas circunstâncias, a derradeira esperança de romper a passagem e fazer recuar a força sitiante, após horas de confronto, sem avanços, nem vislumbre de saída daquela armadilha em que, mesmo após a eternidade de uma já longa experiência de guerrilha, havíamos ingenuamente caído.
Algures, já em “chão francês” – como ainda, muitos anos após a independência, era apelidado o território senegalês – na orla da densa floresta, por entre pragas e gritos, sentíamos a movimentação dos homens acoitados na mata, deslocando apressadamente para a retaguarda, nos subterrâneos da base de Zinguichor, situada a escassas dezenas de metros, os mortos e os feridos, que a acção conjunta das forças no terreno e os aviões bombardeiros haviam causado.
Era aí, na referenciada base, agora estrategicamente instalada centenas de metros para o interior, em recém-construído conjunto de instalações e estreitos corredores, dissimulados no subsolo, onde não faltava um improvisado hospital de campanha, que se havia apontado o objectivo da missão. E era a segunda vez que as nossas forças demandavam o local, meses antes arrasado, aquando de uma primeira incursão à estratégica base inimiga.
Algures, alguém pedia desesperadamente um helicóptero, para evacuação de feridos. Na “DO” de comando, que sobrevoava a zona, estava-se por certo a pedir à torre de controlo de Bissau o apoio aéreo, porque, durante breves minutos, nenhum som se ouvia no auscultador do meu rádio. Quando o silêncio pouco depois foi quebrado, a voz serena do comandante Calado restabelecia o contacto, informando que o heli se dirigia a norte, rumo ao objectivo, na zona de fronteira onde nos encontrávamos.
Logo depois vi o Morais, em terreno aberto, deitado sobre um ensanguentado braço esquerdo, que a outra mão amparava. Quando ao longe se destacou a silhueta do helicóptero, chamei o cabo enfermeiro, indiquei-lhe a posição do ferido e ordenei aos homens que avançassem para a língua de bolanha à nossa esquerda, onde se montaria a segurança para a aterragem. Era um local ornado de palmeiras esguias e de frondosa ramagem, alto capim e arbustos flexíveis, que dificilmente se deixam quebrar. Não era a posição ideal para o pouso, mas a urgência da evacuação de, pelo menos um dos feridos e a proximidade das forças adversárias, não permitiam escolha melhor e mais segura.
Metros atrás, no interior da “ferradura” da clareira, dispersas pelo chão, o grosso das nossas forças vigiava. Estava-se, claramente, numa fase de mútuo estudo de estratégia, durante a qual apenas pequenas rajadas, ou tiros isolados, quebravam o silêncio e mantinham atentos os atiradores de ambos os lados. O mato estendia-se a todo o espaço que a vista abrangia, da orla do pântano à densa floresta ao longe, que uma névoa difusa só agora, várias horas após a nossa chegada, aparentava dissipar-se. Aproximávamo-nos de meio do dia e o chão queimava. Reflexos castanho-avermelhados rodopiavam ao sol, espelhavam nos caules de capim e nas águas lodosas do braço pantanoso da bolanha.
Quando o heli, numa súbita elipse, se aproximou do solo, o vento levantado pelas pás do hélice envolveu-nos numa onda de frescura. Do interior do aparelho saíram o mecânico e uma, estranhamente calma, enfermeira paraquedista. Escassos minutos após o pouso, enquanto da mata os homens do PAIGC metralhavam a zona onde nos encontrávamos, numa tentativa de abatê-lo, o aparelho elevou-se no ar, num quase acrobático salto, brusco e veloz, levando a bordo um primeiro grupo de feridos. Antes, porém, deixara-nos o mais desejado dos presentes: garrafões de fresca água e cunhetes de munições de G3, de Dreyse, de morteiro e bazooka.
Decorreu uma silenciosa eternidade. As munições recém-chegadas distribuíam-se pelos homens, em breves lances de corrida, quase sempre acompanhados por curtas rajadas de cobertura. Entretanto, quase sem nos apercebermos, o Alouette III regressava, terminando a evacuação dos feridos. Concluída a missão de segurança, atravessámos, em sentido inverso, a estreita língua de pântano, agora sob uma mais cerrada barreira de fogo da guerrilha. As granadas de morteiro caíam à frente e atrás de nós, erguendo cogumelos de lodo e água pestilenta e poupando, milagrosamente, o punhado de homens, que me seguiam de volta à zona da clareira que nos fora destinada.
A bolanha ali era pouco profunda, porém o facto de estarmos enterrados nela até quase aos joelhos e com as botas encalhadas no fundo lodoso e movediço, criava-nos uma incómoda sensação de aprisionamento. De pé, quase sem capacidade de movimentos e à mercê das balas que, do interior da mata encetavam nova flagelação, tentávamos desesperadamente encetar uma resposta. “Tá um gajo de camisa verde naquela árvore, meu furriel!”- gritava o China, enquanto disparava na direcção do atirador furtivo, que se dissimulara com a ramagem, na forca formada pelo tronco. Na frente, bem no interior da ferradura, já se respondia de novo às armas do PAIGC, que pouco depois voltaram ao silêncio.
Era, porém, um silêncio pesado e angustiante, que nem as aves ousavam quebrar. um silêncio que se elevava no espaço, que parecia subir velozmente rumo ao céu, como se fosse uma maldição, ou uma prece. Mas foi efémero. Daí a pouco, por entre gritos e pragas, as forças inimigas voltaram a disparar.
Abateu-se o céu naquela antecâmara do inferno, dividida pelo espaço aberto da clareira e a fiada de árvores que escondiam a floresta. o estrondo enorme de todas as nossa armas e a consciência de que não estávamos dispostos a ceder, deve ter abalado a moral dos homens na mata porque, pouco depois, os sentimos recuar. Sabíamo-lo porque os tiros nos chegavam agora mais dispersos e distantes.
Entretanto, reabastecidos, os aviões voltaram a rasar o terreno, lançando, uma e outra vez, pesados projecteis, que abalavam a mata até às vísceras. Era uma estranha e assustadora melopeia, que se esbatia, lá longe, em ondas sucessivas. o Micas olhava os enormes pássaros de fogo, com uma expressão quase patética, enquanto gritava, eufórico, naquele seu jeito de dizer as coisas que, mesmo ali, às portas do inferno, arrancava sorrisos aos companheiros.
Era o espectáculo da morte, no seu apogeu, traduzido em nós como algo de imponente e cruelmente tonificante. O nosso primeiro objectivo era a própria sobrevivência e os T6 estavam, decididamente, a contribuir profundamente para a conseguirmos. Era isso, afinal, a premissa de todas as guerras, dos grandes conflitos às curtas escaramuças; das legítimas, onde se defende o berço, o sangue e os haveres, às movidas por obscuros interesses de hegemonia e de conquista.
Enquanto os T6 cumpriam o ritual do extermínio, em bombardeamentos retaliatórios, sentado junto a um morro de baga-baga, um cigarro tremulando entre os dedos, todo esse incómodo desfiar de ideias me atormentava a mente e repercutia no cérebro, quase tanto como o estrondo das bombas lançadas pelos Harvard, a escassos cem metros do meu improvisado abrigo. Quando nos levantámos para o assalto, cumprindo a clássica acção de busca e recolha na mata, após o som dos aviões se ter perdido para os lados do Cacheu, o equipamento pesava-nos como chumbo. A lama e o lodo, colados ao camuflado e ao corpo e a quase incapacidade de raciocínio, inspiravam-nos laivos de inquietante irracionalidade e desvario.
E isso notava-se bastante mais quando riscávamos os olhares uns pelos outros, sem nos atrevermos a fitar demoradamente os companheiros de missão, de infortúnio, porém de sobrevivência. Autómatos, como muitos de nós pareciam ter por condição, naqueles decisivos momentos da existência. Filhos retirados às mães, perdidos num turbilhão fervente de decisões e tratados e manobras, de uma política que nenhum aprendera a ler e da qual muito menos sabia os reais motivos.
Entrámos, cautelosos, afoitando a densidade da floresta. A frescura provocada pelas sombras da mata colidiu connosco, fazendo-nos sentir, por breves instantes, seres humanos. Mas foi curto o fragor da sensação. A visão apocalíptica dos corpos mutilados, ou totalmente desfeitos, por onde o sangue ainda abundantemente se derramava, regando a terra e ceifando o que de vida lhes restava, ribombou aos nossos olhos.
Ali nos confrontávamos com o cru dilema e nenhum de nós era capaz de discernir o que os nossos olhos viam: se peças de uma máquina desfeita pelo homem, se o próprio homem esmagado pela máquina. No fundo, para as estatísticas oficiais, tratava-se apenas de, fria e levianamente, inimigos abatidos, números para constar nos relatórios, com que os feitores da guerra – habitualmente alheios às dores e traumas dos conflitos – geriam a sorte dos que matam e dos que morrem.
Autómatos, como então pensei, sorriamos, incredulamente renascidos, esquecidos já de perigos e canseiras, mesmo na presença daquela tão cruel e irreparável visão da morte. No chão, cadáveres ou moribundos, deixados para trás, jaziam homens cujo crime se resumia à ignomínia de terem nascido na sua própria terra, a uma teimosa vontade de liberdade, de viverem e morrerem naquele chão que os parira e alimentava, livres de opressões e de destinos alheios.
A acção da guerrilha, sabíamo-lo pela propaganda do movimento, não visava o povo dominador e menos ainda o dominado, que aceitava o jugo, o alvo eram os teimosamente cegos e insensíveis poderes instalados em Lisboa, que rodeavam de grilhetas todos os pulsos e todos os destinos do povo. Pior; dos povos. Sofria-se, “do Minho a Timor”, um longo e desgastante cativeiro, disfarçado, além fronteiras, pelo folclore e pela psicossocial. “Não voltaremos a ser um campo de trabalhos forçados”, ecoava nas palavras serenas, determinadas e contidas de Amílcar Cabral.
Açoitavam-nos a mente as avisadas palavras dos líderes da guerrilha. os panfletos de propaganda, recolhidos nas tabancas, ou de mistura com o espólio capturado em bases inimigas, açoitavam-nos os olhos e as palavras transmitidas via rádio, a partir de Conacri, invadiam-nos as horas de sono e latejavam-nos na mente, tanto quanto as granadas, que se abatiam sobre a débil moral dos homens, nos esventravam abrigos e casernas e nos minavam a resistência. Que luta aquela e o que fazia, naquela distante terra de outras gentes, a juventude de um país que apenas ambicionava viver solidária e, se possível, feliz. E em paz.
De casa, bem longe, chegavam aerogramas; palavras pungentes, escritas com tinta de lágrimas, linhas de trémula caligrafia, por entre as banais consultas sobre a saúde e o bem-estar, no habitual tropel de interrogações, se queria saber se “já cá vens passar o Natal?”.
Nos homens quase em fim de comissão, prenhes de incertezas, vazios de destino e de futuro; homens de brandos costumes, cansados de guerra e de medos e raivas, os silêncios, mais do que gritados nas entrelinhas das cartas, sentiam-se nos rostos e nos olhares vazios, nos desalentos, de quantos sabíamos não poder responder a muito do que, na longínqua e descuidada “Metrópole”, nos perguntavam os do nosso sangue e os do nosso afecto: os da nossa raça.
E era maior o sentimento de frustração quando, junto às perguntas para as quais, de todo, desconhecíamos resposta, se juntavam as respostas que a prudência aconselhava a evitar. Tal como o amor, imortalizado por Camões, também as palavras, escritas ou faladas, chegadas aos ouvidos atentos dos que, na sombra, “zelavam pela defesa do Estado”, mesmo ali na antecâmara da morte, eram algo que soava como um perigoso “fogo que ardia sem se ver”, uma geração inteira, o sangue novo, generoso e fértil da juventude de um país, levado em porões de navio para terras que não sabia, sofria amordaçado a sina de ser povo e os caprichos de quantos, muito antes ainda de ter nascido, lhe traçaram o destino e lhe ameaçaram a existência e o futuro.
Pensava-se em tudo isso, numa amálgama confusa de sensações e sentimentos, de razões e motivos, que nenhum de nós, em verdade, conseguia conscientemente entender. Embarcaram os melhores filhos de uma nação em porões de barcos e eles foram. Decretaram-se neles ordens de matar ou, heroicamente morrer. E os filhos do povo, que já tanto sofria na carne a agrura de ser cativo na sua própria terra, partiram, tão espiritualmente vulneráveis, como galhardamente afoitos. Matando, muitos deles; morrendo, ingloriamente, outros tantos. Crianças, há tão pouco, tantos de nós por ali errantes, por entre os nevoeiros da vida, procurando nortes e caminhos, sem saber, quantas vezes, que passos encetar em busca de futuro e sorte.
Pensamentos que, tantos de nós, nos rincões da branda terra portuguesa, ou nos densos e ardilosos matos africanos, sentíamos ecoarem nas mentes, martelando com desusado estrondo as horas de vigília das longas noites de atalaia. ou furtando os pés aos segredos, em longas progressões nocturnas no terreno, semeado de mistério e incertezas. As nossas noites eram, havia muito, noites sem sono, noites sem estradas nem destinos. Sem luar, ou um farol: noites, sequer, sem certezas de haver amanhecer.
Naquele discreto espaço, anichado ao Golfo da Guiné, que a imprensa estrangeira tenebrosamente apelidava de “Vietname de África”, parcela de território pouco mais vasta do que a continental superfície alentejana – escassos 36 mil quilómetros quadrados de chão pantanoso, onde as febres mortais abundam; nesga de África espartilhada pelos limites do moderado Senegal e da hostil República da Guiné-Conacri – ali mesmo, perdido no abafado e castigador clima tropical, adiava-se o futuro de dois povos, distintos e distantes.
De um lado o sangue novo e válido de Portugal que, na mente e no corpo, sofria traumas, que as gerações seguintes não iriam poder sarar. Do outro lado do conflito, a juventude africana que, em recurso, de armas na mão, dizia ao secular colonizador que era tempo de assumir nas suas mãos os destinos do seu próprio povo e que apenas a ele cabia escrever o futuro da sua própria terra.
Já por todo o mundo civilizado as potências colonizadoras tinha escutado e entendido as legítimas aspirações do martirizado continente africano. Menos em Lisboa, onde repousava o autismo e a alma de todo um povo se vestia de luto, em cada barco que chegava, em cada medalha póstuma.
Vinha-nos à mente tudo isso enquanto, perscrutando a ardilosa floresta, invadimos a proibida barreira da fronteira senegalesa. Para além dela, em zona tabu, a base inimiga desalojava, apressadamente, para o interior, os mortos e feridos que, ao longo daquela longa manhã, os guerrilheiros conseguiram evacuar. Numa rápida acção de busca e recolha, capturámos armas e documentos e encetámos o regresso. Não era aconselhável prolongar o avanço, já que o território que pisávamos era soberano e o Senegal não se apresentava como opositor declarado de Portugal. Nada mais havia ali a fazer. As duas centenas de homens, autómatos macerados das duas companhias no terreno, estavam exaustos após seis terríveis horas de fogo.
Sobreviver a um dia assim, dilacera na alma cicatrizes, tão dolorosamente insanáveis e tão eternamente demoníacas, que nenhum homem, nascido e moldado no barro dos afectos e da razão, espiritualmente lhe resiste. Algures, o poema recorda: “nunca se regressa apenas vivo / ainda que a guerra finja não matar”.
Ouvem-se os tambores da guerra, por uma vez, “e nunca mais se retoma a inocência / nem a vida”. E nenhum bálsamo era, ainda assim, mais prodigioso do que a certeza que, para além do germinar dos sinistros e infindáveis pesadelos, arautos do ruir do humano, que nos enfeitiçara a existência, a epopeia da morte não lograva dissipar o pensamento de que podíamos, apesar de tudo, lidar com o inferno e a sombra da mortalha. o sol do meio-dia, que só então parecia ter despertado, espelhava-se a oeste num ténue cirro de nuvens, que se alongava em línguas poeirentas, como tempestades de areia e queimava, mais do que o sibilar das balas e o explodir das granadas, que nos haviam tentado o corpo.
Mas a ligeira brisa que se levantou de sul surgia como uma revigorante terapia de esperança, rasgando as fronteiras de um dia que se anunciava mais promissor e radioso, porque a vida nos devolvia aos recantos da alma, onde o espectro da morte, uma vez mais, se tentara dissimuladamente insidiar.
Depois, na penosa caminhada para sul, a coluna regressou, pelos meandros sinuosos da picada.
António Lúcio Vieira
In “O Mouro da Praia da Foz” (Lisboa, Chiado Editora, 2014) (cortesia do autor) (****)
_____________
Notas do editor:
















 quinta, 7/01, 19:45 (há 23 horas
quinta, 7/01, 19:45 (há 23 horas