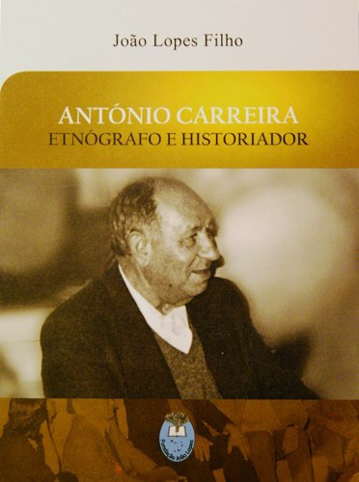1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 30 de Junho de 2022:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 30 de Junho de 2022:Queridos amigos,
Corresponde a um período em que Carreira desbravou imensa documentação nos arquivos, toda esta pesquisa sobre o comércio negreiro destinado primordialmente ao continente americano. Esta análise sectorial mostra claramente a crescente vigilância inglesa nas águas destes pontos da costa africana, mas igualmente muito ativa nas Antilhas. Resistiu-se por todos os meios, tentou-se enganar a vigilância, e a ninguém assombra que a escravatura tivesse recrudescido entre os povos da região, à falta da exportação. Ao tempo começa o comércio da mancarra, é uma nova lógica comercial que se instala, incentivar culturas e propor novos mercados de exportação, favoráveis aos propósitos coloniais. Aqui se deixa o testemunho de agradecimento a todos estes trabalhos pioneiros de Carreira, a historiografia anterior sempre fugiu a decifrar e a mostrar os cenários deste hediondo comércio.
Um abraço do
Mário
As últimas décadas de comércio negreiro na Senegâmbia e Cabo Verde
Mário Beja Santos
A Junta de Investigações Científica do Ultramar deu à estampa em 1981 um trabalho de António Carreira intitulado “O Tráfico de Escravos nos Rios de Guiné e Ilhas de Cabo Verde (1810-1850)”. Aqui se tem feito referência ao conjunto de obras de Carreira sobre o comércio negreiro, ele foi um pioneiro nestes estudos que hoje conhecem franco desenvolvimento. Aqui se pretende somente fazer referência, formalmente abolido que estava o tráfico, à sua repressão, o investigador alega escassez de informações nas pesquisas arquivísticas que fez. Atenda-se ao que ele escreve:
“Tudo indica que os negociantes de escravos residentes em Cabo Verde se tornaram extremamente dinâmicos a partir dos primeiros anos do século XIX – talvez na razão do aperto da fiscalização. Pelo menos é o que se conclui dos relatos das comissões mistas, quer a sediada na Boa Vista, quer a da Serra Leoa e pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros português.
Os navios espanhóis apoiados em Cabo Verde navegavam com bandeira portuguesa e passaporte concedido pelo governo de Cabo Verde. À sombra dessa proteção acolhiam-se armadores espanhóis e um ou outro brasileiro, isto se falar numa espécie de caçadores furtivos procedentes de outras áreas.
Das listas oficiais de navios apresados, de 1835 a 1839, com escravos a bordo ou por simples indícios de se dedicarem ao tráfico e dos que foram declarados suspeitos de implicação no tráfico pelas comissões missões, referenciamos 36 armadores com um total de 55 navios. De entre os condenados, 14 transportavam escravos e 25 teriam a bordo mercadorias próprias para o negócio da escravatura.
Também estavam sujeitos a apresamento e confisco do casco os navios que tivessem: escotilhas com grades abertas; repartimentos, coberta corrida ou separações em maior número que é costume; tábuas aparelhadas para formar segunda escotilha; gargalheiras, algemas, anjinhos, cadeias ou outros instrumentos de contenção; maior quantidade de água em pipas ou tanques do que é necessário para o consumo da tripulação; quantidades extraordinárias de selhas, gamelas ou bandejas para a distribuição do rancho do que a necessária para o uso da equipagem; quantidade extraordinária de arroz, feijão, carne, peixe salgado, farinha de pau, mandioca, milho ou outras farinhas.
Pode dizer-se que se preparava o caminho que viria a permitir aos ingleses a imposição a Portugal das estipulações do Tratado de 3 de julho de 1842”.
E assim nos aproximamos concretamente do comércio negreiro nos rios da Guiné e Cabo Verde. Carreira faz referência a uma carta de maio de 1835, o embaixador inglês Howard de Walden comunica ao ministro português que fora apresada em 14 de agosto de 1834 na ilha de Cuba a escuna Felicidade transportando a bordo 174 escravos pertencentes ao governador de Bissau. Desembarcados os escravos, a escuna foi levada para Serra Leoa e aí entregue à comissão mista. A escuna Felicidade estava inscrita no arquivo da Praia, nota-se, no entanto, uma discrepância em vários elementos, mas não deixa de ser flagrante a coincidência do nome do navio e o número de escravos apresados. Entre 1836 e 1839 terão sido apresadas embarcações com uma média anual de cerca de 1000 escravos. Interrogando-se quanto aos portos em que teriam sido embarcados os escravos, Carreira diz que talvez se possam apontar os rios Casamansa, Cacheu, Geba, ilhas de Bissau e dos Bijagós ou nas rias do Sul – Nuno, Pongo e ilha dos Ídolos – como sendo as áreas de procedência da maioria das carregações.
Continuamos a citar António Carreira:
“Para o volume de escravos apresados, os 41 transportados pela escuna Liberal que navegava com passaporte passado pelo governo de Cabo Verde, e detectados pelo brigue brisk, a 14 de abril de 1839, constituíram uma gota de água no imenso oceano de tráfico ilícito. E daquele número unicamente 3 foram dados como pertencentes a Honório Pereira Barreto, por cuja infração foi condenado pela comissão mista à pena de incapacidade de exercício de funções públicas por 5 anos, agravada com a multa de 2 contos de réis! Foi inegavelmente uma condenação política, a que talvez não tivesse sido estranha a influência dos próprios patrícios que lhe invejam a posição preponderante que desfrutava.
No actual estado das pesquisas arquivísticas sobre a matéria (arquivos de Lisboa e de Cabo Verde – já que na Guiné há absolutamente nada) apenas podemos indicar outro caso de tráfego ilícito, não por apresamento de navios e/ou escravos, este registado na correspondência da comissão mista da Serra Leoa e o Ministério da Marinha e do Ultramar. Ao dar a conhecer ao governo de Cabo Verde as conclusões da referida comissão, o Ministério dizia: O rio Nuno há 3 anos que não tem sido visitado por um navio de escravos; contudo, tem sofrido a influência do muito ativo comércio estabelecido em Bissau, de onde são enviados agentes ao rio Nuno a fim de comprar escravos que mandam para Bissau em ocasião oportuna. O negociante Caetano Nosolini tem tido a maior parte deste negócio e emprega para este fim em rio Nuno dois agentes europeus, além de gente de cor empregada em seu serviço. De 1841 em diante, a documentação encontrada alude com frequência a navios suspeitos em circulação nos rios de Guiné e a navios usando ilegalmente a bandeira portuguesa”.
Tudo levava a crer que o comércio negreiro sofrera uma baixa sensível em quase todos os bens conhecidos mercados da costa africana, tão intensa era a vigilância dos cruzeiros britânicos. Carreira reflete do seguinte modo:
“É muito possível que em uma ou outra região os naturais tivessem assaltado e destruídos as instalações de recolha de escravos, libertando-os; mas isso sem carácter generalizado, pois na altura os régulos islamizados haviam já lançado a campanha contra os animistas, reduzindo-os à escravidão, e vendendo uns aos negreiros europeus (através dos Djilas) e outros no interior do continente, onde os utilizavam como força de trabalho, necessária à manutenção de todo o séquito próprio de régulos Fulas e Mandingas”. Carreira observa ainda que o tráfico ilícito continuava nas ilhas de Cabo Verde e mostra documentação. Há um relatório do Diretor da Alfândega de Bissau, datado de 22 de dezembro de 1857 e dirigido ao Visconde de Sá da Bandeira onde se afirma que em 1842 cessou completamente a exportação de escravos de Bissau e Cacheu. Carreira observa que esta informação não lhe parecesse inteiramente exata quanto a Bissau, pelo menos, e cita documentação contraditória. E, escreve mais adiante: “Tudo indica que houve um recrudescimento do tráfico ilícito nas zonas do interior que utilizavam Bissau como o melhor porto de saída de escravos, sobretudo oriundos de Geba. Por essa altura já havia sido desencadeada a guerra (1840) entre Fulas e Mandingas, e que viria a terminar com a derrota dos últimos, em 1853. E os vencidos nestas lutas, como era norma, foram vendidos nos mercados do interior e outras vezes levados para os portos da costa e negociados com os europeus, ou então passavam a engrossar os exércitos dos régulos e utilizados em trabalhos agrícolas e outras atividades de interesse mais direto dos chefes políticos e religiosos, designadamente no cultivo da mancarra”.
O investigador reconhece que traçou um panorama necessariamente parcelar e incompleto, teve mesmo que desistir de tentar fazer a contabilidade do número aproximado de escravos movimentados e portos onde teriam sido embarcados.
Castelo de São Jorge da Mina, construído pelos portugueses na Costa do Ouro (hoje Gana) em 1482, de onde saíram mais de 30 mil escravos rumo ao Brasil, em navios portugueses.
Foto com a devida vénia a vinteculturaesociedade
Cartaz do previsto Simpósio Internacional Cacheu Caminho de Escravos, bem procurei documentação, nada encontrei, provavelmente foi cancelado atendendo à pandemia
Foto com a devida vénia a Plataforma9
____________
Nota do editor
Último poste da série de 15 DE MARÇO DE 2023 > Guiné 61/74 - P24145: Historiografia da presença portuguesa em África (359): "Notas Sobre o Tráfico Português de Escravos", por António Carreira, 2.ª edição revista; Universidade Nova de Lisboa, 1983 (2) (Mário Beja Santos)